REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/pa10202505181452
Ediedla Frota Queiroz
Orientador: Professor Eder Raul Gomes De Sousa
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a efetividade da política de cotas de gênero prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, diante da prática reiterada de fraudes nas candidaturas femininas. Partindo de uma abordagem jurídico – dogmática, o estudo examina a evolução legislativa e jurisprudencial da cota de gênero, a construção histórica da exclusão feminina na política, bem como os obstáculos estruturais enfrentados pelas mulheres no processo eleitoral brasileiro. A pesquisa também investiga o papel da Justiça Eleitoral na fiscalização e punição das candidaturas fictícias, destacando as sanções aplicáveis e os mecanismos jurídicos para formalização de denúncias. Além disso, analisa as reações dos partidos políticos às exigências legais, identificando mudanças institucionais e iniciativas internas que buscam ampliar a representatividade feminina, ainda que muitas vezes limitadas por interesses estratégicos. O trabalho adota como premissa a defesa da democracia paritária e o entendimento de que a presença de mulheres nos espaços de poder é essencial para a justiça de gênero e o fortalecimento do regime democrático. A partir da análise de decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), doutrina especializada e documentos oficiais, conclui- se que, embora avanços tenham sido conquistados, a efetividade da cota de gênero ainda depende de maior rigor na fiscalização, de mudanças culturais dentro dos partidos e de uma atuação mais firme do Poder Judiciário no combate à fraude. Esta pesquisa é apartidária e visa, acima de tudo, reforçar a importância da inclusão das mulheres no processo político como um compromisso com os princípios da igualdade e da representatividade.
Palavras-chave: cota de gênero; candidaturas fictícias; Justiça Eleitoral; participação feminina; direito eleitoral.
ABSTRACT
This paper aims to analyze the effectiveness of the gender quota policy established in article 10, §3, of Law No. 9.504/1997, in light of the recurring practice of fraudulent female candidacies. Based on a legal-dogmatic approach, the study examines the legislative and jurisprudential evolution of gender quotas, the historical construction of female exclusion from politics, as well as the structural barriers faced by women in the Brazilian electoral process. The research also investigates the role of the Electoral Justice in supervising and punishing fictitious candidacies, highlighting applicable sanctions and legal mechanisms for filing complaints. Furthermore, it analyzes the reactions of political parties to legal requirements, identifying institutional changes and internal initiatives aimed at expanding female representation, although often limited by strategic interests. The study adopts the premise of defending gender parity democracy and the understanding that the presence of women in positions of power is essential for gender justice and the strengthening of the democratic regime. Based on the analysis of decisions by the Superior Electoral Court (TSE), specialized legal literature, and official documents, the study concludes that, despite progress, the effectiveness of gender quotas still depends on stricter oversight, cultural changes within parties, and a more assertive role of the Judiciary in combating fraud. This research is nonpartisan and primarily seeks to reinforce the importance of including women in the political process as a commitment to the principles of equality and representativeness.
Keywords: gender quota; fictitious candidacies; Electoral Justice; female participation; electoral law.
1 INTRODUÇÃO
A trajetória da mulher na política brasileira é marcada por lutas históricas, resistência e conquistas graduais diante de uma estrutura social e institucional consolidada sob fundamentos patriarcais. Durante séculos, as mulheres foram excluídas do processo político, silenciadas nas decisões públicas e confinadas ao espaço privado, sendo consideradas inaptas à vida pública e à representação política.
Foi somente após o movimento sufragista, no início do século XX, que as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto e puderam, paulatinamente, ocupar posições nos espaços de poder. Essa conquista marcou o início de uma longa jornada em busca de igualdade no cenário político nacional.
Apesar dos avanços normativos e da crescente presença feminina no debate político, a sub-representação das mulheres nos cargos eletivos ainda revela a persistência de barreiras estruturais e culturais no sistema eleitoral brasileiro. Nesse contexto, a instituição das cotas de gênero, por meio do artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, surge como uma política afirmativa voltada a garantir a presença mínima de 30% e máxima de 70% de candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais.
No entanto, a efetividade dessa medida tem sido comprometida por práticas fraudulentas, como o lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino, utilizadas apenas para o cumprimento formal da norma, sem qualquer intenção real de participação política.
O presente trabalho parte do reconhecimento de que tais fraudes à cota de gênero não apenas desrespeitam os direitos políticos das mulheres, mas também fragilizam a própria democracia representativa. A análise da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aliada à reflexão doutrinária e legislativa, revela um cenário em que o ordenamento jurídico tem buscado respostas para coibir essas práticas, responsabilizando partidos e candidatos envolvidos, além de reafirmar a importância do princípio da igualdade de gênero na política.
Dessa forma, este estudo propõe-se a examinar os aspectos jurídicos e jurisprudenciais relacionados à fraude na cota de gênero, abordando desde os fundamentos históricos e sociais da exclusão feminina até as reações institucionais e partidárias diante das exigências legais.
O objetivo é contribuir para o debate sobre a efetividade das ações afirmativas no processo eleitoral e reforçar a centralidade da equidade de gênero na construção de uma democracia mais justa e representativa. A metodologia adotada neste trabalho é de natureza qualitativa, com enfoque jurídico-dogmático, voltada à interpretação e sistematização das normas jurídicas aplicáveis à temática da cota de gênero e à participação feminina no processo eleitoral.
O estudo desenvolve-se por meio de pesquisa bibliográfica e documental, com base em legislação, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resoluções, pareceres técnicos e doutrina especializada. A abordagem é exploratória e teórica, buscando compreender a evolução normativa e jurisprudencial sobre o tema, bem como os mecanismos jurídicos disponíveis para coibir fraudes e promover a efetividade das ações afirmativas voltadas à equidade de gênero na política brasileira.
2. DO SILÊNCIO ÀS URNAS: A CONQUISTA DO VOTO FEMININO
A história da participação feminina na política brasileira é profundamente marcada por um longo percurso de invisibilidade, exclusão e resistência. Durante séculos, as mulheres foram confinadas ao espaço doméstico, sendo privadas de direitos políticos sob a justificativa de que sua “natureza” era incompatível com a esfera pública. Essa exclusão não ocorreu por acaso; foi uma consequência direta da consolidação de uma sociedade patriarcal, onde as estruturas de poder foram moldadas para sustentar a hegemonia masculina.
A frase de Simone de Beauvoir (2009, p. 14), “ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, ilustra bem essa realidade ao enfatizar que as desigualdades de gênero são construções sociais, não inevitabilidades naturais. Isso foi absorvido pelas instituições políticas e jurídicas, resultando em séculos de silenciamento das vozes femininas nos processos decisórios, negando-lhes acesso aos espaços de poder e decisão.
No Brasil, esse cenário começou a ser questionado com mais força no início do século XX, catalisado pelo movimento sufragista. A luta pelo sufrágio feminino ganhou destaque com a figura central de Bertha Lutz, uma das líderes mais proeminentes do feminismo brasileiro. Fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), Bertha não apenas organizou campanhas, mas também pressionou o governo pela concessão do direito de voto às mulheres.
A conquista desse direito foi formalizada em 1932, com o Código Eleitoral do governo de Getúlio Vargas, que, apesar de suas limitações como a concessão do voto somente a mulheres casadas com autorização dos maridos ou a viúvas e solteiras com renda própria (BRASIL, 1932), representou um marco histórico significativo.
Essa conquista, ainda que restrita, foi um grande passo em direção à expansão dos direitos femininos. Maria Berenice Dias (2020, p. 32) ressalta que “o sufrágio feminino não foi uma concessão graciosa do Estado, mas o resultado da persistente mobilização das mulheres que, mesmo à margem das estruturas políticas, encontraram meios de resistir e lutar por sua inclusão”.
Esse reconhecimento do voto feminino, que se ampliou com a Constituição de 1934, ao torná-lo um direito universal, igualou formalmente homens e mulheres no exercício do voto. Contudo, a participação feminina nas esferas de poder político continuaria limitada, revelando que o acesso ao sufrágio era apenas o primeiro passo de um caminho mais longo e complicado em direção à igualdade de fato.
A análise de Joan Scott (1995) expõe que a cidadania feminina sempre esteve em disputa, afirmando que “a inclusão das mulheres no universo dos direitos não significou, automaticamente, o rompimento das estruturas excludentes de poder”. Assim, mesmo após o reconhecimento legal do voto feminino, a presença das mulheres nas instâncias decisórias permaneceu marginal por décadas.
Essa persistente marginalização evoca a necessidade de um entendimento mais profundo sobre as barreiras culturais, sociais e institucionais que ainda hoje limitam a verdadeira equidade de gênero na política, mostrando que os desafios da inclusão feminina são tão relevantes agora quanto eram no passado.
O caminho para uma política verdadeiramente igualitária demanda mais do que legislações favoráveis; exige um processo contínuo de transformação cultural que reconheça, valorize e estimule a participação ativa das mulheres em todos os níveis de decisão. Como destaca Joan Scott (1995), “a luta pela igualdade de gênero envolve não apenas o acesso formal às instituições, mas também a desconstrução dos significados simbólicos atribuídos ao feminino, que historicamente serviram para justificar sua exclusão dos espaços de poder.”
2.1 Desigualdade De Gênero: Uma Herança Da Estrutura Patriarcal
Desde os tempos coloniais, as mulheres foram mantidas sob uma estrutura social patriarcal que as relegava a papéis limitados, subordinadas ao controle dos homens pais, maridos, irmãos e aprisionadas a dogmas religiosos que reforçavam sua invisibilidade.
O patriarcado, enquanto sistema de dominação baseado na supremacia masculina, organizava as relações sociais de forma a excluir as mulheres dos espaços de poder e decisão. Esse contexto não apenas impediu que expressassem suas opiniões e desejos, mas também as reduziu a objetos de reprodução e cuidados domésticos, desprovidas de direitos e vozes no âmbito público.
Essa estrutura social milenar, consolidou-se através da “supremacia masculina” e da sistemática subordinação das mulheres nos mais diversos âmbitos da vida familiar, político, simbólico e econômico. Essa configuração ganhou força a partir da consolidação da propriedade privada e da organização das primeiras sociedades agrárias, onde o controle sobre a linhagem e o corpo feminino se tornou essencial para a manutenção de heranças e alianças (ENGELS, 1884).
Para Lerner (2019), o patriarcado não é uma ordem natural, mas uma construção histórica complexa, reforçada por instituições sociais e religiosas ao longo dos séculos. Essa visão é complementada por Beauvoir (2009), que argumenta que a mulher foi historicamente posicionada como “o outro” em relação ao homem, condição que justifica sua exclusão dos espaços de poder.
A lógica patriarcal foi progressivamente institucionalizada por meio de sistemas legais, religiosos e culturais que consolidaram a centralidade do homem como detentor do poder e da autoridade. Ás mulheres foram atribuídas funções restritas à esfera privada, sobretudo, ligadas ao cuidado doméstico e à obediência, perpetuando uma divisão sexual do trabalho e da autoridade social.
De acordo com Lerner (2019), o patriarcado não surgiu de forma natural ou inevitável, mas como uma construção histórica resultante de processos sociais que estruturaram a desigualdade de gênero como um elemento funcional das primeiras organizações sociais hierarquizadas.
Exemplos emblemáticos dessa estrutura podem ser encontrados no Código de Hamurábi (século XVIII a.C.), que tratava as mulheres como propriedade dos homens, assim como no direito romano, que conferia ao pater familias poder absoluto sobre todos os membros da família.
Desse modo, o Código de Hamurábi ilustra a condição subordinada da mulher sob o poder masculino na sociedade antiga. Um exemplo paradigmático é a Lei 128, que estipula: “Se um homem tomar uma mulher por esposa, mas não fizer com ela um contrato formal, essa mulher não é esposa dele” (HAMURÁBI, 2004, Lei 128). Tal preceito evidencia que a mulher somente adquiria legitimidade na relação conjugal através do reconhecimento e das formalizações implementadas pelo homem, refletindo sua condição de objeto nas dinâmicas jurídicas e civis.
Adicionalmente, a Lei 129 reforça essa concepção ao dispor: “Se um homem tomar uma esposa e esta tiver um filho, e ele não tiver dado a ela o seu valor, essa mulher não pode ser despedida” (HAMURÁBI, 2004, Lei 129).
Este dispositivo evidencia que a condição da mulher estava vinculada ao reconhecimento financeiro e à autorização masculina, destacando a fragilidade de sua posição dentro da estrutura familiar e social. Assim, a permanência da mulher em sua posição conjugal estava dependente de critérios estabelecidos pelo homem, revelando uma patente assimetria de poder.
Essas disposições exemplificam claramente como a codificação do patriarcado se manifestava nas relações sociais cotidianas, reforçando a dependência da mulher em relação ao homem e o controle exercido sobre suas interações e direitos.
O tratamento legal das mulheres como propriedade, bem como a exigência de um contrato formal para a validação de suas relações familiares, elucidam a natureza opressiva das estruturas de poder que perpetuavam a desigualdade de gênero na Antiguidade. Assim, essas normas legais fornecem um contexto histórico fundamental para compreender as raízes da subordinação feminina.
Tais referências ilustram a natureza profundamente enraizada do patriarcado nas instituições sociais. Como observa Gerda Lerner (2019, p. 56), “os primeiros códigos legais que nos chegaram, como o Código de Hamurábi, tratavam as mulheres como propriedade de seus pais ou maridos. […] O poder do pater familias na Roma antiga expressava um domínio completo sobre a esposa, os filhos e os escravizados”.
E, ainda, como destaca Mary Beard (2018), a exclusão das mulheres do poder remonta à Antiguidade clássica, onde estruturas políticas e narrativas culturais foram moldadas para silenciar e desautorizar a presença feminina no espaço público. Segundo a autora, “as vozes das mulheres eram vistas como intrusas na arena pública desde os primeiros tempos da cultura ocidental” (BEARD, 2018, p. 23), reforçando o patriarcado não apenas como um sistema jurídico e familiar, mas também simbólico.
A análise desses sistemas revela como a dominação masculina foi institucionalizada desde os primórdios da civilização, servindo de base para a construção de uma ordem social desigual que se perpetua, sob diferentes formas, até os dias atuais.
No Brasil, a persistência de instrumentos legais restritivos é evidente até períodos relativamente recentes. O Código Civil de 1916, por exemplo, conferia às mulheres a condição de relativamente incapazes, o que implicava a necessidade de autorização do pai ou do marido para a realização de uma série de atos da vida civil, incluindo a celebração de contratos e a administração de bens. A configuração legal refletia uma profunda subordinação feminina e uma desigualdade marcante nas relações patrimoniais e familiares. Como destaca Denise Pinheiro (2021, p. 299);
No Brasil, podemos observar que instrumentos legais limitantes perduraram até recentemente. O Código Civil de 1916 considerava as mulheres relativamente incapazes, necessitando da presença do pai ou marido para praticar diversos atos da vida pública. Isso só mudou em 1962, com o advento do Estatuto da Mulher Casada, que alterou a definição de família, incluindo a mulher nas decisões; desse jeito, ela passa a ter voz, inclusive no até então denominado pátrio poder. Em 1977, conquistou-se avanço com a Lei do Divórcio, permitindo a dissolução da sociedade conjugal e a possibilidade na mudança de nome, importante para a manutenção da identidade feminina. […] (Mendes, 2023, p.297)
Portanto, a cultura de subserviência aos homens, portanto, esteve enraizada no inconsciente coletivo da maioria das mulheres e perpetuava-se nas leis, normas e até mesmo na educação materna aos seus filhos. Os homens eram livres para gerir suas vidas, mantinham o papel de destaque na sociedade, eram vistos como provedores da casa, reprodutores, intelectualmente superiores e somente eles tinham a capacidade para ocupar os cargos de decisão, inclusive de votar.
Já as mulheres, foram designadas por “Deus” a servir à família, destinadas às tarefas domésticas, regadas de moral, pudor que decorrem de sua baixa intelectualidade, portanto, eram o elemento secundário da sociedade.
O patriarcado, portanto, fundamentou não apenas a dinâmica familiar, mas também modelou a sociedade como um todo, perpetuando ideias de que a moral e a conduta feminina deveriam obedecer às normas impostas pelo homem, limitando a autonomia delas. Ao explicarem o sistema patriarcal Narvaz e Koller (2006) assim se expressaram:
Cabe destacar que o patriarcado não designa o poder do pai, mas o poder dos homens, ou do masculino, enquanto categoria social. O patriarcado é uma forma de organização social na qual as relações são regidas por dois princípios básicos: 1) as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens e, 2) os jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. A supremacia masculina ditada pelos valores do patriarcado atribuiu um maior valor às atividades masculinas em detrimento das atividades femininas; legitimou o controle da sexualidade, dos corpos e da autonomia femininas; e, estabeleceu papéis sexuais e sociais nos quais o masculino tem vantagens e prerrogativas (Millet, 1970; Scott, 1995 apud NARVAZ; KOLLER, 2006, P.50).
A noção de patriarcado continua a impactar a percepção das mulheres sobre sua participação nos cargos de poder. Apesar de avanços na legislação e na criação de instituições de apoio, a discriminação persiste, limitando a atuação política feminina.
Essa internalização do machismo faz com que muitas mulheres hesitem em se envolver ativamente nas eleições, até mesmo na escolha de seus candidatos. Tais inquietações não apenas refletem uma continuação da opressão histórica, mas também demonstram a necessidade urgente de desconstruir esses padrões de pensamento.
É essencial que, além de reconhecer as conquistas já alcançadas, as mulheres continuem a lutar contra as barreiras do patriarcado vigente, promovendo uma educação crítica que incentive novas gerações a se envolverem na política e a reivindicarem seus direitos.
A história das mulheres no Brasil é marcada por resistência e luta constante; por isso, deve-se apoiar e fortalecer essas vozes, para que a participação feminina no processo eleitoral não apenas aconteça, mas seja celebrada como um direito inalienável. A mudança não virá apenas de legislações, mas sim da transformação cultural e social que envolve a desconstrução de mitos patriarcais e a afirmação da autonomia feminina.
2.2 O Patriarcado Também Veste Saia: Obstáculos Invisíveis À Representação Feminina
A lógica patriarcal não se sustenta unicamente por meio da dominação direta do homem sobre a mulher, mas também se perpetua através da profunda internalização em estruturas sociais, culturais e subjetivas.
O patriarcado opera como um sistema difuso de poder que disciplina os corpos, regula condutas e molda identidades, sendo, muitas vezes, reproduzido pelas próprias mulheres. Conforme argumenta Michel Foucault, o poder moderno não se encontra centralizado; ao contrário, ele é disperso em múltiplos pontos do tecido social. Essa característica implica que sua manutenção não depende exclusivamente da imposição externa, mas também da adesão voluntária e da vigilância mútua entre os próprios sujeitos.
Nesse contexto, o controle do corpo feminino não se limita à dominação masculina; ele pode ser exercido também por mulheres contra outras mulheres, reforçando assim padrões normativos de feminilidade, moralidade e comportamento. Este fenômeno evidencia um caráter intrínseco da cultura patriarcal, que não apenas coage, mas também incute valores que fazem com que mulheres desempenhem papéis de vigilância e controle em relação às suas pares.
Silvia Federici reflete a complexidade da dinâmica patriarcal, evidenciando que a opressão das mulheres não se dá unicamente por meio de mecanismos de dominação impostos pelo homem, mas também pela internalização e perpetuação de normas sociais por parte das próprias mulheres.
Esta “cumplicidade involuntária” revela como as estruturas patriarcais se enraízam nas práticas diárias e nas concepções de mundo das mulheres, que muitas vezes, sem perceber, atuam como agentes da continuidade das normas que as subjugam. A autora assim define;
O patriarcado não se sustenta apenas pela força dos homens, mas pela cumplicidade involuntária de mulheres que, moldadas por essa estrutura, assumem papéis de reprodução e fiscalização das normas que as oprimem.” — Silvia Federici (2017, p. 34).
A reflexão de Federici é fundamental para compreender a natureza capilarizada do patriarcado, no qual o controle e a vigilância não estão limitados à ação masculina, mas também se manifestam na adesão das mulheres a expectativas sociais e comportamentais normativas.
Assim, torna-se imperativo reconhecer que a desconstrução dessa estrutura de opressão exige não apenas o questionamento dos papéis atribuídos pelos homens, mas também uma crítica aos padrões internalizados que as mulheres perpetuam.
Outro ponto, é a perpetuação dos paradigmas patriarcais não ocorre apenas por meio de imposições externas, mas frequentemente se manifesta na esfera doméstica, especialmente na forma como as mulheres, muitas vezes de maneira inconsciente, educam seus filhos a partir de valores e papéis de gênero tradicionais. Embora sejam historicamente vítimas de opressão, muitas mães, inseridas em um contexto cultural imbuído de machismo estrutural, acabam por reproduzir normas que reforçam a supremacia masculina e a submissão feminina.
Esse fenômeno se expressa, por exemplo, quando se exige que meninas se comportem de maneira mais contida, sensível e responsável, enquanto aos meninos é concedida maior liberdade, agressividade e autonomia. Essa diferenciação nas expectativas de comportamento cria um ambiente que não apenas dar segmento a desigualdade de gênero, mas também limita o potencial de ambas as crianças, condicionando suas identidades e suas relações interpessoais.
Como observa Silvia Federici (2017), o fortalecimento do patriarcado se realiza precisamente ao se naturalizar no cotidiano, enraizando-se nas práticas educativas e afetivas que moldam a subjetividade desde os primeiros anos de vida. Essa interiorização de normas e expectativas de gênero é fundamental para a compreensão de como a opressão é mantida ao longo das gerações, tornando a luta pela igualdade de gênero uma tarefa que transcende a esfera pública e institucional.
Verifica-se que essa ordem social hierarquizada desempenhou um papel central na formação da identidade feminina, restringindo-a a estereótipos associados à fragilidade, emotividade e incapacidade decisória. Como bem aponta Denise Pinheiro Santos Mendes;
Ao analisar a história verificamos que o patriarcado refletiu na construção da mulher como ser social, vista como o sexo frágil, emotivo, com capacidades limitadas para tomar decisões analíticas e racionais, não raro dependendo da validação de um homem para ser levada a sério. (Mendes, 2023, p.299)
A análise proposta por Denise Pinheiro evidencia que o patriarcado não apenas regulou externamente o lugar da mulher na sociedade, mas também moldou profundamente sua autoimagem e percepção de valor.
Ao ser constantemente representada como frágil, emocionalmente instável e incapaz de decisões racionais, a mulher foi levada a internalizar essas características como inerentes à sua identidade. Essa internalização reforça o ciclo de dominação, pois a dependência da validação masculina torna-se parte da subjetividade feminina, dificultando o exercício pleno de sua autonomia.
Assim, os princípios patriarcais e machistas deixam de ser apenas estruturas externas de opressão e passam a operar no interior das mulheres, demonstrando que a emancipação feminina exige não apenas mudanças institucionais, mas também um processo profundo de reconstrução identitária.
Nesse contexto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em março de 2024, publicou a terceira edição do estudo Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Este relatório, alinhado ao Conjunto Mínimo de Indicadores de Gênero (CMIG) proposto pelas Nações Unidas, oferece uma análise abrangente sobre as condições de vida das mulheres brasileiras em diversas áreas. Principais destaques do estudo:
- Educação: As mulheres brasileiras apresentam níveis educacionais superiores aos dos homens. Em 2022, 21,3% das mulheres com 25 anos ou mais tinham ensino superior completo, comparado a 16,8% dos homens.
- Mercado de trabalho: Apesar da maior escolaridade, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho permanece inferior à masculina. Em 2019, 54,5% das mulheres com 15 anos ou mais estavam na força de trabalho, em contraste com 73,7% dos homens.
- Trabalho doméstico e cuidados: As mulheres dedicam quase o dobro do tempo que os homens às tarefas domésticas e cuidados de pessoas. Em 2019, foram 21,4 horas semanais para as mulheres contra 11,0 horas para os homens.
- Desigualdades raciais: Mulheres pretas ou pardas enfrentam maiores desigualdades, com menor acesso à educação e ao mercado de trabalho, além de serem mais afetadas pela pobreza.
- Participação Política das Mulheres: Apesar dos avanços em diversas áreas, a presença feminina na política brasileira ainda é limitada. As mulheres representam uma parcela significativa da população, mas sua representação nos cargos eletivos permanece desproporcional. Essa sub-representação reflete barreiras estruturais e culturais que dificultam o acesso das mulheres aos espaços de poder e decisão. (grifei)
Os dados divulgados pelo IBGE revelam não apenas as desigualdades estruturais que ainda persistem, mas também os efeitos profundos da internalização de normas machistas na trajetória feminina. Ao apontar disparidades significativas em áreas como educação, mercado de trabalho e acesso à saúde, o estudo evidencia os múltiplos obstáculos enfrentados pelas mulheres na sociedade brasileira.
Especialmente no que se refere à sub-representação das mulheres em cargos políticos, a pesquisa escancara como a construção social da mulher enquanto sujeito passivo, dependente e emocionalmente incapaz continua operando como obstáculo silencioso à sua plena inserção nos espaços de decisão
Essa autoimagem, moldada historicamente por valores patriarcais, despotencializa o engajamento político feminino, tanto pela reprodução de inseguranças quanto pela resistência institucional à presença de mulheres em posições de poder. Desse modo, o relatório do IBGE confirma que a luta por equidade não é apenas jurídica ou legislativa, mas também simbólica e subjetiva.
Tais dados, ainda, evidenciam a persistência de profundas desigualdades de gênero na sociedade brasileira, reforçando a urgência de políticas públicas eficazes que não apenas promovam a equidade entre homens e mulheres, mas também assegurem o empoderamento feminino em todas as dimensões da vida social, política e econômica.
Neste cenário, em síntese verifica-se que as estruturas patriarcais e o machismo, internalizados de forma profunda ao longo de processos históricos e culturais seculares, moldaram um padrão mental coletivo que, mesmo nos dias atuais, continua a reproduzir – muitas vezes de maneira velada ou sob discursos aparentemente neutros – a discriminação de gênero. Como destaca Mendes (2021);
As estruturas patriarcais e o machismo, reproduzidos ao longo de milênios e passados de geração em geração, geraram um padrão mental difícil de transpor e que reproduz , ainda que veladamente e sob argumentos mais dissimulados, a discriminação de gênero. Quebrar esse padrão mental é essencial para uma efetiva igualdade de gênero nas práticas e discursos sociais, e essa mudança se inicia em um processo de revisão da consciência e na educação, desde a mais tenra idade de meninos e meninas, de que a característica biológica feminino e masculino não é e jamais pode ser um limitador ou estabelecer uma hierarquia do potencial humano na sociedade. (Mendes, 2021, p.p. 299 e 300) (grifei)
A autora ressalta a importância de que as distinções biológicas entre os sexos não devem jamais servir de base para estabelecer limites ou definir hierarquias em relação ao valor humano ou ao potencial de cada indivíduo. Ou seja, é necessário desconstruir concepções arraigadas que associam capacidades ou papéis sociais a critérios exclusivamente biológicos, muitas vezes reforçados em ambientes familiares, escolares e midiáticos.
Ainda que mudanças legais representem conquistas fundamentais, elas não garantem, por si só, a superação das práticas e mentalidades excludentes. Os mecanismos sociais e culturais que perpetuam a exclusão feminina costumam ser sutis, manifestando-se nos detalhes do cotidiano e nas oportunidades desiguais de ascensão a espaços de decisão, especialmente no campo político e institucional. Essa dinâmica revela que a igualdade formal, prevista em diversas legislações, ainda carece de efetividade prática.
Em síntese, reconhecer e enfrentar as raízes históricas e culturais do machismo constitui um passo essencial para a construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária. Avançar rumo à justiça de gênero exige mais do que reformas legislativas — demanda uma transformação profunda de valores, atitudes e práticas sociais. Tal mudança só é possível por meio de uma educação comprometida com o respeito, a equidade e a valorização de todas as pessoas, independentemente de seu gênero.
Portanto, transformar mentalidades é um processo gradual, mas indispensável, e implica desafiar narrativas tradicionais que historicamente restringiram o potencial humano de meninas e mulheres.
Ao compreendermos que a equidade e a justiça social estão intrinsecamente ligadas à superação dessas estruturas, podemos, enfim, vislumbrar um futuro em que meninas e mulheres sejam realmente livres para ocupar todos os espaços a que têm direito, em condições de igualdade e dignidade.
2.3 Movimento Feminista Sufragista E A Conquista Do Direito Ao Voto.
No Brasil, a exclusão das mulheres da vida política e social esteve historicamente ancorada em uma lógica patriarcal, que as destinava quase que exclusivamente ao espaço doméstico e às funções de cuidado. Essa mentalidade restringiu severamente a participação feminina na esfera pública, impedindo que mulheres exercessem qualquer influência significativa nos rumos da sociedade.
A Constituição de 1891 foi um marco dessa institucionalização da desigualdade ao limitar explicitamente o direito ao voto aos “cidadãos do sexo masculino”. Essa medida não apenas excluiu as mulheres dos processos decisórios, como também reforçou juridicamente a ideia de sua inferioridade e subordinação ao homem.
Apesar de todos os obstáculos, o início do século XX assistiu ao surgimento de movimentos organizados por mulheres em diversas regiões do país. Esses grupos começaram a articular demandas por direitos civis, políticos e sociais, inspirados pelas lutas feministas europeias e norte-americanas.
Tais manifestações representaram o embrião do feminismo brasileiro, evidenciando uma tensão crescente entre o confinamento feminino ao espaço privado e o desejo de emancipação. Como destaca Araújo (2001), a atuação dessas mulheres revelou uma busca consciente pela superação das barreiras simbólicas e materiais impostas à sua cidadania.
Além das restrições legais, as pioneiras do movimento feminista no Brasil também enfrentaram intensos processos de invisibilização social. Muitas vezes, suas demandas eram ridicularizadas ou tratadas como desvio de conduta, dificultando a mobilização coletiva. Conforme observa Buarque de Hollanda (2018), essas mulheres desafiaram tanto resistências institucionais quanto o preconceito social, questionando abertamente o papel que lhes era reservado e abrindo caminho para futuras conquistas.
Cumpre mencionar que os períodos colonial e imperial do Brasil foram caracterizados por um sistema eleitoral excludente, voltado prioritariamente à manutenção do poder nas mãos de uma elite econômica e social restrita. O modelo vigente baseava-se no voto censitário, segundo o qual apenas homens com determinada renda ou propriedade podiam exercer o direito ao voto.
Esse sistema excluía a ampla maioria da população especialmente os pobres, as mulheres e os escravizados do processo político. Tal estrutura não apenas limitava o acesso democrático, mas também reforçava as desigualdades sociais e políticas da época.
Como apontam Nicolau (2002) e Carvalho (2008), o sistema era profundamente permeado por irregularidades e fraudes, entre as quais se destaca o voto por procuração, que permitia a transferência do direito de voto a terceiros sem mecanismos confiáveis de verificação. Essa prática comprometia a legitimidade do processo eleitoral e favorecia a manipulação por parte das elites locais, consolidando um cenário político excludente e controlado.
Convém mencionar que, considerando a evolução histórica da luta dessas mulheres, a promulgação da Constituição de 1891 representou um marco na política do Brasil ao extinguir oficialmente o voto censitário, que até então havia restringido o exercício do sufrágio a uma elite econômica e letrada. A Lei Maior de 1891¹ passou a dispor sobre o voto da seguinte maneira:
Art. 70 – São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.
§ 1° – Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados:
1°) os mendigos;
2°) os analfabetos;
3°) as praças de pré, excetuando os alunos das escolas militares de ensino superior;
4°) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual.
§ 2° – São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. (BRASIL, 1891)
Com a Proclamação da República em 1889, iniciou-se uma nova fase de reestruturação institucional voltada à adoção de valores republicanos e democráticos. No entanto, a nova Carta Constitucional, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, estabeleceu o sufrágio direto para homens alfabetizados, ainda que mantivesse restrições significativas — como a exclusão das mulheres, analfabetos, religiosos sujeitos à obediência e membros das forças armadas de baixo escalão.
Durante séculos, a participação feminina na vida política era praticamente inexistente, a justificativa era baseada em argumentos culturais, religiosos e pseudocientíficos de que as mulheres seriam intelectualmente inferiores aos homens e, portanto, incapazes de exercer plenamente sua cidadania.
O cenário começou a mudar com as ondas do feminismo que emergiram no século XIX, primeiramente nos Estados Unidos e na Europa. Deu-se nome a estas ondas de movimentos sufragistas, e foram organizados por mulheres que realizavam manifestações, escreviam artigos e promoviam debates em busca de reconhecimento político.
No Brasil, destacam-se nomes como Bertha Lutz, que fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922, e lutou ativamente pela inclusão das mulheres na vida política. Após anos de luta e engajamento, finalmente em 1932, com o Código Eleitoral, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto – embora, inicialmente, de forma restrita e facultativa.
A conquista do direito ao voto em 1932, ocorreu por meio do Decreto 21.076/1932, do então presidente Getúlio Vargas, e representou não apenas uma vitória política, mas uma validação da luta coletiva empreendida por gerações de mulheres. Assim dispôs:
DECRETO Nº 21.076, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1932
Decreta o Código Eleitoral.
O Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil
Decreta o seguinte:
CÓDIGO ELEITORAL
PARTE PRIMEIRA
Art. 1º Este Codigo regula em todo o país o alistamento eleitoral e as eleições federais, estaduais e municipais.
Art. 2º E’ eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na fórma deste Codigo. (Grifo nosso)
Portanto, o sufragismo no Brasil representa uma etapa crucial na história da luta das mulheres por igualdade de direitos. Este movimento foi marcado por décadas de resistência, estratégias políticas e mobilizações sociais que buscavam a equiparação de gênero, especialmente quanto ao direito ao voto.
A eleição de Alzira Soriano, em 1928, para a prefeitura de Lajes, no Rio Grande do Norte, marcou um ponto de inflexão na história da participação política das mulheres no Brasil. Ela se tornou a primeira mulher eleita para um cargo político no país, em um contexto no qual o sufrágio feminino ainda não era reconhecido nacionalmente. O Rio Grande do Norte havia sido o primeiro estado a permitir o voto feminino, por meio de uma interpretação inovadora da legislação estadual (LAGO, 2003).
O apoio de políticos como Juvenal Lamartine, então presidente do estado do Rio Grande do Norte, foi decisivo para essa conquista. Lamartine havia concedido o direito ao voto feminino no estado em 1927, por meio de decreto, demonstrando que as alianças políticas eram fundamentais para o avanço da causa feminina no cenário nacional (DEL PRIORE, 2017; THOMÉ, 2018).
A vitória de Alzira não foi apenas uma conquista pessoal, mas um gesto simbólico de ruptura com as normas patriarcais vigentes. Em um período em que o espaço público era reservado quase exclusivamente aos homens, sua eleição evidenciou que as mulheres podiam e deviam ocupar cargos de poder e decisão (DEL PRIORE, 2017).
Sua gestão como prefeita foi acompanhada com atenção pela imprensa nacional e por movimentos feministas da época, como a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada por Bertha Lutz. A repercussão de sua eleição funcionou como modelo de possibilidade e inspiração para outras mulheres que aspiravam à vida pública e política (THOMÉ, 2018).
Segundo Maria Aparecida de Lago (2003), Alzira enfrentou resistência tanto da elite política local quanto de parte da população, que viam sua presença no cargo como uma afronta à ordem tradicional. Ainda assim, sua atuação firme e eficiente demonstrou que as mulheres estavam plenamente capacitadas para a vida pública e política.
Alzira Soriano deve ser compreendida como um marco fundador da luta feminina pela ocupação de espaços políticos no Brasil, antecipando conquistas legislativas que viriam posteriormente, como o direito ao voto feminino em 1932, consagrado na Constituição de 1934 (COSTA, 1999).
A Constituição de 1934 consolidou o direito ao voto feminino, desta vez sem as limitações anteriores, e autorizou também que as mulheres pudessem ser eleitas para cargos legislativos. Mesmo assim, a presença feminina nas instâncias de poder permaneceu bastante tímida durante décadas.
O regime autoritário do Estado Novo (1937–1945) e, mais tarde, o período da ditadura militar (1964–1985), representaram retrocessos na participação política da população em geral, inclusive das mulheres, ao restringirem o funcionamento pleno das instituições democráticas e o exercício das liberdades civis (COSTA, 1999).
O sufrágio ao longo das décadas seguintes mostraria, ainda, que a luta pela igualdade estava longe de ser concluída. Em 1965, o voto seria estendido a todas as mulheres, tornando-se obrigatório para elas nas eleições. Em 1985, o direito ao voto finalmente foi estendido também às pessoas analfabetas, um marco na ampliação da cidadania no Brasil.
Essas conquistas, embora tardias, cimentaram um legado de resistência e determinação, ensinando que a luta pelos direitos civis e políticos é um processo contínuo, dependente de uma sociedade que precisa, constantemente, refletir sobre suas normas e valores (COSTA, 1999; DEL PRIORE, 2017).
Somente com o processo de redemocratização, iniciado em 1985, é que se ampliaram novamente as condições para o engajamento das mulheres na política institucional. A Constituição Federal de 1988 representou um avanço significativo ao garantir a igualdade de direitos entre homens e mulheres (art. 5º, I) e ao afirmar, de forma expressa, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de sexo (art. 3º, IV). A partir de então, a luta feminista passou a incorporar pautas como a criação de políticas de cotas de gênero, que visam corrigir as desigualdades estruturais que continuam a limitar o acesso das mulheres aos espaços de poder (THOMÉ, 2018; PEDRO, 2004).
Durante a redemocratização dos anos 1980, com a promulgação da Constituição de 1988, a igualdade formal entre homens e mulheres foi consagrada, garantindo às mulheres direitos políticos plenos, incluindo o direito ao voto, à candidatura e à ascensão aos cargos eletivos.
No entanto, embora a constituição tenha garantido formalmente a igualdade, na prática, as mulheres continuaram a enfrentar resistências e obstáculos significativos para acessar de maneira efetiva os espaços de poder e decisão.
O machismo estrutural e cultural permeava todas as dimensões da sociedade, incluindo a política. A cultura política brasileira continuava fortemente influenciada por valores patriarcais, e reforçavam a ideia de que elas não estavam preparadas para ocupar posições de liderança. Esse fenômeno ficou evidente no baixo número de mulheres eleitas para cargos políticos ao longo das décadas seguintes à redemocratização, mesmo com o direito ao voto e às candidaturas asseguradas.
As mulheres enfrentavam uma série de desafios, como a falta de recursos financeiros para campanhas, a escassez de apoio partidário, além de preconceitos de gênero que deslegitimavam suas candidaturas (THOMÉ, 2018; PEDRO, 2004). A invisibilidade das mulheres na política também era alimentada pela falta de representatividade nos meios de comunicação, que tendiam a dar destaque a figuras políticas masculinas, desvalorizando ou mesmo ignorando o trabalho e as conquistas das mulheres na política.
Além disso, os paradigmas machistas que sustentam a ideia de que a política é um domínio masculino, e a ausência de políticas públicas eficazes para a promoção da igualdade de gênero, continuaram a ser grandes barreiras para que as mulheres alcançassem posições de poder.
O movimento feminista e as políticas de cotas de gênero, criadas mais tarde, começaram a reverter parcialmente essa situação ao estabelecer medidas que garantem uma representatividade mínima para as mulheres nas esferas legislativas e executivas, mas o processo de ascensão das mulheres aos cargos de poder ainda se mostra uma tarefa complexa. Apesar de avanços legais, como a Lei nº 9.504/1997, que estabeleceu cotas para mulheres nas candidaturas, a real igualdade no exercício do poder ainda é um desafio, dado o contexto de discriminação estrutural e a resistência da sociedade em aceitar mulheres em posições de liderança (COSTA, 1999; DEL PRIORE, 2017).
Esse quadro revela que a luta pelas igualdades de direitos políticos das mulheres no Brasil, apesar de alguns avanços significativos, continua sendo um processo longo e difícil, que exige uma mudança profunda nas estruturas sociais e políticas.
Desse modo, a percepção de que as mulheres são aptas para o exercício da política, que elas possuem as mesmas capacidades intelectuais e de liderança que os homens, ainda enfrenta sérios obstáculos e desafios, os quais demandam uma mudança cultural e legislativa contínua.
Portanto, mais do que uma mera conquista jurídica, a inserção das mulheres na política traduz um movimento contínuo de transformação social, que desafia estruturas históricas de exclusão e silenciamento. Reconhecer o percurso do voto feminino é também reconhecer a necessidade de vigilância e ação constante para que a igualdade de direitos se efetive na prática. A presença feminina na política não é apenas um direito assegurado, mas um imperativo para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, plural e democrática, em que todas as vozes tenham espaço para influenciar os rumos do coletivo.
3 ENTRE O VOTO E O PODER: A SUB-REPRESENTAÇÃO FEMININA NA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
A participação feminina na política consolidou-se, nas últimas décadas, como uma pauta central no debate democrático contemporâneo. Isso porque a diversidade e a representatividade são reconhecidas como elementos indispensáveis para o fortalecimento de uma democracia efetivamente plural e responsiva às necessidades de toda a população.
A inclusão de mulheres na política não deve ser encarada apenas como uma medida corretiva ou uma concessão pontual, mas sim como parte essencial de um processo de transformação estrutural das instituições democráticas. Para que a democracia cumpra seu papel de refletir os anseios e necessidades da população, é indispensável que suas estruturas representem de forma fidedigna a diversidade social, étnica e de gênero existente no país.
Nesse sentido, como destacam Costa (1999) e Del Priore (2017), a presença feminina nos espaços de decisão é fundamental para romper com a lógica excludente historicamente construída e para consolidar uma cultura política mais equitativa. A efetiva participação das mulheres contribui não apenas para o aprimoramento das políticas públicas, mas também para o fortalecimento da legitimidade democrática, ao ampliar o espectro de vozes e experiências consideradas nos processos decisórios.
Contudo, a presença masculina ainda predomina nos espaços políticos, e essa realidade evidencia não apenas a baixa presença de mulheres em todos os níveis de governo da Câmara dos Deputados às Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, prefeituras e governos estaduais, mas também a persistência de barreiras estruturais que limitam o acesso feminino aos espaços de poder.
A sub-representação política das mulheres não pode ser compreendida apenas como um reflexo numérico, mas como resultado de uma cultura patriarcal arraigada, da reprodução de estereótipos de gênero e da insuficiência de mecanismos eficazes de inclusão. Esse desequilíbrio compromete a legitimidade da democracia representativa, pois exclui perspectivas fundamentais para a formulação de políticas públicas verdadeiramente equitativas.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE revelam que, nas eleições de 2022, apenas 17,7% das cadeiras da Câmara dos Deputados foram ocupadas por mulheres, apesar de elas representarem 52,65% do eleitorado brasileiro. Essa discrepância evidencia que o problema não está na ausência de eleitoras, mas nas barreiras estruturais ao acesso ao poder.
Além disso, relatório da ONU Mulheres destaca que o Brasil ocupa uma das últimas posições no ranking de representação feminina nos parlamentos da América Latina, ficando atrás de países como Bolívia, México e Argentina, que implementaram regras mais rígidas de paridade de gênero.
Dados recentes da ONU Mulheres, mais uma vez, e da União Interparlamentar (UIP) indicam que, segundo o mapa “Mulheres na Política: 2025”, atualmente, o Brasil está na 133ª colocação no ranking global de representação parlamentar de mulheres, com apenas 18,1% de deputadas federais e 19,8% de senadoras, ficando abaixo da média regional das Américas, que é de 35,4%. Além disso, um estudo conduzido pelo PNUD e pela ONU Mulheres, por meio do projeto ATENEA, analisou 40 indicadores relacionados à participação política das mulheres e posicionou o Brasil em 9º lugar entre 11 países latino-americanos avaliados, evidenciando a necessidade de avanços significativos para alcançar a paridade de gênero na política.
E ainda, segundo dados do IBGE (2024), apesar dos avanços sociais e educacionais conquistados pelas mulheres nas últimas décadas como o fato de terem, em média, maior escolaridade que os homens isso ainda não se reflete proporcionalmente em sua participação política.
Essa disparidade evidencia uma contradição fundamental: embora as mulheres estejam cada vez mais qualificadas e presentes em diversos espaços sociais, sua sub-representação na política revela um déficit de representatividade que enfraquece a legitimidade democrática. A ausência de uma participação equitativa não apenas compromete a diversidade nas instâncias decisórias, mas também impede que os interesses e necessidades de uma parcela significativa da população sejam adequadamente considerados no processo político.
Desse modo, a democracia representativa é um sistema em que os cidadãos elegem representantes que, em nome do povo, tomam decisões políticas e administram a coisa pública. Esse modelo é caracterizado pela ideia de que a soberania popular é exercida indiretamente, através da escolha de pessoas que, supostamente, representam os interesses e as opiniões da população (Bobbio, 2022).
Ressalta, o pensador italiano, que a democracia representativa se distingue de outras formas de democracia, como a democracia direta, em que os cidadãos participam ativamente das decisões políticas, sem intermediários. Na democracia representativa, a relação entre representantes e representados é fundamental, pois um dos desafios centrais dessa forma de governo é garantir que os representantes não apenas se elejam, mas também cumpram seu papel de ouvir, entender e atuar em representação dos interesses da população que os elegeu.
A esse respeito, José Jairo Gomes (2024, p. 85), bem assevera…
Indireta é a democracia representativa. Nela os cidadãos escolhem aqueles que os representarão no governo. Os eleitos recebem um mandato. A participação das pessoas no processo político, se dá, pois, na escolha dos representantes ou mandatários. A estes toca o mister de conduzir o governo, tomando decisões político-administrativas que julgarem convenientes, de acordo com as necessidades que se apresentarem. (Gomes, 2024, p.85)
O mesmo autor, Gomes, cita Ferreira Filho (2005, p.85), e reforça seu argumento em “que da eleição resulta que o representante recebe um poder de querer: é investido do poder de querer pelo todo, torna-se a vontade do todo. Esclarece o eminente jurista”:
A eleição, a escolha do representante, é, portanto, uma atribuição de competência. Nada o vincula juridicamente, à vontade dos eleitores. No máximo, reconhece-se que a moral e o seu próprio interesse o impelem a atender os desejos do eleitorado. A moral porque a eleição não se obtém sem promessas. O próprio interesse porque o tempo trará nova eleição (…)
Destarte, a democracia é um dos pilares fundamentais do Estado brasileiro, e sua forma representativa é amplamente delineada na Constituição Federal. O artigo 1º da Carta Magna estabelece que o Brasil se configura como uma República Federativa, composta pela integração indissolúvel de Estados, Municípios e do Distrito Federal. Conforme preceitua José Jairo Gomes (2024, p. 54);
A República Federativa do Brasil – impera o art. 1° da Constituição Federal – constitui-se em Estado Democrático de Direito e, entre outros, possui como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana (incs. II e III). Apresenta o Estado brasileiro, como objetivo (CF, art. 3°), a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, além da erradicação da pobreza e da marginalização, redução das desigualdades sociais e regionais, promoção do bem de todos, sem preconceito de quaisquer espécies.
A consolidação do direito à participação política foi, sem dúvida, um marco fundamental na trajetória democrática das sociedades modernas. No entanto, como observa Norberto Bobbio (2022), a efetivação da democracia não se esgota na simples existência do sufrágio universal ou na ampliação do direito de voto. Para o autor, o verdadeiro desafio das democracias contemporâneas está em compreender que a política é apenas uma parte de uma estrutura social muito mais ampla, e que as decisões políticas são profundamente condicionadas pelas dinâmicas da sociedade civil.
Assim, Bobbio diferencia a democratização do Estado expressa pela criação de parlamentos e pela garantia dos direitos políticos da democratização da sociedade, que implica estender os princípios democráticos a outras esferas do convívio social, como a família, a escola, a empresa e os serviços públicos. A crítica central está no fato de que é possível existir um Estado formalmente democrático em uma sociedade onde as estruturas cotidianas permanecem autoritárias e excludentes. Assim, ele levanta a provocativa questão: “É possível a sobrevivência de um Estado democrático numa sociedade não democrática?” (BOBBIO, 2022, p. 205).
A partir dessa reflexão, o pensador italiano propõe uma mudança de perspectiva na forma como avaliamos o desenvolvimento democrático de um país. Já não basta perguntar “quem vota?”, uma vez que o sufrágio já foi, em grande parte dos países, universalizado.
A nova questão que se impõe é: “onde se vota?”, ou seja, em quantas instâncias sociais os cidadãos têm voz ativa e poder de decisão. A democracia, nesse sentido, passa a ser entendida não apenas como um regime político, mas como uma cultura de participação e inclusão que deve atravessar todas as dimensões da vida em sociedade.
O conceito de democracia, para além de sua dimensão institucional e procedimental, precisa ser compreendido também em seu conteúdo e finalidade. Norberto Bobbio (2022) chama atenção para essa distinção ao apresentar os dois sentidos do termo: a democracia formal, que se refere à forma de governo e aos mecanismos que regem a escolha dos governantes como eleições livres, sufrágio universal e separação de poderes , e a democracia substancial, que diz respeito à realização de valores como a igualdade social e econômica.
Bobbio destaca que a mera existência de instituições democráticas não é suficiente para garantir uma sociedade justa, pois é preciso verificar se, de fato, os ideais de igualdade e inclusão estão sendo promovidos na prática.
Nessa seara, a presença ínfima de mulheres no processo eleitoral brasileiro tanto como candidatas quanto como eleitas evidencia uma lacuna entre a democracia formal garantida pela Constituição de 1988 e a democracia substancial, ainda em construção. A igualdade jurídica pode assegurar o direito ao voto e à candidatura, mas, se não houver condições reais de acesso e permanência das mulheres nos espaços de poder, a democracia permanece incompleta e fragilizada.
Como Bobbio (2022, p. 121) afirma, “o discurso sobre o significado da democracia não pode ser considerado concluído” enquanto não se enfrentar a desigualdade em seus múltiplos níveis, especialmente no que se refere ao acesso equitativo aos direitos e à participação cidadã.
É nesse ponto que se evidencia a fragilidade das democracias que, embora garantam formalmente a igualdade de direitos, como o faz a Constituição Federal de 1988 conhecida como “Carta Cidadã”, não asseguram na prática a plena participação de todos os grupos sociais nos espaços de poder, especialmente das mulheres. A baixa representatividade feminina nos cargos eletivos compromete a legitimidade da democracia, pois relativiza o ideal de igualdade substancial. Conforme dados já apresentados nesse trabalho, a presença ínfima de mulheres como candidatas e eleitas revela não apenas um desequilíbrio estatístico, mas uma distorção estrutural que impede que suas experiências e demandas sejam contempladas na formulação das políticas públicas.
De acordo com a visão de José Afonso da Silva (2000, p. 45), a democracia não se restringe à eleição de representantes. O princípio da soberania popular destaca a necessidade de uma participação mais ativa do cidadão na vida pública. A ideia é que a democracia deve ser exercida em seus diversos instrumentos, permitindo que a voz do povo ressoe não apenas nas urnas, mas em múltiplas esferas da administração pública e na formulação de políticas.
Um dos aspectos mais relevantes da Constituição Federal de 1988 é o reconhecimento de que a cidadania ultrapassa o mero direito ao voto, ela representa um marco na consolidação dos direitos no Brasil, ao incorporar não apenas as liberdades individuais clássicas, mas também uma ampla gama de direitos sociais, econômicos e culturais. Essa concepção moderna de cidadania exige que o indivíduo seja protagonista na construção da sociedade, atuando ativamente na fiscalização, proposição e cobrança de ações governamentais.
Portanto, a democracia se configura como um espaço dinâmico, que depende da participação consciente e contínua da sociedade civil para se fortalecer e se tornar verdadeiramente representativa. Como destaca Dagnino (2004, p. 98), “a construção da cidadania implica a ampliação do espaço público e o reconhecimento de novos sujeitos políticos que exigem não apenas direitos, mas também voz e visibilidade”.
Nessa perspectiva, a proposta de uma democracia participativa enfatiza que o cidadão não deve ocupar uma posição passiva diante das decisões políticas, mas sim atuar como agente ativo na construção das políticas públicas.
Essa concepção contrasta com os limites da democracia representativa tradicional, ao exigir um engajamento mais profundo, no qual os cidadãos não apenas elegem seus representantes, mas também participam diretamente da construção das decisões coletivas, da fiscalização das ações governamentais e da defesa efetiva de seus direitos.
Assim, esse conceito busca aprofundar a legitimidade democrática e promover maior inclusão social, tornando o exercício da cidadania mais efetivo e cotidiano. Como aponta Avritzer (2002), “a participação dos cidadãos nas decisões públicas é uma das formas de democratização das instituições e de fortalecimento da esfera pública”.
A compreensão e a efetividade da democracia estão intimamente ligadas à disposição do povo para participar de diversas maneiras, seja por meio de mecanismos formais, como o voto, ou informais, como protestos, debates e mobilizações sociais. Isso evidencia que a construção de um Estado democrático de direito é um esforço coletivo e contínuo, onde a ação cidadã constante é essencial para garantir a plena implementação dos direitos e o fortalecimento das instituições democráticas.
Ao considerar que a efetividade da democracia depende da participação ativa de todos os segmentos sociais, é imprescindível refletir sobre como essa participação se distribui entre os diferentes grupos da população.
Assim sendo, a análise da composição demográfica brasileira, especialmente a predominância feminina, convida à discussão sobre a representatividade política das mulheres e o quanto esse grupo, numericamente majoritário, ainda enfrenta obstáculos para ocupar os espaços de poder de forma proporcional à sua presença na sociedade.
O retrato da população brasileira, conforme as estimativas e dados do Censo Demográfico, reafirma quanto à distribuição entre os gêneros. Com 212,6 milhões de habitantes, o Brasil apresenta uma diferença significativa no número de mulheres e homens, sendo que há 6,0 milhões a mais de mulheres, o que corresponde a 51,5% da população. Essa predominância feminina reflete não apenas características demográficas, mas também questões mais profundas ligadas à saúde, segurança e estilos de vida.
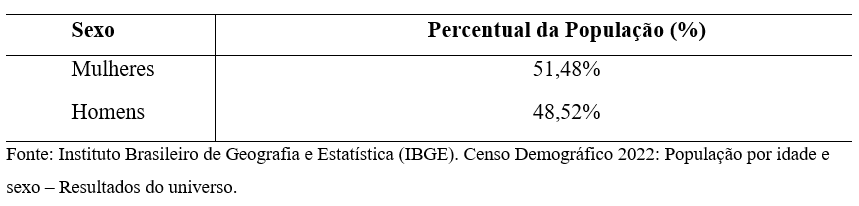
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2022: População por idade e sexo Resultados do universo.
A página TSE Mulheres, criada em 2019 pela Comissão Gestora de Política de Gênero do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é uma iniciativa fundamental para acompanhar e divulgar a participação das mulheres na política e nas eleições brasileiras. Essa plataforma não apenas oferece um panorama histórico da presença feminina em cargos eletivos, mas também serve como um recurso valioso para fomentar discussões sobre a igualdade de gênero no cenário político.
Os dados disponíveis na plataforma revelam um quadro ainda desigual, apesar do crescente número de mulheres que comparecem às urnas. Entre 2016 e 2022, as mulheres representaram em média 52% do eleitorado, indicando que elas são a maioria nas escolhas eleitorais.
No entanto, quando analisamos as candidaturas, o cenário não é tão positivo: apenas 33% das candidaturas foram apresentadas por mulheres. Esse número, ainda que cresça aos poucos, evidencia que as barreiras à participação feminina na política permanecem desafiadoras.
E, ainda, os dados das Eleições Municipais de 2024, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destacam um aspecto essencial do cenário político brasileiro: as mulheres não são apenas a maioria do eleitorado, mas também desempenham um papel crucial na formação da democracia no país. Com 81.806.914 eleitoras, que representam 52,47% do total de eleitores, as mulheres têm a capacidade de influenciar diretamente os rumos políticos das suas comunidades e do Brasil como um todo.
Por outro lado, os homens somam 74.076.997 eleitores, ou 47,51%, enquanto um pequeno percentual de 0,02%, correspondente a 28.769 pessoas, não informou seu sexo. Esses números refletem a importância das mulheres no processo eleitoral.
Portanto, à luz dos dados oficiais, esses números não apenas evidenciam a expressiva presença do eleitorado feminino, como também reforçam a urgência de garantir sua efetiva participação nos espaços de poder. No contexto de uma democracia representativa substancial que vai além da mera formalidade do voto e busca assegurar a inclusão real de diferentes grupos sociais na tomada de decisões, a presença das mulheres na política deixa de ser uma concessão e passa a ser uma exigência democrática. Representar adequadamente a maioria populacional feminina é, portanto, uma condição essencial para a legitimidade, a pluralidade e a profundidade da representação democrática.
Com maior proporção de eleitoras, é fundamental que haja uma correspondência nas candidaturas e nos cargos eletivos para que essa força se traduza em representatividade. A participação feminina nas eleições deve ser incentivada, com políticas que facilitem o acesso das mulheres a posições de liderança e decisões políticas.
Vejamos o quadro abaixo;

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Página TSE Mulheres. Disponível em: https://www.justicaeleitoral.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Abril/tse-mulheres-amplia-divulgacao-da- participacao-feminina-nas-eleicoes.
A representatividade feminina na política brasileira revela uma realidade que provoca inquietação e demanda reflexão crítica. Apesar de as mulheres comporem 52% do eleitorado, a disparidade no número de homens e mulheres em cargos eletivos é alarmante.
A persistência de padrões socioculturais discriminatórios, que reforçam estereótipos de gênero, contribui para a desvalorização das mulheres e para a ideia equivocada de que elas não possuem aptidão para governar ou liderar. Essa concepção não apenas subestima suas capacidades intelectuais e de gestão, como também limita significativamente suas oportunidades de participação ativa na esfera política.
Essa exclusão sistemática não é fruto do acaso, mas resultado de um processo histórico enraizado em estruturas de poder desiguais, que mantêm as mulheres à margem das decisões políticas.
A democracia representativa, para ser efetiva, precisa romper com esse padrão de invisibilização e incorporar de forma concreta as vozes femininas. Sem isso, o sistema político segue reproduzindo desigualdades históricas, incapaz de responder plenamente às demandas de uma sociedade plural e diversa.
Diante desse cenário, é possível afirmar que a democracia brasileira ainda está longe de ser plena. A insuficiente representação das mulheres nos espaços de poder não apenas compromete a qualidade e a efetividade das políticas públicas, como também impede avanços concretos rumo a uma sociedade verdadeiramente igualitária.
Para que a democracia se fortaleça de forma substancial, é imprescindível um compromisso coletivo com a superação das barreiras que limitam a participação política feminina, por meio da promoção de políticas afirmativas, da garantia da equidade de gênero e da desconstrução de paradigmas excludentes que ainda predominam no universo político e na sociedade como um todo.
Por fim, promover a participação feminina na política é essencial para inspirar futuras gerações de mulheres a se engajar na vida pública. É fundamental oferecer apoio, seja por meio de políticas públicas que incentivem a candidatura de mulheres a cargos eletivos, campanhas educacionais que promovam a importância dessa participação, ou redes de apoio que ajudem as mulheres a se capacitarem e se prepararem para os desafios da política.
A legislação e as medidas afirmativas como a cota de gênero prevista na Lei nº 9.504/1997 e decisões do Tribunal Superior Eleitoral têm contribuído significativamente para a inclusão feminina, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A efetiva inclusão das mulheres na política exige não apenas ajustes legais, mas uma transformação cultural e institucional mais ampla, que envolva o enfrentamento de barreiras estruturais, o combate ostensivo à violência política de gênero e a criação de mecanismos mais robustos de equidade, como a possível reserva de cadeiras nos parlamentos. Somente assim poderemos avançar em direção a uma democracia mais completa e justa, que verdadeiramente represente a diversidade da sociedade.
3.1 Desafios Da Participação Feminina Na Política: Sub-representação E Caminhos Para A Equidade
Apesar de constituírem 52% (cinquenta e dois) por cento do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda enfrentam barreiras consideráveis na conquista de espaços políticos, refletindo uma sub-representatividade alarmante nas esferas do poder.
Essa realidade evidencia a persistência de um ambiente político hostil, no qual as mulheres se deparam com dificuldades em acessar recursos, obter apoio político e conquistar a visibilidade necessária para suas candidaturas. Além disso, o terreno político, historicamente dominado por homens, se torna um campo de batalha onde as candidaturas femininas frequentemente são deslegitimadas.
Além dos desafios estruturais, como a dupla jornada e a ausência de políticas de suporte, por exemplo, há ainda um componente igualmente grave que restringe a atuação feminina: a violência política de gênero.
Esse tipo de violência não se expressa apenas por meio da exclusão simbólica ou institucional, mas também por agressões concretas físicas, psicológicas ou morais dirigidas às mulheres que se colocam em espaços de poder. A hostilidade sistemática contra candidatas e parlamentares configura mais uma face do sistema político excludente, gerando um ambiente de intimidação que afasta ou silencia muitas lideranças femininas.
Nesse cenário, apontamos o caso de Marielle Franco, que representa um marco trágico na luta contra a violência política e a opressão das mulheres, especialmente das mulheres negras, no nosso país.
Marielle Franco, uma vereadora do Rio de Janeiro e ativista dos direitos humanos, foi assassinada em 14 de março de 2018, após ter denunciado publicamente práticas de violência policial e defendido a igualdade de gênero e raça. Sua morte não foi apenas uma atrocidade contra uma vida, mas um símbolo do que a violência política realmente representa. O assassinato de Marielle expôs a realidade de ataques sistemáticos contra as mulheres na política, que não apenas lutam contra a opressão de gênero, mas também enfrentam o racismo, a homofobia e a violência. Essa intersecção de violências torna o ambiente político ainda mais perigoso, fazendo com que muitas mulheres hesitem em entrar na arena política ou se sintam ameaçadas em seu exercício de mandatos.
Muitas candidatas são alvo de ataques que não se restringem apenas a suas propostas e competências, mas se direcionam ao corpo e à sexualidade. Essa dinâmica revela uma tentativa de desvalorizar a mulher não apenas como política, mas como indivíduo, promovendo críticas à aparência, vestimentas e até a vida pessoal das candidatas.
Tal comportamento, que ocorre tanto em ambientes físicos quanto virtuais, cria uma atmosfera de intimidação que não apenas silencia as vozes femininas, mas também minam suas aspirações de exercer uma liderança eficaz.
Em dezembro de 2020, um episódio de importunação sexual envolvendo o ex- deputado Fernando Cury e a deputada Isa Penna, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), gerou grande repercussão pública. O incidente, registrado por câmeras durante uma sessão plenária, expôs as fragilidades estruturais dos espaços políticos em relação ao assédio e à segurança das mulheres.
A denúncia de Isa Penna, do PSOL, levantou questões sobre o respeito e a integridade das mulheres nas esferas de poder, refletindo a necessidade urgente de políticas eficazes que combatam a cultura de assédio nos ambientes legislativos.
O caso foi acompanhado de perto pela opinião pública e pela mídia, e o laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo confirmou que Isa Penna foi tocada durante o incidente, mas não foi possível afirmar, com certeza, se houve apalpamento dos seios. Esse episódio evidencia não apenas a persistente violência de gênero, mas também a exposição excessiva e muitas vezes humilhante das mulheres no ambiente político, onde suas ações e presença são frequentemente analisadas de forma superficial e sexualizada.
O incidente também propiciou uma reflexão mais profunda sobre a representatividade feminina na política. A presença das mulheres em posições de liderança não é apenas crucial para assegurar a diversidade de perspectivas, mas também para a proteção e promoção dos direitos das mulheres de maneira mais abrangente.
A politização da vida privada das mulheres reflete a continuidade de um machismo estrutural que se manifesta tanto nas esferas pessoais quanto nas públicas, dificultando o pleno reconhecimento e respeito pela atuação feminina na política. Essa exposição revela como as mulheres, ao adentrarem no espaço político, continuam sendo tratadas de maneira desrespeitosa, sendo constantemente desafiadas a provar sua competência em meio a um cenário repleto de estigmas e preconceitos. Esse dado, embora técnico, aprofundou o debate sobre as dificuldades jurídicas em casos de importunação sexual, revelando, mais uma vez, a falta de mecanismos claros para garantir a segurança e o respeito às mulheres no ambiente político.
Outro elemento que contribui para a sub-representatividade é a desqualificação intelectual que as mulheres sofrem, frequentemente desafiadas em suas expertises, o que se torna ainda mais evidente quando outras mulheres reproduzem esse olhar cético. Essa falta de reconhecimento afeta diretamente a autoconfiança das candidatas e suas chances de sucesso.
A dificuldade em serem vistas como capazes e especialistas em suas áreas aumenta a barreira que já é imposta pelo machismo estrutural que permeia a sociedade. Essa cultura machista não só limita o reconhecimento da capacidade, mas também cria um ambiente de competição insalubre, onde ser mulher se torna um desafio adicional.
Não podemos deixar de mencionar Dilma Rousseff, a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, uma figura emblemática em diversas frentes. Sua ascensão ao cargo de chefe de Estado, em 2011, representou um marco histórico na ocupação de posições de poder no país, simbolizando uma conquista significativa para as mulheres na política. Contudo, sua gestão foi constantemente marcada por uma série de ataques e adversidades, muitos dos quais estavam profundamente relacionados à sua condição de mulher em um ambiente político predominantemente masculino.
A desqualificação de Dilma Rousseff assumiu diferentes formas, desde críticas à sua postura em debates até ataques pessoais que reforçavam estereótipos de gênero. A tentativa de diminuir sua autoridade intelectual e política ilustra o modo como as mulheres, especialmente aquelas em posições de liderança, são frequentemente desafiadas de maneiras que refletem não apenas a oposição a suas políticas, mas também uma resistência enraizada em preconceitos de gênero.
A deslegitimação de Dilma muitas vezes se manifestava em ataques que desconsideravam suas qualificações, mesmo com o seu histórico como economista e sua experiência em cargos ministeriais. Críticas frequentes à sua capacidade de liderar eram proferidas, muitas vezes, alimentadas por um machismo estrutural enraizado na cultura política brasileira..
Apesar de seu extenso histórico como economista e sua experiência em cargos ministeriais. Críticas à sua capacidade de liderança eram frequentemente alimentadas por um machismo estrutural profundamente enraizado na cultura política brasileira.
Esse padrão é evidente quando comparamos a forma como líderes homens são tratados na esfera pública, presidentes homens, mesmo aqueles com menos experiência ou formação, frequentemente recebem um tratamento que não questiona sua competência com o mesmo fervor. A sistemática desqualificação de Dilma não apenas refletiu preconceitos de gênero, mas também reforçou a ideia de que mulheres que ocupam posições de poder precisam constantemente justificar suas capacidades.
A sistemática desqualificação de Dilma refletiu não apenas preconceitos de gênero, mas também a ideia de que mulheres em posições de poder precisam constantemente provar suas capacidades.
Portanto, essa diferença de tratamento é uma reflexão clara do viés de gênero que permeia a política, mostrando o quão difícil ainda é para as mulheres serem vistas como iguais em um espaço que historicamente as marginalizou
Ademais, a conciliação das responsabilidades familiares com a vida política se configura como um obstáculo significativo para a plena participação das mulheres na política. Em geral, elas enfrentam o desafio de equilibrar suas carreiras com as demandas domésticas, um fator que se intensifica durante as campanhas eleitorais, nas quais a dedicação exigida é extrema e as responsabilidades multiplicam-se exponencialmente.
Essa sobrecarga de tarefas, muitas vezes invisibilizada ou subestimada, impede que as mulheres participem de forma igualitária na arena política, comprometendo sua efetividade e presença. Como observa a jurista Maria Berenice Dias (2019), “a sobrecarga de trabalho doméstico e a falta de apoio institucional para conciliar as responsabilidades familiares com a vida pública são barreiras que limitam a plena inserção das mulheres no poder político.”
Diante das reflexões expostas, é evidente que a presença feminina na política ainda é marcada por múltiplos desafios que vão desde barreiras institucionais até obstáculos socioculturais profundamente enraizados.
A sub-representatividade das mulheres nos espaços de poder não reflete apenas uma distorção na democracia representativa, mas evidencia a urgência de políticas públicas e ações afirmativas que promovam condições reais de equidade.
A luta por maior participação política feminina não é apenas uma demanda identitária, mas uma exigência de justiça social e de fortalecimento democrático. Como afirma a jurista Flávia Piovesan (2017), “a paridade de gênero na política constitui um imperativo democrático e um critério de legitimidade do poder.” Assim, romper com os padrões excludentes e garantir voz e espaço às mulheres na política é um passo indispensável para a construção de um sistema político mais justo, plural e comprometido com a igualdade de direitos.
3.2 A Violência De Gênero Na Política E A Lei 14.192/2021: Avanços E Desafios
A violência de gênero no espaço político é uma das formas mais perversas de exclusão feminina. Ela se manifesta por meio de atos que visam constranger, intimidar, deslegitimar e silenciar mulheres que exercem ou pretendem exercer funções públicas. Essa violência não é apenas pessoal ou partidária: é estrutural e sistemática, afetando diretamente a qualidade da democracia.
Com o objetivo de combater essas práticas, foi sancionada a Lei nº 14.192/2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política de gênero, além de promover a participação feminina em condições de igualdade. Segundo Lopes e Vieira (2022), “a Lei nº 14.192/2021 representa um marco normativo ao reconhecer formalmente a violência política de gênero como um obstáculo à plena cidadania das mulheres, afirmando o compromisso do Estado com a igualdade de participação nos espaços de poder”.
A lei define claramente as formas de violência política, abrangendo desde agressões físicas e psicológicas até assédio e difamação, e estabelece procedimentos para que essas situações sejam investigadas e devidamente sancionadas.
Essa abordagem normativa permite que as mulheres possam se sentir mais protegidas ao se posicionarem e atuarem politicamente, contribuindo para a construção de um ambiente mais igualitário e seguro.
A tipificação da violência política de gênero é a principal inovação trazida pela Lei n. 4.192/2021, acrescentando o art. 326-B ao Código Eleitoral. Consta do referido artigo:
Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime é cometido contra mulher:
I – gestante;
II – maior de 60 (sessenta) anos;
III – com deficiência (Brasil, 2021).
Observa-se, a partir do caput do artigo, que a norma tem como objetivo proteger não apenas as mulheres que ocupam cargos políticos, mas também aquelas que se encontram em fase de candidatura.
Fica evidente, portanto, que o escopo da lei abrange tanto as condutas praticadas durante o período de campanha eleitoral quanto aquelas relacionadas ao exercício efetivo do mandato, assegurando a integridade e a participação plena das mulheres em todas as etapas da vida política.
O art. 3°, do referido diploma legal, determina que a violência política contra a mulher pode se dar por meio de ação, conduta ou omissão, em que pese o art. 326-B ao Código Eleitoral não mencione as condutas omissivas em seu caput. Vide;
Art. 3º Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher.
Parágrafo único. Constituem igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais, em virtude do sexo.
A recente inovação legislativa, nos leva a refletir acerca da intenção do legislador em proteger as mulheres, no entanto, quando defrontamos os artigos 326-B do Código Eleitoral e 359-P do Código Penal verificamos uma diferença de tratamento ao abordar cidadãos comuns, vejamos;
Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021) (grifo nosso)
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime é cometido contra mulher: (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)
I – gestante; (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)
II – maior de 60 (sessenta) anos; (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)
III – com deficiência. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)
Art. 359-P. Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional: (Incluído pela Lei nº 14.197, de 2021) (Vigência)
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (Incluído pela Lei nº 14.197, de 2021) (Vigência) (grifo nosso)
O artigo 326-B, que trata da violência política de gênero, é específico na sua intenção de proteger mulheres, refletindo a realidade desigual de suas experiências no âmbito político. Por outro lado, o artigo 359-P do Código Penal abrange qualquer cidadão, sem uma proteção específica direcionada, o que o torna mais amplo em sua aplicação, mas menos especializado nas necessidades de um grupo vulnerável.
A diferença nas definições e penalidades previstas nos dispositivos legais revela um ponto relevante de reflexão. O artigo 326-B do Código Eleitoral, introduzido pela Lei nº 14.192/2021, visa proteger mulheres contra a violência política de gênero, reconhecendo sua vulnerabilidade diante de agressões simbólicas, morais e físicas no contexto da política. No entanto, a pena estabelecida reclusão de um a quatro anos é considerada relativamente branda diante da gravidade das condutas que busca coibir.
Em contrapartida, o artigo 359-P do Código Penal, incluído pela mesma lei, estabelece uma pena mais severa, variando de três a seis anos de reclusão, além das sanções correspondentes à violência praticada. A norma, nesse caso, trata da obstrução mais ampla do exercício de função pública por meio de violência ou ameaça, independentemente do gênero da vítima.
Essa discrepância entre os dois dispositivos levanta questionamentos quanto à proporcionalidade e à eficácia da resposta penal no combate à violência política de gênero. Considerando que as mulheres são, estatisticamente, as principais vítimas desse tipo de violência, é legítimo questionar se o tratamento jurídico conferido atualmente é suficiente para desestimular tais práticas e garantir proteção efetiva às mulheres que atuam na política.
Conforme expõe Gomes (2022, p. 335), a tipificação das condutas nos diferentes códigos mostra que, embora o crime do Código Penal presuma um tratamento mais severo devido à natureza da violência física, sexual ou psicológica, a proteção das mulheres em situações de violência política deve ser igualmente robusta.
A lógica por trás desse tratamento desigual pode ser vista como um reflexo das nuances que permeiam a discussão sobre violência de gênero na sociedade, onde a vulnerabilidade das mulheres ainda enfrenta resistência em ser reconhecida e respondida de forma adequada.
Outro ponto que podemos considerar importante na Lei n. 4.192/2021, é o art. 5°, o qual altera o caput do art. 15, da lei 9096, de 19 de setembro de 1995, lei dos partidos políticos, passando a vigorar acrescido do inciso X;
“Art. 15. ………………………………………………………………………………………
X – prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher.” (NR)
Outro ponto relevante introduzido pela Lei nº 14.192/2021 é a determinação expressa contida em seu artigo 7º, que obriga os partidos políticos a adequarem seus estatutos às disposições da nova legislação no prazo de 120 dias a partir de sua publicação. O artigo 7º da referida lei dispõe:
“Art. 7º. Os partidos políticos deverão adequar os seus estatutos às disposições desta Lei no prazo de cento e vinte dias, contados da sua publicação.” (BRASIL, 2021)
Essa exigência visa institucionalizar mecanismos de prevenção e combate à violência política de gênero dentro das estruturas partidárias, promovendo uma maior responsabilidade das agremiações no enfrentamento das desigualdades que historicamente afetam as candidaturas femininas.
A adequação normativa ganha ainda mais relevância quando se observa que muitas candidatas enfrentam barreiras estruturais dentro dos próprios partidos políticos. Essas dificuldades se manifestam tanto de forma explícita quanto velada seja na alocação desigual de recursos do fundo eleitoral, no tempo de exposição na propaganda partidária, na marginalização em comícios e carreatas ou na ausência de apoio logístico durante as campanhas.
Tais práticas afetam diretamente a visibilidade e a competitividade das mulheres no processo eleitoral, revelando a importância de normas que assegurem a equidade interna nos partidos como condição essencial para uma democracia mais representativa e inclusiva. Como destaca Flávia Biroli (2018), “os partidos não são apenas veículos neutros de representação, mas espaços atravessados por relações de poder e desigualdades de gênero que precisam ser enfrentadas por meio de regulamentações efetivas e fiscalização rigorosa”.
A maioria dos partidos políticos ainda são liderados por homens, o que contribui para a perpetuação de uma dinâmica em que as mulheres se sentem sub representadas. A falta de mulheres em posições de liderança faz com que as vozes femininas sejam frequentemente ignoradas nas decisões partidárias, dificultando a promoção de candidaturas femininas.
Além disso, a cultura organizacional em muitos partidos ainda prioriza perfis masculinos para cargos de liderança, criando um ciclo vicioso em que a presença feminina é, não apenas desestimulada, mas também minimizada. Além do que, a exclusão de mulheres de comitês e espaços de decisão política também é uma prática que marginaliza ainda mais suas oportunidades de êxito nas eleições. Desse modo, ainda há muitos desafios a serem superados para que se alcance a igualdade de gênero prevista na Constituição Federal e se construa uma democracia verdadeiramente justa e representativa.
3.3 A Participação Das Mulheres No Processo Eleitoral E Os Obstáculos Criados Pelos Partidos.
A inclusão das mulheres nos espaços de poder se concretiza, principalmente, por meio do processo eleitoral. Entender como esse acesso ocorre e quais são os obstáculos enfrentados ao longo do caminho, é fundamental para a construção de uma democracia mais igualitária. Para aprofundar essa reflexão, é oportuno recorrer à análise do jurista José Jairo Gomes (2024, p. 280), que nos oferece uma importante lição sobre o tema:
No Direito Eleitoral, o termo processo assume duplo sentido: um amplo, outro restrito. Esses dois entes significativos são dotados de linguagem, método e finalidade próprios e inconfundíveis. De igual modo, ressalta Viana Pereira (2008, p.23) que, apesar dos diversos usos encontrados na doutrina, podem-se detectar duas dimensões da expressão processo eleitoral: a primeira refere-se “ao processo de formação e manifestação da vontade eleitoral”, enquanto a segunda relaciona-se ao “controle jurídico-eleitoral”, ou seja, ao controle levado a efeito pelo processo jurisdicional eleitoral. Essas duas dimensões coincidem com os sentidos amplo e restrito aludido.
Assevera, ainda o jurista José Jairo Gomes (2024, p. 280), com os seus ensinamentos acerca do tema que;
Em sentindo amplo, o processo eleitoral pode ser compreendido como espaço democrático e público de livre manifestação da vontade política coletiva. É o locus em que são concretizados direitos políticos fundamentais, nomeadamente as cidadanias ativas (ius suffragii) e passiva (ius honorum). Trata-se de fenômeno coparticipativo, em que inúmeras pessoas e entes atuam cooperativamente em prol da efetivação da soberania popular e concretização do direito fundamental de sufrágio. Mas não apenas isso: o processo eleitoral é também instrumento essencial de controle da normalidade e legitimidade das eleições e, portanto, das investiduras político-eletivas. É por ele que se perfaz a ocupação consentida de cargos político- eletivos e o consequente exercício legítimo do poder estatal. Assim, ele configura como bem jurídico próprio do regime democrático, regula a disputa pela condução do Estado e legitima a representação política. Entre as funções do processo eleitoral, destaca-se a de regular as regras do jogo da disputa pelo exercício do poder político- estatal. Para ser democrático, é preciso que o processo eleitoral possibilite que haja verdadeira competição entre todas as forças políticas presentes na comunidade, sobretudo as minoritárias; também é preciso que a disputa do pleito ocorra de forma efetiva, livre, e em igualdade de condições. (…) (grifo nosso)
O processo eleitoral brasileiro, em seu sentido mais abrangente, compreende um conjunto de fases que envolvem a organização das eleições, estendendo-se inclusive a um período subsequente à realização do pleito. Tal processo é conduzido pela Justiça Eleitoral (JE), que atua nos níveis municipal, estadual e federal, garantindo a legalidade, a transparência e a lisura dos atos eleitorais.
À Justiça Eleitoral incumbe não apenas a organização e execução das eleições, como também o exercício de atividades de fiscalização, regulamentação e julgamento no que tange aos processos eleitorais. Tais funções abrangem o controle do cumprimento da legislação eleitoral vigente, a análise e julgamento das contas de campanha de partidos políticos e candidatos, bem como o processamento de eventuais demandas judiciais relacionadas ao processo eleitoral.
Nesse cenário, o processo eleitoral se consolida como um bem jurídico essencial ao regime democrático, pois regula a disputa pelo controle do Estado e confere legitimidade à representação política (Gomes, 2024).
Esclarece-se que é por meio das eleições que se estabelece a conexão entre a vontade popular e o exercício do poder, garantindo que os governantes sejam escolhidos de forma legítima e responsável. Esse mecanismo, além de assegurar alternância no poder, oferece à população a oportunidade de avaliar e julgar periodicamente os rumos da administração pública. (Schlickmann, 2018)
Desse modo, a Constituição Federal, em seu artigo 14, §3º, inciso V, estabelece a filiação partidária como condição de elegibilidade, tornando evidente o papel indispensável dos partidos políticos no processo eleitoral, e consequentemente, no sistema democrático brasileiro.
A exigência constitucional da filiação partidária como condição de elegibilidade reforça essa centralidade, demonstrando que a participação política se dá, necessariamente, por meio das organizações partidárias.
Assim, a conexão entre a vontade popular e o exercício do poder passa, inevitavelmente, pelos partidos, que funcionam como mediadores institucionais entre o eleitor e os cargos eletivos, sendo essenciais para assegurar o funcionamento do sistema democrático e a efetiva representatividade no processo eleitoral.
O artigo 87 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) reforça a centralidade dos partidos políticos no processo eleitoral brasileiro ao dispor que somente podem concorrer às eleições os candidatos devidamente registrados por agremiações partidárias. O artigo 87 do Código Eleitoral estabelece:
“Art. 87. Somente poderão concorrer às eleições os candidatos registrados por partidos políticos, nos termos da legislação vigente.”
Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do período de 6 (seis) meses antes da eleição.” (Brasil, 1965) (grifei)
Esse dispositivo destaca a importância dos partidos como intermediários indispensáveis no processo eleitoral, reforçando o papel das agremiações partidárias no registro de candidaturas e na organização do pleito. Fica comprovada a natureza representativa do sistema político nacional, no qual os partidos funcionam como intermediários indispensáveis entre o cidadão e o poder público. Além disso, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que nenhum registro será admitido fora do prazo de seis meses antes da eleição, o que garante previsibilidade, organização e segurança jurídica ao processo.
Schlickmann destaca que os partidos também cumprem uma função estratégica ao estruturar as bases populares que desejam se manifestar dentro da democracia. (2018). Outro ponto é que eles não são apenas mecanismos formais para disputar eleições, mas também canais por onde a população pode organizar suas pautas e reivindicações.
Portanto, o papel das agremiações partidárias na democracia é essencial, pois são elas que tornam possível o exercício pleno dos direitos políticos tanto o voto quanto a candidatura. Esses direitos são pilares da democracia representativa, pois asseguram que a vontade popular seja expressa e levada às instâncias decisórias do Estado. Os partidos funcionam como espaços onde diferentes correntes de opinião se reúnem, refletindo a diversidade social e política da sociedade. Essa pluralidade é indispensável para que o processo eleitoral seja mais inclusivo e representativo.
Durante o ciclo eleitoral, a agremiação assume a responsabilidade de organizar, preparar e lançar candidaturas. Eles formam lideranças, constroem plataformas políticas e escolhem os nomes que disputarão os cargos em jogo. Esse processo seletivo é de grande importância, pois os partidos atuam como intermediários entre a sociedade e o poder público.
A qualidade dos representantes eleitos, portanto, está diretamente relacionada à seriedade e à estrutura das agremiações que os indicam. Sem partidos fortes e coerentes, a representação política tende a se enfraquecer.
Conforme assevera José Jairo Gomes (2024, p. 289), para que um cidadão possa se candidatar, é necessário que ele esteja filiado a um partido político há, no mínimo, seis meses antes da eleição. Exceções a essa regra se aplicam apenas a determinadas categorias, como militares, magistrados, membros dos Tribunais de Contas e do Ministério Público, cujas circunstâncias de elegibilidade seguem critérios específicos. E ainda, o jurista destaca que;
Em princípio, todos os filiados à agremiação possuem o direito subjetivo político de participar do certame. Entretanto, quase sempre há mais interessados que lugares a preencher. Deve-se, pois, encontrar um método transparente e democrático para a escolha daqueles que contarão com a necessária indicação do partido para se tornarem candidatos e concorrerem oficialmente ao pleito. Da interpretação sistemática dos arts. 8º, caput e §2º, e 11, §1º, I, ambos da Lei 9.504/97, bem como dos arts. 15, VI, e 51, estes da Lei nº 9.096/95, impõe-se concluir que a escolha deverá ser feita pela convenção partidária. Convenção é a instância máxima de deliberação do partido político. Consubstancia-se na reunião ou assembleia formada pelos filiados – denominados convencionais – e tem entre suas finalidades a de escolher os candidatos que disputarão as eleições e decidir sobre a formação de coligação com outras agremiações. (2024, p.289)
Contudo, mesmo nesses casos, o pedido de registro de candidatura deve ser realizado por meio de um partido político. Isso porque o artigo 11, §14, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) estabelece de forma expressa a vedação ao registro de candidatura avulsa, mesmo que o requerente possua filiação partidária. O referido dispositivo legal dispõe que:
“§ 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente seja filiado a partido político.” (BRASIL, 1997)
Dessa forma, a legislação brasileira mantém o monopólio partidário sobre as candidaturas, reforçando o papel institucional dos partidos na estrutura democrática.
Portanto, após compreendermos o funcionamento do processo eleitoral e a centralidade dos partidos políticos no registro de candidaturas, torna-se evidente a ínfima ocupação de cadeiras no Poder Legislativo por mulheres. Essa realidade reflete a histórica exclusão feminina da participação política, que ainda hoje se perpetua no interior das agremiações partidárias.
Nesse contexto, como destaca Junqueira (2022, p. 101);
Diante desse fato, gerador de evidente e injusto desequilíbrio no número de mulheres integrantes das casas legislativas, o legislador ordinário veio a criar a chamada ação afirmativa, que consiste na criação de uma política pública, em princípio, temporária enquanto persistir sua motivação, com vistas a corrigir injustiças, desigualdades e desequilíbrios históricos existentes na sociedade. (Junqueira, 2022, p.101).
Considerando o papel central que os partidos políticos exercem em todas as etapas do processo eleitoral da definição das candidaturas até a condução das campanhas, essas agremiações figuram como os principais agentes responsáveis pela promoção da inclusão de mulheres na política.
Desse modo, ao lançar candidaturas femininas fictíciaspopularmente conhecidas como “laranjas”, os partidos políticos não apenas violam o espírito das normas de ação afirmativa, como também se desviam de sua função social.
Tal conduta caracteriza-se como abuso de direito, na medida em que distorce os instrumentos legais voltados à promoção da equidade de gênero, comprometendo a legitimidade do processo eleitoral. Nos termos do artigo 187 do Código Civil, configura-se “abuso de direito toda ação que, embora formalmente amparada pela legalidade, extrapola os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes e pela função social do direito”. (Brasil, 2015)
No caso do abuso de poder partidário no preenchimento das cotas de candidaturas, verifica-se que ele se concretiza na medida em que o detentor do poder o partido político ou coligação exerce de forma fraudulenta os recursos à sua disposição, especialmente as candidaturas femininas, com o objetivo de obter vantagens eleitorais indevidas, como a viabilização de candidaturas masculinas. Tal prática, além de afrontar diretamente a legislação eleitoral vigente, compromete o processo democrático ao restringir a liberdade de escolha do eleitorado, que deixa de ter acesso às candidaturas femininas legítimas, aptas a representar suas perspectivas.
Como destaca José Jairo Gomes (2022, p. 435), “há abuso de poder sempre que o agente, mediante conduta ilegítima e reprovável, influencia a vontade do eleitor de modo a comprometer a legitimidade do pleito”. Assim, a fraude às cotas de gênero, ao manipular artificialmente a composição das candidaturas, constitui evidente violação à normalidade e à legitimidade das eleições.
O Tribunal Superior Eleitoral tem se posicionado com firmeza em relação ao tema. No julgamento do AgR-REspe nº 0601365-92.2020.6.13.0281/MG, de relatoria do Ministro Sérgio Banhos, o TSE decidiu pela cassação de todos os candidatos eleitos pela legenda, ante a comprovação de fraude à cota de gênero, ressaltando que “a prática de lançar candidaturas fictícias para cumprir formalmente a cota legal representa abuso de poder e fraude que compromete a legitimidade do pleito”.
Outro precedente relevante é o Recurso Especial Eleitoral REspe nº 0602106- 92.2018.6.11.0000/MT, relatado pela Ministra Rosa Weber, no qual o TSE reconheceu a fraude à cota de gênero e determinou a cassação de toda a chapa proporcional. A Corte reafirmou que “a burla à política afirmativa de inclusão das mulheres no processo eleitoral configura abuso de poder e fraude capaz de comprometer a legitimidade do pleito”, destacando que a norma de percentual mínimo de candidaturas femininas não pode ser tratada como mera formalidade, mas sim como um instrumento essencial de promoção da igualdade de gênero na política.
Os partidos políticos assumem papel decisivo, pois são os responsáveis diretos pelo cumprimento das exigências legais relativas à reserva de vagas e ao financiamento proporcional das candidaturas femininas. Para que haja avanço real na inclusão das mulheres nos espaços de poder, é imprescindível que as estruturas partidárias estejam alinhadas com os princípios de igualdade e comprometidas com a efetiva promoção da equidade de gênero.
Desse modo, verifica-se uma preocupação contínua do Estado brasileiro com a promoção da participação feminina na política, o que se reflete em diversas alterações legislativas realizadas após a instituição das cotas de gênero. Tais mudanças visaram tanto a ampliação da efetividade dessas cotas quanto a criação de mecanismos complementares de proteção e incentivo à representação das mulheres.
No entanto, o que se observa na prática é a atuação de partidos políticos que, muitas vezes, criam mecanismos fraudulentos com o objetivo de burlar a legislação vigente e, assim, contribuir para a contínua exclusão das mulheres do processo eleitoral. Casos recorrentes envolvem candidaturas fictícias, em que mulheres sequer participaram ativamente das decisões partidárias.
Em muitos casos, essas mulheres nem tinham conhecimento de que seus nomes haviam sido registrados junto à Justiça Eleitoral. Há relatos de mulheres que, após as eleições, buscam entender como seus nomes foram utilizados, ou que demonstram frustração por não terem recebido o apoio prometido pelos dirigentes partidários ao cederem seus dados para a formalização das candidaturas.
Tais práticas escancaram não apenas o descumprimento da legislação, mas também o enraizamento do machismo estrutural no sistema político brasileiro. Ao instrumentalizar a imagem feminina apenas para cumprimento formal da cota de gênero, sem assegurar as condições efetivas de participação, os partidos contribuem para a manutenção de uma cultura política excludente.
Como afirmam Campos e Ferreira (2022), “as candidaturas fictícias revelam não só a resistência dos partidos em cumprir a legislação de cotas, mas também a profunda desigualdade de gênero que ainda marca a estrutura político-partidária brasileira, onde a mulher é muitas vezes tratada como mero número para alcançar o mínimo legal de representatividade”.
Diante desse cenário, evidencia-se que a atuação das agremiações partidárias, longe de cumprir plenamente sua função democrática de promoção da diversidade e inclusão, tem se revelado, em muitos casos, um dos principais entraves à efetiva participação feminina no processo eleitoral.
A instrumentalização das candidaturas femininas para fins meramente formais, o descumprimento das cotas de gênero e a ausência de apoio real às mulheres candidatas configuram práticas que não apenas desrespeitam os direitos políticos das mulheres, mas também fragilizam a própria democracia representativa. Afinal, quando metade da população é sistematicamente afastada dos espaços de poder, o sistema político torna-se menos legítimo, menos plural e menos sensível às demandas sociais diversas.
Como bem observa Flávia Biroli (2018, p. 25), “a sub-representação das mulheres e os obstáculos estruturais enfrentados por elas no interior dos partidos revelam que a igualdade formal ainda não se traduziu em igualdade substantiva no exercício da cidadania”.
Assim, a transformação desse quadro exige não apenas a fiscalização rigorosa da legislação, mas uma mudança estrutural na cultura partidária, que reconheça e valorize a presença das mulheres como protagonistas na política.
4. AS COTAS DE GÊNERO E PARTICIPAÇÃO FEMININA: CAMINHOS PARA A IGUALDADE.
A luta pela igualdade de gênero no processo eleitoral brasileiro tem sido marcada por avanços importantes, ainda que permeados por significativos desafios. A implementação das cotas de gênero, prevista na legislação eleitoral, representa uma tentativa concreta de corrigir desigualdades históricas e estruturalmente enraizadas que afastam as mulheres da vida política institucional. No entanto, embora as cotas representem um marco na promoção da paridade, sua efetividade depende diretamente da atuação dos partidos políticos, principais agentes do processo eleitoral.
A partir desse reconhecimento da desigualdade de gênero na política, o ordenamento jurídico brasileiro passou a adotar medidas afirmativas que buscassem ampliar a participação das mulheres. Um dos primeiros marcos normativos foi a promulgação da Lei Federal nº 9.100, de 1995, que instituiu uma reserva mínima de 20% das candidaturas para mulheres nas eleições municipais;
Art. 11. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para Câmara Municipal até cento e vinte por cento do número de lugares a preencher.
§1° Os partidos ou coligações poderão acrescer, ao total estabelecido no caput, candidatos em proporção que corresponda ao número de seus Deputados Federais, na forma seguinte:
I – de zero a vinte Deputados, mais vinte por cento dos lugares a preencher;
II – de vinte e um a quarenta Deputados, mais quarenta por cento;
III – de quarenta e um a sessenta Deputados, mais sessenta por cento;
IV – de sessenta e um a oitenta Deputados, mais oitenta por cento;
V – acima de oitenta Deputados, mais cem por cento.
§2° Para os efeitos do parágrafo anterior, tratando-se de coligação, serão somados os Deputados Federais dos partidos que a integram se desta soma não resultar mudança de faixa, será garantido à coligação o acréscimo de dez por cento dos lugares a preencher.
§3º Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres.
§4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior. (grifo nosso)
A limitação inicial de 20% para candidaturas femininas ao Poder Legislativo Municipal, estabelecida pela Lei nº 9.100/1995, refletia uma resposta tímida diante da profundidade das desigualdades de gênero historicamente consolidadas no cenário político brasileiro. A medida, embora pioneira, ainda estava distante de garantir uma real transformação no acesso das mulheres aos espaços de poder (ARAÚJO, 2001; MIGUEL, 2008).
Isso porque não impunha obrigatoriedade efetiva de preenchimento dessas vagas, nem previa mecanismos rigorosos de fiscalização ou sanção. Assim, apesar de representar um avanço normativo, a legislação expunha a resistência estrutural em enfrentar, de maneira mais contundente, a exclusão feminina na arena política institucional (BIROLI, 2018; MATOS, 2010).
A instituição da cota para candidaturas femininas teve como base o objetivo fundamental da República, consagrado no artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, que estabelece como um dos pilares do Estado brasileiro a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A criação desse mecanismo legal, portanto, buscou dar efetividade a esse princípio constitucional, promovendo maior inclusão de mulheres nos espaços de representação política.
Ocorre que, Guarines (apud Almeida Júnior e Silva, p.134) destaca que a aprovação dessa legislação também se deveu à “grande visibilidade que as feministas alcançaram nas eleições de 1994 e à luta que iniciaram a partir de então”.Ou seja, ainda que a adoção das cotas tenha sido resultado direto da mobilização dos movimentos sociais e do engajamento político das mulheres que passaram a pressionar por maior espaço e reconhecimento dentro das estruturas partidárias e do sistema eleitoral percebe-se que os avanços conquistados ainda não foram suficientes para romper com as barreiras históricas que limitam a participação efetiva das mulheres na política institucional.
Essa articulação entre base legal e reivindicação social é fundamental para compreender que os avanços em matéria de igualdade de gênero na política brasileira não ocorreram de forma espontânea, mas sim fruto de intenso protagonismo feminino e da luta por direitos. Percebe-se, portanto, uma conquista que dialoga com os princípios democráticos e que revela a importância da atuação coletiva para a superação de barreiras estruturais.
A partir dessa perspectiva, os avanços legais no Brasil não apenas refletem a pressão interna dos movimentos sociais, mas também estão alinhados a compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro no campo dos direitos humanos das mulheres.
A norma brasileira foi resultado do compromisso estabelecido no Tratado Internacional que, de forma abrangente, dispõe sobre os direitos humanos da mulher. Esse tratado foi aprovado em 1979, anterior à Constituição Federal de 1988, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que adotou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, mundialmente conhecida como Convenção da Mulher ou CEDAW (na sigla em inglês, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Guarinês, pp. 127 e 128).
A importância dessa convenção se refletiu diretamente em legislações nacionais, como a Constituição Federal de 1988 e outras normas que buscam promover a igualdade de gênero e combater a discriminação. Assim, a CEDAW não apenas fundamenta um compromisso internacional em prol dos direitos das mulheres, mas também serve como uma referência crucial para o desenvolvimento de políticas públicas mais inclusivas no Brasil e em outros países ao redor do mundo. Observa Guarines (2023, p.128);
O referido tratado internacional contém importantíssimos regramentos para o tratamento igualitário das mulheres e a prevenção de todas as formas de discriminação contra elas, obrigando, nos artigos 1º ao 6º, a adoção de medidas constitucionais, legislativas, administrativas e outras, ainda que por meio de ações afirmativas temporárias, para a modificação de padrões sociais e culturais de conduta, além da supressão do tráfico de mulheres e da exploração da prostituição feminina. (2023, p.128)
A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, na sigla em inglês) é um dos principais marcos legais internacionais voltados à promoção da igualdade de gênero e à defesa dos direitos das mulheres. Foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1979, e entrou em vigor em 3 de setembro de 1981, após ser ratificada por um número suficiente de países. A convenção é frequentemente chamada de “Carta Internacional dos Direitos da Mulher”, devido à abrangência das suas diretrizes e à sua importância nas políticas públicas direcionadas à equidade de gênero.
O Brasil ratificou a CEDAW no ano de 1984, comprometendo-se internacionalmente com a luta contra todas as formas de discriminação de gênero. A partir daí, o país assumiu a responsabilidade de revisar leis, práticas e instituições que contribuam para a exclusão feminina, especialmente nos espaços de poder e decisão.
Contudo, como ressaltado por autoras como Guarines, Rezende e Silveira, o cumprimento efetivo dessas metas ainda é um desafio persistente, especialmente no que diz respeito à representação política. A CEDAW e outros tratados internacionais funcionam como importantes pilares de pressão e orientação para que os Estados avancem na garantia da igualdade substantiva.
A simples filiação a acordos internacionais não basta: é necessária a implementação de políticas concretas, o acompanhamento sistemático de seus resultados e o fortalecimento do engajamento político e social das mulheres (GUARINES, p. 135).
No entanto, Guarines afirma, que “lamentavelmente, esses esforços não foram suficientes para fazer nosso país cumprir o tratado internacional subscrito há duas décadas, nem mesmo no que se refere ao percentual de 30% (trinta por cento) de mulheres em posição de tomada de decisões, até 1995.” (2023, p. 135)
A CEDAW estabelece, em termos jurídicos, a obrigação dos Estados signatários de adotar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres “em todas as suas formas”. Trata-se de uma visão ampla e aprofundada do conceito de discriminação, que abrange não só práticas legais, mas também culturais, sociais e institucionais que resultem em desigualdade entre homens e mulheres.
Um dos aspectos centrais da convenção é a exigência de que os Estados garantam às mulheres condições iguais de participação na vida política e pública, incluindo o direito de votar, de ser eleita e de participar da formulação de políticas governamentais.
Apesar de ter representado um avanço em relação à ausência quase total de mulheres nas candidaturas e nas câmaras municipais, o percentual de apenas 20% mostrou-se insuficiente para provocar mudanças significativas na composição dos legislativos municipais. Para que as candidaturas femininas se tornassem mais competitivas e efetivas, era necessário um aumento do percentual e a implementação de medidas complementares, como o reconhecimento de que a simples inclusão de nomes femininos nas chapas não garantia a igualdade de oportunidades.
Apesar da brevidade da vigência da lei 9.100/1995, e como dito anteriormente, a ineficiência no cumprimento do tratado internacional, foi necessários o fortalecimento das políticas afirmativas, culminando na ampliação do percentual mínimo para 30% por meio da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Essa alteração representou uma importante evolução no compromisso do Estado brasileiro com a promoção da igualdade de gênero no campo político, buscando assegurar uma representação mais justa das mulheres nas esferas de decisão.
A implementação da cota de gênero na Lei nº 9.504/1996 representa um marco na luta por igualdade de gênero na política brasileira. Embora inicialmente simbólica, a medida evoluiu significativamente, tanto em sua regulamentação quanto em sua aplicação prática. A obrigatoriedade de destinação mínima de 30% das candidaturas para cada sexo, aliada à divisão proporcional de recursos públicos de campanha, fomentou o papel das mulheres nas disputas eleitorais.
Entretanto, a efetividade da cota ainda enfrenta desafios, como o uso de candidaturas fictícias e a resistência estrutural dentro dos partidos políticos. As recentes decisões da Justiça Eleitoral e a ampliação do conceito de identidade de gênero no processo de registro de candidaturas demonstram que o tema continua em evolução e que o sistema democrático precisa se adaptar à diversidade da sociedade.
Dessa forma, a cota de gênero não deve ser vista como um ponto final, mas como um instrumento transitório e necessário para corrigir desigualdades históricas, garantindo não apenas a presença, mas também a participação ativa de mulheres e pessoas de identidades de gênero diversas na política brasileira.
Portanto, as cotas de gênero representam uma estratégia essencial para o fortalecimento da democracia, para que possam contribuir para um sistema político mais inclusivo e representativo. A inclusão de mais mulheres na política não apenas enriquece o debate democrático, mas também assegura que as questões que influenciam a vida de mulheres sejam devidamente abordadas nas esferas decisórias.
4.1 A Cota De Gênero E Sua Efetividade Na Lei Geral Das Eleições – Lei 9.504/1997, Como Medida Para Promover A Equidade De Gênero Na Política.
A promulgação da Lei nº 9.504/1996 constituiu um marco relevante na regulamentação do processo eleitoral brasileiro, todavia a questão da representação de gênero não foi inicialmente contemplada de forma específica. A redação original do artigo 10, § 3º, estabelecia que cada partido político ou coligação poderia registrar até 100% de candidatos para cada cargo em disputa, sem prever qualquer obrigatoriedade de reserva de vagas para gênero específico. Essa disposição resultou em liberdade total de escolha para as agremiações partidárias, o que, na prática, não favoreceu a promoção da igualdade de gênero nas candidaturas.
Conforme destaca Guarines (2023, p. 141), a redação adotada na política de cotas não impôs um mínimo específico para mulheres, mas estabelece limites percentuais para qualquer dos sexos, o que revela uma intenção mais ampla do legislador. Nas palavras da autora:
“Ressalte-se que a nova roupagem da política de cotas não previu uma cota mínima ‘para mulheres’, mas ‘uma cota mínima e uma cota máxima para qualquer dos sexos’, o que parece demonstrar o intuito do legislador em fomentar o debate sobre a paridade de gêneros na seara eleitoral e admitir que, em determinado partido, as mulheres venham a ser o gênero majoritário.” (GUARINES, 2023, p. 141)
Essa formulação contribui para o entendimento de que a legislação buscou promover a paridade de gêneros de forma equitativa, respeitando a possibilidade de variações na composição de cada partido ou coligação. Assim estabeleceu o legislador brasileiro:
Do Registro de Candidatos
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléia Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinquenta por cento do número de lugares a preencher.
§1º No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos que a integrem, poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher.
§2º Nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder de vinte, cada partido poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo coligação, estes números poderão ser acrescidos de até mais cinquenta por cento.
§3º Do número de vagas resultantes das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cadas sexo.
§4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualdade a um, se igual ou superior.
§5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos previsto no caput e nos
§§1º e 2º deste artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até sessenta dias antes do pleito. (grifei)
É possível perceber que o legislador promoveu ajustes significativos na regulamentação das candidaturas proporcionais. Por um lado, houve a ampliação do percentual mínimo destinado ao gênero minoritário, em consonância com os compromissos assumidos pelo Brasil na Plataforma de Ação de Pequim, voltada à promoção da igualdade de gênero.
Além disso, também se elevou o limite máximo para o registro de candidaturas, passando de 120% para 150% do número de vagas disponíveis. Essa mudança ampliou as possibilidades de participação política para ambos os sexos, beneficiando tanto as mulheres, tradicionalmente sub-representadas, quanto os homens, ao permitir o registro de um número maior de candidaturas em geral.
Guarines (2023, p. 142) faz referência à análise de Laena (2020, p. 133), que atribui ao aumento do percentual de candidaturas possíveis — de 120% para 150% do número de vagas o nome de “cláusula de escape”. Segundo a autora, tal medida teria sido adotada como uma forma de compensação ao gênero masculino, diante da ampliação do percentual mínimo destinado ao gênero feminino nas candidaturas proporcionais.
Embora esse posicionamento seja relevante, entende-se que a elevação do limite de candidaturas não beneficiou exclusivamente os homens. Ao contrário, esse ajuste normativo ampliou as oportunidades para ambos os gêneros, pois permitiu que os partidos políticos registrassem mais candidatos em geral, o que, na prática, contribuiu tanto para o aumento da participação feminina quanto à masculina.
E ainda, conforme destaca Guarines, a inclusão de candidatas nas listas eleitorais continuou, na prática, a depender das condições internas e da vontade política de cada partido ou coligação. Em muitos casos, as agremiações limitaram-se a realizar o cálculo do total de vagas disponíveis e, em seguida, requerer o registro de 70% delas com uma lista composta exclusivamente por homens.
Isso porque, à época, entendia-se que a infração à norma de cotas apenas ocorreria se o percentual “reservado” às candidaturas femininas ou seja, o mínimo de 30% fosse formalmente descumprido. Tal interpretação reduzia o alcance do dispositivo legal, transformando a medida em um mero requisito formal, sem efetivo compromisso com a promoção da igualdade de gênero nas candidaturas.
Nota-se que o dispositivo legal, em sua redação original, estabelecia um “dever de reserva” e não um “dever de registro” de candidaturas femininas. Em outras palavras, a norma obrigava os partidos a reservar, no momento do cálculo, um percentual mínimo de 30% para candidaturas de um dos sexos geralmente, o feminino, mas não os obrigava efetivamente a preencher essas vagas com candidatas reais.
Assim, a mera previsão formal do percentual mínimo era suficiente para atender à exigência legal, mesmo que, na prática, as vagas reservadas não fossem ocupadas por mulheres com efetiva intenção ou viabilidade eleitoral. Essa brecha permitiu o uso estratégico da norma, com o preenchimento fictício de candidaturas apenas para cumprimento formal do percentual, esvaziando o propósito de inclusão substantiva das mulheres na política. “Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidatura de cada sexo.” (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º, grifei).
No entanto, apesar do verbo “deverá” indicar uma obrigação, a prática demonstrou que a norma era interpretada de forma bastante permissiva. Se o partido ou coligação preenchia, por exemplo, 70% de suas vagas possíveis com homens e não havia mulheres interessadas em número suficiente ou disponíveis para ocupar os 30% restantes, essas vagas simplesmente permaneciam em aberto, sem candidatos registrados. Na prática, o “deverá reservar” passou a ser lido como um “poderá reservar”, transformando uma norma de ação afirmativa em um dispositivo de cumprimento meramente formal, sem garantir a efetiva participação feminina nas eleições.
Cumpre mencionar, que mesmo após a alteração promovida pela Lei nº 9.504/1997, a forma como o dispositivo legal foi interpretado pelo Poder Judiciário permaneceu atrelada à sua literalidade. A leitura adotada pelos tribunais continuou refletindo a orientação fixada anteriormente à lei 9504/97, pelo Tribunal Superior Eleitoral, especialmente nos julgamentos das Consultas nº 157/1996 e nº 194/1996.
A Consulta nº 157/1996 foi formulada por Marta Tereza Assumpção, então Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e abordou a interpretação do art. 11, § 3º, da Lei nº 9.100/1995, que estabelecia a reserva de, no mínimo, 20% das candidaturas para o sexo feminino nas eleições proporcionais. A indagação central era se essa reserva implicava a obrigatoriedade de efetivo preenchimento das candidaturas femininas ou se bastava a mera reserva das vagas, mesmo que não fossem ocupadas.
Já a Consulta nº 194/1996, também formulada ao TSE, tratou da interpretação do mesmo § 3º do art. 11 da Lei nº 9.100/1995. A dúvida consistia, igualmente, em saber se o dispositivo exigia o preenchimento efetivo das candidaturas femininas ou se sua função seria meramente simbólica, limitando-se à reserva teórica de espaço na lista partidária.
Portanto, a questão central era se essa reserva implicava a obrigatoriedade de efetivo preenchimento das candidaturas femininas ou se bastava a mera reserva das vagas, mesmo que não fossem ocupadas.
Na ocasião, o TSE adotou uma interpretação formalista, entendendo que a norma impunha apenas o dever de reservar as vagas para candidaturas femininas, sem exigir seu preenchimento efetivo. Assim, se um partido ou coligação não apresentasse candidatas suficientes para atingir o percentual mínimo, as vagas remanescentes poderiam permanecer vazias, sem implicações legais significativas.
Em síntese, prevaleceu a compreensão de que a norma impunha tão somente a obrigação de reservar vagas às candidaturas femininas, sem exigir seu efetivo preenchimento. Embora a lei 9504/1997 tenha evoluído em termos de redação e objetivos, a aplicação prática do novo regramento repetiu a lógica anterior, limitada à formalidade da reserva, sem avanços significativos no incentivo concreto à participação das mulheres na política.
Assim sendo, a estrutura normativa não abordou adequadamente as desigualdades estruturais que permeiam a participação política feminina, inviabilizando um acesso equitativo aos processos eleitorais.
A redação original da Lei nº 9.504/1996 exemplifica uma fase inicial nas discussões sobre representatividade política, evidenciando a necessidade de modificações que visassem garantir a inclusão e a igualdade de condições para todos os gêneros nos processos eleitorais.
As alterações na legislação se tornariam fundamentais para estabelecer um arcabouço normativo que buscasse corrigir tais disparidades e promover um ambiente político mais representativo e democrático. Os debates em torno da inclusão de percentuais mínimos de candidaturas femininas começaram a ganhar relevância, refletindo uma crescente conscientização sobre a importância da equidade de gênero no âmbito político.
Dessa forma, verifica-se que, apesar das inovações introduzidas pela Lei nº 9.504/1997 no tocante à reserva de candidaturas por gênero, a efetividade da norma ficou comprometida pela interpretação meramente formalista e pela ausência de mecanismos de controle rigorosos.
A utilização estratégica das cotas, aliada à resistência dos partidos políticos em promover candidaturas femininas reais e competitivas, revelou os limites de uma legislação que, embora bem-intencionada, não foi suficientemente robusta para enfrentar as desigualdades estruturais na política brasileira.
A prática demonstrou que a simples reserva de vagas, sem a exigência de seu efetivo preenchimento, não garante a inclusão substantiva das mulheres nos espaços de poder. Nesse contexto, impôs-se a necessidade de reformas legislativas e de uma nova postura institucional, capaz de assegurar que as cotas de gênero cumpram sua função de promover uma democracia mais igualitária e representativa.
4.2 Da Formalidade À Concretude: A Evolução Jurídico – Jurisprudencial Da Cota De Gênero A Partir Da Lei Nº 12.034/2009
A promulgação da Lei nº 12.034/2009 representou um avanço significativo ao alterar a redação do art. 10, §3º da Lei nº 9.504/1997. A nova redação passou a exigir não apenas a reserva, mas o efetivo preenchimento mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas por sexo, com a expressão “preencherá”, em vez de apenas “reservar”. Vejamos, ipsis litteris;
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. ( Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) (grifei)
Essa alteração buscou solucionar a fragilidade do modelo anterior, que permitia o descumprimento prático da norma mediante a simples formalização da reserva, ainda que não houvesse candidaturas efetivas. Dessa forma, consolidou-se juridicamente a obrigatoriedade de que as vagas fossem ocupadas de fato, evitando o uso da legislação apenas como mecanismo simbólico.
Desse modo, a cota de gênero passou a ser compreendida como uma verdadeira ação afirmativa e não mais como mero formalismo decorrente da lei. Ela passou a ser concebida com o propósito de assegurar um espaço mínimo de participação para cada sexo no processo eleitoral, indo além da exigência meramente quantitativa.
Trata-se de um instrumento jurídico previsto na legislação eleitoral brasileira, destinado a promover a inserção de mulheres — ou de quaisquer grupos historicamente sub- representados nas eleições proporcionais. Tal medida visa concretizar o princípio da igualdade de oportunidades entre os gêneros, enfrentando, de forma normativa e institucional, a persistente exclusão feminina dos espaços de poder político.
Ao estabelecer um patamar mínimo de candidaturas por sexo, a cota de gênero busca não apenas corrigir desigualdades históricas, mas também fomentar a diversidade e a pluralidade na representação democrática. Assim, consolida-se como um mecanismo essencial à efetivação dos direitos políticos das mulheres e à ampliação da representatividade no sistema eleitoral brasileiro.
Conforme leciona José Jairo Gomes, “por cota eleitoral de gênero compreende-se a ação afirmativa que visa garantir espaço mínimo de participação de cada gênero, masculino e feminino, na vida política do País”. Tal mecanismo tem por objetivo combater a histórica exclusão de mulheres dos processos decisórios e assegurar a representatividade plural nos espaços institucionais de poder.
Seu fundamento jurídico encontra respaldo direto nos valores constitucionais que estruturam o Estado Democrático de Direito, especialmente os princípios da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do pluralismo político, conforme estabelecido no artigo 1º, incisos II, III e V, da Constituição Federal de 1988. (GOMES, p. 317)
O objetivo primordial das cotas de gênero é mitigar as disparidades existentes, criando um ambiente de competição mais equilibrado para as candidaturas. A imposição de um percentual mínimo de mulheres nas listas de candidatos apresentadas pelos partidos políticos não apenas pode ampliar a representação feminina na política, mas igualmente estimula a diversificação de experiências e perspectivas, essenciais para a robustez e inclusão da democracia. sociedade, atendendo de maneira mais eficaz às demandas e necessidades de diferentes segmentos populacionais.
A partir de 2009 com a Lei nº 12.034/2009, o TSE passou a adotar uma interpretação mais substancial do art. 10, § 3º. Essa nova abordagem reconheceu a cota de gênero como uma verdadeira ação afirmativa, exigindo não apenas a reserva, mas o efetivo preenchimento das vagas com candidaturas reais e comprometidas.
Indaga Bucchianeri Pinheiro (2010, p. 215) acerca da eventual inconstitucionalidade da determinação legal que estabelece cotas de gênero, em razão do princípio da autonomia partidária consagrado no §1º do art. 17 da Constituição Federal.
Em resposta, a autora manifesta-se de maneira negativa a essa indagação, asseverando que a previsão de cotas de gênero não apenas promove a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, mas também constitui uma medida essencial para a garantia de uma representação equitativa nos espaços políticos, vejamos;
“[…] embora a cláusula da autonomia seja inerente ao próprio estatuto constitucional dos partidos políticos, conferindo-lhes uma esfera de privacidade e intimidade dogmática e institucional/organizacional que é infensa à intervenção estatal, isso não significa que tais corpos intermediários sejam integralmente imunes às regras e aos princípios fundamentais constantes da Carta Política, tal como o é o princípio da igual dignidade de todos e o da não discriminação entre os sexos […]. Não há falar, pois, em soberania partidária, mas, unicamente, em autonomia, que não sobrepõe ao dever constitucional de observância aos direitos fundamentais (art. 17, caput) e que autoriza sim sob tal perspectiva, não só a atuação coercitiva por parte do Poder Judiciário, mas, por igual, determinadas imposições derivadas da lei, tal como ocorre na hipótese de paridade mínima entre sexos, em temas de candidaturas políticas”.
O princípio da autonomia partidária, apesar de sua condição constitucional, não deve ser considerado um princípio absoluto. Deve, na verdade, coexistir em harmonia com demais direitos fundamentais assegurados pela Constituição, tais como o direito à igualdade de gênero.
A estrutura democrática exige que as vozes de todos os segmentos populacionais estejam adequadamente representadas no processo político; nesse contexto, a implementação de cotas de gênero se revela uma estratégia imprescindível para corrigir distorções históricas que relegaram a participação feminina à marginalidade.
Cumpre mencionar que sob a ótica constitucional, a norma encontra amparo direto em diversos fundamentos e princípios da Constituição Federal de 1988. Primeiramente, destaca- se o princípio da igualdade substancial (art. 5º, caput), o qual não se restringe à igualdade formal, mas impõe ao Estado o dever de adotar medidas que promovam a equidade material entre os cidadãos. Conforme destaca José Afonso da Silva (2013), a isonomia exige tratamento diferenciado para os desiguais, na medida de suas desigualdades, de modo a promover equilíbrio e justiça.
O dispositivo também se coaduna com os objetivos fundamentais da República, previstos no art. 3º da CF/88, notadamente os incisos I e IV, que estabelecem, respectivamente, como objetivos fundamentais: “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. A imposição de cotas de gênero é, nesse sentido, um mecanismo de justiça social voltado a corrigir uma sub-representação histórica e estrutural das mulheres na política institucional.
Além disso, o §3º do art. 10 também atende ao princípio do pluralismo político (art. 1º, inciso V, da CF/88), ao garantir a diversidade de representação nos espaços de poder, e ao direito fundamental de participação política (art. 14), assegurando que mulheres possam competir em condições minimamente equitativas.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) tem reforçado a compatibilidade constitucional da norma. O STF, por exemplo, já reconheceu que as ações afirmativas no processo eleitoral visam garantir a efetividade da democracia representativa, sem que isso viole a autonomia partidária.
Ao contrário, compreende-se que a autonomia dos partidos deve ser exercida de acordo com os valores constitucionais, incluindo o compromisso com a igualdade de gênero.
No âmbito do TSE, diversas decisões têm reafirmado a legalidade e a imprescindibilidade das cotas de gênero, enfatizando que a proposição de candidaturas femininas deve assegurar, no mínimo, 30% do total das candidaturas de partidos e coligações. Em variados julgados, o TSE tem sustentado que a referida norma não compromete o princípio da autonomia partidária, mas, pelo contrário, representa um mecanismo para equilibrar o acesso das mulheres ao espaço político, promovendo condições mais justas de competição eleitoral.
Essa evolução jurisprudencial demonstra o compromisso crescente da Justiça Eleitoral com a promoção da equidade de gênero, transformando a cota de gênero de uma exigência formal em um instrumento eficaz de inclusão política.
Doutrinadores como Ingo Sarlet (2012) e Clèmerson Merlin Clève (2002) sustentam que medidas afirmativas são legítimas e compatíveis com o Estado Democrático de Direito, uma vez que buscam assegurar a eficácia dos direitos fundamentais. Como afirma Sarlet, “a realização dos direitos fundamentais […] exige do Estado não apenas abstenção, mas também providências concretas e medidas de ação afirmativa”.
Portanto, o §3º do art. 10 da Lei das Eleições é claramente constitucional, por estar em plena harmonia com os princípios e valores fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. Sua existência é expressão do dever estatal de promover a inclusão, a diversidade e a justiça social no sistema democrático.
No entanto, apesar dos avanços interpretativo, a efetividade da cota de gênero ainda enfrenta sérios obstáculos na prática eleitoral brasileira. Diversos estudos e dados estatísticos revelam que, mesmo após mais de duas décadas de vigência da norma, a representação feminina nos parlamentos permanece aquém do percentual mínimo de candidaturas estabelecido. Isso se deve, em grande parte, à falta de apoio estrutural e institucional às candidaturas femininas, à concentração de recursos em campanhas masculinas e à persistência de fraudes como as candidaturas fictícias.
Cumpre mencionar que a própria dinâmica interna dos partidos políticos, marcada por estruturas patriarcais, contribui para o baixo impacto da medida em termos de resultados eleitorais concretos. Embora a cota de gênero represente um marco legal relevante, sua implementação ainda carece de políticas complementares que garantam condições reais de competitividade e visibilidade às candidaturas femininas. Vejamos a análise do jurista José Jairo Gomes (2024, p.318);
Conquanto se aplique indistintamente a ambos os gêneros, a enfocada ação afirmativa foi pensada para resguardar a posição das mulheres que, sobretudo por razões históricas ligadas a uma cultura de exclusão e machista, não desfrutam de espaço relevante no cenário político brasileiro, em geral controlado por homens.
Nesse âmbito, a discriminação contra a mulher constitui desafio a ser superado. Ainda nos dias de hoje, é flagrante o baixo número de mulheres na disputa pelo poder político em todas as esferas do Estado; ainda menor é o número de mulheres que efetivamente que ocupam os postos públicos-eletivos. Tais constatações são de todo lamentáveis em um país em que o gênero feminino forma a maioria da população.
Com base nos dados mais recentes disponíveis do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referentes às Eleições Gerais de 2022, a distribuição do eleitorado brasileiro por gênero era a seguinte:
Distribuição do Eleitorado por Gênero – Outubro de 2022
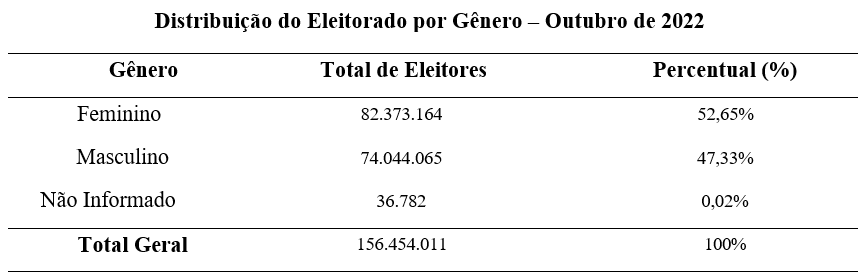
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/brasil-tem-mais-de-156-milhoes-de-eleitoras-e- eleitores-aptos-a-votar-em-2022-601043. Acesso em 18 de abril de 2025.
Observa-se ainda que 37.646 eleitores registraram o uso de nome social no título de eleitor, representando 0,02% do eleitorado apto.
Esses dados evidenciam que, embora as mulheres constituam a maioria do eleitorado brasileiro, sua representação nos cargos eletivos ainda é significativamente inferior, refletindo desafios persistentes na promoção da igualdade de gênero na política.
O gráfico seguinte ilustra bem essa disparidade:
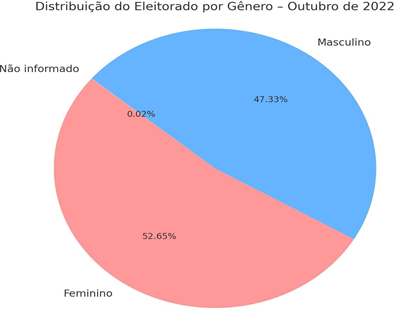
Fonte: www.tse.jus.br
A sub-representação feminina nas instâncias de poder político constitui um fenômeno persistente e estrutural, evidenciado em diferentes níveis de governo. Nas eleições gerais de 2022, por exemplo, mesmo que se considere um grande avanço, apenas 91 mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados, o que corresponde a cerca de 18% das 513 cadeiras que compõem a referida Casa Legislativa. Tal dado evidencia a disparidade de gênero na representação parlamentar e ilustra como a participação feminina ainda se encontra significativamente aquém da equidade desejada.
De todo modo, não podemos deixar de observar que a evolução jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) evidencia uma transição significativa de uma abordagem meramente formalista, que se concentrava no cumprimento numérico das cotas de gênero, para uma interpretação substancial e efetiva da norma, reconhecendo-a como uma verdadeira ação afirmativa. A mudança de paradigma reafirma o compromisso da Justiça Eleitoral com a promoção da igualdade de gênero e com a consolidação de uma democracia mais representativa, em consonância com os princípios constitucionais da igualdade material, da cidadania e do pluralismo político.
Nos primórdios da implementação da legislação acerca das cotas, o enfoque estava predominantemente na aplicação mecânica do percentual mínimo estipulado, frequentemente desconsiderando o contexto histórico de desigualdade que fundamentava a necessidade de tais medidas.
Com o advento de decisões mais recentes, o TSE passou a adotar uma posição que reconhece que a mera contabilização de candidaturas não é suficiente para assegurar a efetividade da participação feminina no cenário político. Assim, a jurisprudência atual propõe que se adote uma abordagem mais holística, que promova condições concretas para a inserção e o fortalecimento da voz feminina na política.
Ademais, a interpretação ampliada das cotas de gênero como ações afirmativas permite ao TSE considerar as múltiplas barreiras enfrentadas pelas mulheres no acesso e na permanência nas esferas decisórias. O Tribunal tem enfatizado que os partidos políticos não devem apenas observar os percentuais exigidos pela legislação, mas que devem também adotar práticas proativas que incentivem e respaldem candidaturas femininas, promovendo, dessa forma, um ambiente inclusivo e diversificado.
Essa nova perspectiva jurisprudencial reafirma a função social da Justiça Eleitoral como guardiã dos direitos constitucionais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e representativa. Ao priorizar a igualdade de gênero como um valor fundamental, a jurisprudência do TSE alinha-se a um conceito mais abrangente de democracia, que ultrapassa a mera representação formal, buscando garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que todas as cidadãs, independentemente de seu gênero, possuam oportunidades equitativas de participar ativamente da vida política do país.
4.3 Candidaturas Fictícias E Fraude À Cota De Gênero: Análise Da Construção Jurisprudencial No Direito Eleitoral
A consolidação da cota de gênero no ordenamento jurídico eleitoral brasileiro ultrapassa a previsão legal expressa no §3º do art. 10 da Lei nº 9.504/1997. Ao longo do tempo, a Justiça Eleitoral, em especial o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem adotado uma interpretação mais rigorosa e substancial da referida norma, com a finalidade de coibir práticas fraudulentas que possam distorcer seu verdadeiro espírito.
A valorização da participação feminina como condição para a efetividade da democracia representativa, após a promulgação da Lei nº 12.034/2009, tem sido reforçada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. No julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 15826, o Ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin destacou que “a atuação da Justiça Eleitoral deve ir além da neutralidade aparente, assumindo um papel ativo na garantia da igualdade de gênero nas disputas eleitorais”.
Segundo o acórdão, é imprescindível que o Poder Judiciário contribua para a remoção de obstáculos históricos e culturais que excluem as mulheres da arena política, pois “a concretização da democracia depende da efetiva inclusão das mulheres na política, sendo dever da Justiça Eleitoral atuar para coibir práticas que, mesmo sob aparência de legalidade, resultem em exclusão ou discriminação de gênero” (TSE, REspEl nº 15826, DJE, Tomo 234, p. 37-38, publicado em 12/12/2016).
Esse entendimento reafirma que a paridade não se esgota na formalidade da norma, mas exige do sistema eleitoral ações concretas para assegurar representatividade com substância. Vejamos alguns trechos desse acórdão:
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA
- O incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente ação afirmativa que visa promover e integrar as mulheres na vida político-partidária brasileira, de modo a garantir-se observância, sincera e plena, não apenas retórica ou formal, ao princípio da igualdade de gênero (art. 5º, caput e I, da CF/88).
- Apesar de, já em 1953, a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, da Organização das Nações Unidas (ONU), assegurar isonomia para exercício da capacidade eleitoral passiva, o que se vê na prática ainda é presença ínfima das mulheres na política, o que se confirma pelo 155º lugar do Brasil no ranking de representação feminina no parlamento, segundo a Inter-Parliamentary Union (IPU).
- Referida estatística, deveras alarmante, retrata o conservadorismo da política brasileira, em total descompasso com população e eleitorado majoritariamente femininos, o que demanda rigorosa sanção às condutas que burlem a tutela mínima assegurada pelo Estado.
- Cabe à Justiça Eleitoral, no papel de instituição essencial ao regime democrático, atuar como protagonista na mudança desse quadro, em que mulheres são sub-representadas como eleitoras e líderes, de modo a eliminar quaisquer obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida política.
- As agremiações devem garantir todos os meios necessários para real e efetivo ingresso das mulheres na política, conferindo plena e genuína eficácia às normas que reservam número mínimo de vagas para candidaturas (art. 10, §3º, da Lei 9.504/97) e asseguram espaço ao sexo feminino em propaganda (art. 45, IV, da Lei 9.096/95). A criação de “estado de aparências” e a burla ao conjunto de dispositivos e regras que objetivam assegurar isonomia plena devem ser punidas, pronta e rigorosamente, pela Justiça Eleitoral.
- Em síntese, a participação feminina nas eleições e vida partidária representa não apenas pressuposto de cunho formal, mas em verdade, garantia material oriunda, notadamente, dos arts. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, 45, da Lei 9096/95 e 5º, caput e I, da CF/88.
O combate às chamadas candidaturas fictícias registros formais de mulheres como candidatas apenas para cumprir a cota legal de gênero, sem qualquer intenção real de participação efetiva na disputa tornou-se uma das principais frentes de atuação da Justiça Eleitoral.
Essas práticas fraudulentas configuram verdadeira afronta ao objetivo das ações afirmativas, e sua identificação tem ocorrido a partir de indícios concretos, como a ausência de atos de campanha, votação irrisória, prestação de contas padronizada ou sequer apresentada, entre outros elementos que demonstram a artificialidade da candidatura.
Como bem observa José Jairo Gomes (2024, p. 323):
Consiste a fraude em lançar a candidaturas de mulheres que na realidade não disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos são incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de preenchimento mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do partido e de seus verdadeiros candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na política. (Gomes, 2024, p. 323).
Na prática, a Justiça Eleitoral tem identificado padrões que indicam fraude, como a apresentação de prestações de contas padronizadas entre diferentes candidatas do mesmo partido ou coligação.
No Recurso Especial Eleitoral – REspe nº 19392/PI (DJE de 4 de outubro de 2019), por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral destacou a existência de “extremas semelhanças dos registros nas contas de campanha de cinco candidatas: tipos de despesas, valores, datas de emissão das notas fiscais e até mesmo a sequência numérica destas”, o que evidenciou uma tentativa de simular cumprimento formal da cota de gênero, sem o efetivo apoio à participação feminina.
Nesse sentido, o artigo 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.735/2024 dispõe expressamente:
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas, revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral.
(Recurso Especial Eleitoral n. 15826, Acórdão, Relator(a) Min. Antônio Herman de Vasconcellos E Benjamin, Publicação: DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo234, data 12/12/2016, páginas 37-38) com grifos.
Essa previsão normativa reforça o entendimento de que a mera formalização da candidatura feminina não é suficiente para cumprir o preceito legal, sendo necessária a demonstração de efetiva participação no processo eleitoral.
Verificamos, na prática, casos em que a candidata sequer vota em si mesma, não realiza campanha própria ou apresenta contas de campanha “zeradas” são elementos probatórios relevantes para a caracterização da fraude à cota de gênero, com possíveis consequências jurídicas como a cassação de toda a chapa proporcional.
Em decisões recentes, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem reiterado que a prática de fraude à cota de gênero compromete a integridade do processo eleitoral, ensejando a cassação de toda a chapa proporcional beneficiada por tais condutas. Essa posição foi consolidada na Súmula nº 73, aprovada em maio de 2024, que estabelece critérios objetivos para a identificação da fraude e suas consequências jurídicas. Súmula nº 73 do TSE:
“A fraude à cota de gênero, consistente no que diz respeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: votação zerada ou inexpressiva; prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará as seguintes consequências: cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (artigo 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral, se for o caso.”
Essa súmula reflete a jurisprudência consolidada do TSE, que tem reconhecido a fraude à cota de gênero em diversos casos. Em 2023, o Plenário do TSE confirmou 61 (sessenta e uma) práticas de fraude à cota de gênero, e em 2024, esse número já ultrapassou 20 (vinte) casos. Essas decisões têm resultado na cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, bem como na nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
A jurisprudência foi aplicada, por exemplo, no REspEl nº 0600003- 32.2021.6.26.0278/SP, em que o TSE reconheceu a simulação de candidaturas femininas sem campanha efetiva, com contas zeradas e votação nula, determinando a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e dos diplomas dos candidatos da legenda. A Corte destacou que a fraude atinge todo o processo eleitoral e impõe a nulidade dos votos, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.
Outro precedente marcante é o REspEl nº 0600525-98.2020.6.25.0000/SE, referente às eleições municipais em Aracaju. No caso, o TSE entendeu configurada a fraude ao constatar que uma das candidatas do PSC atuava em favor de candidato adversário e que os materiais de campanha apresentados estavam irregulares, sem CNPJ ou elementos de identificação. A decisão resultou na cassação de toda a chapa proporcional e dos diplomas vinculados ao DRAP do partido.
Em situação semelhante, no REspEl nº 0600305-36.2020.6.17.0064/PE, referente ao município de Goiana (PE), o TSE concluiu que o Partido Social Democrático (PSD) não preencheu adequadamente a cota de gênero, caracterizando fraude estrutural. A Corte determinou a nulidade de todos os votos recebidos pelo partido, a cassação do mandato do único vereador eleito e a declaração de inelegibilidade das candidatas envolvidas.
Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “fica comprovada a existência de candidaturas fictícias sem que identificado, de maneira induvidosa, o completo desinteresse na disputa eleitoral” (Respe nº 851/RS, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 28/10/2020, DJE).
Essa compreensão jurisprudencial sobre a exigência de provas robustas para caracterizar a fraude eleitoral especialmente nos casos de candidaturas fictícias de mulheres justifica-se à luz do artigo 219 do Código Eleitoral, que consagra o princípio do in dubio pro suffragii. Tal princípio, extraído por dedução sistemática do ordenamento jurídico, orienta a preservação da vontade popular e do direito fundamental ao sufrágio, funcionando como limite interpretativo frente a aplicação de outras normas.
O dispositivo assegura que, diante da dúvida, deve-se privilegiar a manutenção do resultado eleitoral, salvo prova inequívoca de fraude ou desvio de finalidade.
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa nem a ela aproveitar.
Essa interpretação, que se distancia da mera aplicação formal da norma, enfatiza a importância de promover não apenas a participação das mulheres na política de forma quantitativa, mas também assegurar a efetividade de sua atuação e representatividade nos espaços de decisão.
Assim, consolida-se a concepção de que a igualdade de gênero é um direito fundamental que deve ser permanentemente defendido e protegido no âmbito eleitoral brasileiro.
Cumpre assentar que a constatação de fraude à cota de gênero, especialmente mediante o lançamento de candidaturas femininas fictícias, acarreta severas penalidades previstas na legislação eleitoral. Entre as consequências jurídicas, destacam-se a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a anulação dos votos recebidos pela legenda, a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos vinculados à chapa fraudulenta e a decretação da inelegibilidade dos envolvidos pelo período de oito anos, conforme disposto na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010).
Essas sanções têm como finalidade não apenas punir a conduta fraudulenta, mas também preservar a integridade do processo eleitoral e assegurar a efetividade das políticas afirmativas voltadas à inclusão das mulheres na política institucional.
Para a formalização da denúncia de fraude à cota de gênero, o instrumento jurídico adequado é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), prevista no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. Essa ação pode ser proposta pelo Ministério Público Eleitoral, por partido político, coligação, federação ou candidato, e deve estar acompanhada de elementos que demonstrem, ainda que indiciariamente, a existência de simulação ou desvio de finalidade nas candidaturas femininas apresentadas.
A AIJE é o meio processual apropriado para apurar práticas abusivas que comprometam a legitimidade do pleito, permitindo ao Judiciário coibir fraudes estruturais que, ao desvirtuarem a ação afirmativa de gênero, perpetuam a exclusão das mulheres dos espaços de poder político.
Nesse sentido, o TSE, ao julgar o Respe nº 0600052-63.2020.6.06.0025 (Tururu/CE), reconheceu a prática de candidatura fictícia e determinou a cassação do DRAP do partido, dos diplomas dos candidatos eleitos e a inelegibilidade da candidata envolvida, ao entender que a AIJE é o meio idôneo para reprimir o uso abusivo da cota de gênero em prejuízo da paridade democrática. Nesse contexto, a atuação da Justiça Eleitoral é compreensível no sentindo de superação das barreiras estruturais que historicamente limitaram a presença feminina na política institucional.
A Corte Eleitoral vem adotando uma postura progressivamente mais proativa no enfrentamento das candidaturas fictícias e na repressão a práticas que esvaziam o conteúdo normativo das cotas de gênero, compreendendo que a mera observância numérica não basta para assegurar a participação efetiva das mulheres no processo democrático.
Como destaca Flávia Biroli (2018), a democracia representativa apenas se fortalece quando incorpora a diversidade social em seus mecanismos decisórios, o que inclui a garantia de acesso real e equitativo das mulheres aos espaços de poder.
Nessa perspectiva, o papel jurisdicional não se limita à legalidade formal, mas se estende à promoção da igualdade substancial como princípio fundante da ordem democrática.
Dessa forma, é possível afirmar que o enfrentamento das candidaturas fictícias e a efetivação das cotas de gênero não se resumem ao cumprimento de um percentual legal, mas representam um compromisso do Estado Democrático de Direito com a construção de uma representação política verdadeiramente inclusiva e plural.
A atuação da Justiça Eleitoral, ao adotar uma postura mais incisiva e orientada pela igualdade substancial, contribui para transformar a lógica excludente que historicamente permeou o sistema político brasileiro. Garantir a participação qualificada das mulheres no processo eleitoral é, portanto, não apenas uma exigência normativa, mas um imperativo democrático voltado ao fortalecimento da legitimidade das instituições e à realização concreta do princípio da igualdade de gênero.
5. O IMPACTO DA ATUAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL E AS REAÇÕES PARTIDÁRIAS: A EVOLUÇÃO NA PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA
A atuação da Justiça Eleitoral no Brasil, especialmente no que se refere à cota de gênero, tem se consolidado como um agente relevante de transformação no cenário político, ao impulsionar a inclusão feminina nos espaços de poder.
Os avanços normativos e jurisprudenciais, como o endurecimento das sanções aplicadas em casos de fraudes eleitorais relacionadas à cota mínima de candidaturas femininas, impuseram aos partidos a necessidade de maior responsabilidade institucional.
Penalidades como a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a anulação de votos e a inelegibilidade de candidatos envolvidos têm se tornado medidas concretas para garantir o cumprimento efetivo das ações afirmativas previstas na legislação eleitoral.
Observa-se uma inflexão significativa nas práticas e estratégias dos partidos políticos, que passaram a incorporar a dimensão de gênero não apenas como um requisito legal, mas como um aspecto organizacional indispensável à sua sobrevivência eleitoral.
Ainda que muitas vezes de forma incipiente ou meramente simbólica, essa pressão jurídica tem provocado mudanças culturais dentro das legendas, com o surgimento de núcleos de mulheres, investimentos em formação política para pré-candidatas e maior atenção à visibilidade das mulheres filiadas.
Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Alziras (2020), apenas 17% (dezessete) dos diretórios partidários possuíam estruturas permanentes voltadas à promoção da participação feminina, revelando que o avanço institucional ainda enfrenta resistências internas.
Autoras como Flávia Biroli (2018) e Marlise Matos (2019) destacam que a judicialização da política de cotas contribuiu para ampliar o debate público sobre a sub- representação das mulheres, mas alertam que o cumprimento formal da cota não garante, por si só, a inclusão real, sendo necessária uma transformação mais profunda da cultura política partidária.
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, ao sancionar condutas fraudulentas e estimular a conformidade com as cotas de gênero, tem desempenhado papel essencial na reestruturação interna dos partidos e no avanço, ainda que gradual, da igualdade de gênero na política institucional brasileira.
O surgimento de partidos voltados para as pautas femininas, como o Partido da Mulher Brasileira (PMB), ressalta essa nova realidade. Embora enfrentando críticas a respeito de sua atuação, o PMB se propõe como uma resposta à demanda social e legal por mais representação feminina.
Esse partido, fundado em 2008, reflete um crescimento da consciência sobre a necessidade de vozes femininas na esfera política, ainda que sua trajetória tenha sido marcada por desafios e contradições. A diversidade de circunstâncias e experiências que as mulheres enfrentam exige uma abordagem que vá além da simples contabilização de candidatas, buscando de fato transformar as práticas partidárias e eleitorais.
Além disso, iniciativas internas como o PL Mulher, braço feminino do Partido Liberal, representam esforços relevantes na promoção da participação feminina na política. Por meio de campanhas de formação e capacitação de pré-candidatas, como o programa “Preparadas”, lançado em 2022, o núcleo busca não apenas cumprir formalmente a cota de gênero, mas também qualificar a presença das mulheres no processo eleitoral, oferecendo ferramentas para que estejam aptas a disputar cargos públicos de forma competitiva e consciente.
Ainda que muitas dessas ações sejam alvo de críticas por seu alcance restrito ou caráter performático, elas constituem um passo importante rumo à construção de um ambiente político mais inclusivo e representativo.
Iniciativas semelhantes também foram adotadas por outros partidos, como o PSDB- Mulher, que oferece cursos de formação política em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, e o PT Mulheres, que atua com enfoque em mobilização de base e formação ideológica.
Segundo levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2022), cerca de 60% das mulheres eleitas em 2020 participaram de algum tipo de programa de formação política promovido por partidos ou organizações parceiras, o que evidencia a relevância dessas ações para a viabilização de candidaturas femininas consistentes. Ao investir na formação política das mulheres, partidos como o PL sinalizam, ainda que de forma estratégica, uma tentativa de incorporar a agenda de gênero em suas estruturas internas e responder às exigências de uma sociedade cada vez mais atenta à representatividade.
A resposta à pressão jurídica e social deve ir além do cumprimento formal das cotas, resultando em transformações estruturais reais no interior dos partidos políticos. É necessário que as políticas de inclusão de gênero sejam acompanhadas de compromissos institucionais concretos com a equidade, capazes de garantir às mulheres não apenas o direito de disputar eleições, mas também a possibilidade efetiva de influenciar agendas e ocupar espaços de decisão.
Como destaca Flávia Biroli (2018), o acesso das mulheres à política precisa ser entendido como parte de um processo mais amplo de democratização, que envolve o enfrentamento das desigualdades históricas e estruturais que marcam a cultura política brasileira.
Portanto, o fortalecimento da participação feminina dependerá de um investimento contínuo em educação política, na promoção de mudanças culturais dentro dos partidos e na superação de práticas que restringem o protagonismo das mulheres a papéis simbólicos. Marlise Matos (2019) enfatiza que a inclusão real só será possível quando as organizações partidárias deixarem de tratar a equidade de gênero como mera exigência normativa e a incorporarem como eixo estratégico de atuação política.
Clara Araújo (2005) também aponta que a presença de mulheres nos espaços institucionais não garante, por si só, representatividade substantiva, sendo fundamental criar condições para que elas atuem com autonomia e legitimidade. O desafio persiste, e exige que os partidos abracem uma agenda comprometida com a transformação social e a justiça de gênero de forma permanente e coerente com os ideais democráticos.
Diante desse panorama, conclui-se que a atuação da Justiça Eleitoral tem sido um vetor decisivo para a ampliação da presença feminina na política brasileira. Esse impacto não se dá apenas pela aplicação de sanções às fraudes nas cotas de gênero, mas também pela promoção de uma mudança institucional nos partidos políticos. A Justiça, ao atuar de forma rigorosa, não só coíbe práticas desleais, mas também encoraja os partidos a se adequarem às novas exigências legais, inserindo mais mulheres em suas listas e candidaturas.
No entanto, o avanço em direção à igualdade de gênero exige mais do que o mero cumprimento formal da legislação atual. É essencial que haja um comprometimento efetivo com a construção de estruturas partidárias inclusivas.
Isso significa revitalizar as práticas internas dos partidos, desde a formação de lideranças até o oferecimento de condições reais para que mulheres possam concorrer e se destacar numa arena política historicamente dominada por homens. O fortalecimento de redes de apoio e mentorias também é fundamental, garantindo que novas vozes sejam não apenas ouvidas, mas respeitadas e valorizadas.
Além disso, um aspecto importante desse processo é o investimento contínuo em formação política. Oferecer cursos e capacitações pode empoderar mulheres, equipando-as com as habilidades necessárias para enfrentar os desafios da política.
Esse tipo de formação deve ser pensado de maneira acessível, considerando a realidade das mulheres que muitas vezes possuem menos recursos e oportunidades em comparação aos seus colegas homens. Assim, o engajamento em gerar mais conhecimento não só potencializa as candidaturas femininas, mas também contribui para a construção de uma base política mais consciente e preparada.
Por fim, é fundamental promover uma cultura política que valorize a participação feminina de maneira substancial. Campanhas de conscientização e ações afirmativas dentro dos partidos podem ajudar a mudar a percepção que a sociedade tem sobre a liderança feminina.
Impõe-se uma transformação estrutural que transcenda o cumprimento normativo e alcance as dinâmicas e valores intrínsecos aos partidos políticos, a fim de assegurar, de maneira substancial, a inclusão feminina nos espaços de poder. A participação equitativa das mulheres nos processos eleitorais é essencial ao fortalecimento da democracia representativa, promovendo uma configuração política mais plural, legítima e responsiva.
Tal avanço não contempla apenas os interesses femininos, mas enriquece o debate público com a diversidade de experiências e visões de mundo. Flávia Biroli (2018) destaca que “a representação política das mulheres deve ser compreendida como parte de um processo mais amplo de democratização”, que requer o enfrentamento das desigualdades históricas e estruturais presentes nas instituições políticas.
Todavia, os dados recentes evidenciam a limitada efetividade das ações afirmativas vigentes, indicando a necessidade de estratégias mais incisivas. A democracia, como princípio basilar do Estado Democrático de Direito, demanda não apenas a presença formal das mulheres no pleito, mas sua atuação qualificada e influente na formulação de políticas que respondam aos anseios de uma sociedade majoritariamente composta por mulheres.
6. A RESERVA DE CADEIRAS COMO MECANISMO DE INCLUSÃO FEMININA NOS PARLAMENTOS
A sub-representação feminina nos espaços legislativos, mesmo diante das cotas de candidaturas estabelecidas pelo artigo 10, §3º da Lei nº 9.504/1997, continua a ser um dos principais desafios à consolidação de uma democracia substantiva no Brasil. Apesar do avanço significativo que a criação de cotas representa, a realidade mostra que a aplicação dessa legislação muitas vezes é vaga e, em alguns casos, deliberadamente ignorada. A prática de candidaturas fictícias, que visam apenas cumprir uma formalidade legal e não garantem a efetiva participação das mulheres, é um exemplo claro das fragilidades dessa estratégia.
Não obstante os avanços conquistados pelas mulheres ao longo da história na luta por direitos civis e políticos, a sociedade brasileira ainda demonstra significativa resistência à adoção de políticas públicas eficazes voltadas à promoção da igualdade de gênero no espaço político.
É especialmente alarmante que, embora as mulheres representem 52,9% do eleitorado nacional, sua presença nas casas legislativas não ultrapasse 15% (TSE, 2022). Tal discrepância evidencia um abismo entre o princípio democrático da representatividade e a realidade da participação política feminina.
Importa destacar que essa limitada presença resulta, em grande medida, de políticas afirmativas já existentes — como a cota de gênero prevista na legislação eleitoral — que impõem aos partidos a obrigação de reservar um percentual mínimo de candidaturas femininas no momento do registro perante a Justiça Eleitoral. No entanto, a mera exigência formal de candidaturas não tem sido suficiente para garantir a efetiva ocupação de mandatos por mulheres, o que reforça a necessidade de medidas mais robustas, como a reserva de cadeiras nos parlamentos.
A Proposta de Emenda à Constituição 134/2015, apresentada pela então deputada federal Maria do Rosário, busca alterar a Constituição Federal de 1988 com o objetivo de implementar a reserva de cadeiras nos parlamentos para as mulheres. A proposta, que tramita desde 2015, visa garantir que um percentual mínimo de assentos nas câmaras legislativas (tanto na Câmara dos Deputados quanto nas Assembleias Legislativas) seja ocupado por mulheres, de forma a assegurar uma representação efetiva e condizente com a participação feminina na sociedade brasileira.
A PEC 134/2015 surge em um contexto de crescente debate sobre a sub-representação feminina nas casas legislativas, especialmente diante das limitações das cotas de gênero previstas na Lei nº 9.504/1997, que apenas garantem a presença mínima de mulheres como candidatas, mas não asseguram que elas efetivamente ocupem as cadeiras do parlamento.
A proposta estabelece que, nas eleições para as casas legislativas Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais e Câmara Legislativa do Distrito Federal, um percentual mínimo de cadeiras seja reservado para mulheres. Esse percentual deve ser progressivo, começando com 10% na primeira legislatura, alcançando 12% na segunda e, finalmente, 16% na terceira legislatura.
Além disso, a PEC determina que, caso os partidos não consigam atingir o percentual mínimo de representação feminina, as vagas restantes serão preenchidas por mulheres com maior votação nominal entre os candidatos de um mesmo partido, respeitando o quociente eleitoral. O preenchimento das vagas para mulheres será feito de maneira que os partidos que não atingirem o mínimo de cadeiras femininas sejam obrigados a incorporar mulheres eleitas com o maior número de votos, priorizando uma ocupação efetiva dos cargos.
Outro ponto da PEC 134/2015 é a implementação de suplentes de mulheres, ou seja, os candidatos não eleitos do gênero feminino que permanecerão na fila para ocupar uma vaga, conforme a ordem de votação nominal. Esse mecanismo visa garantir que, além das vagas diretas, as mulheres possam assumir cadeiras em caso de vacância ou substituição.
Se aprovada, a PEC 134/2015 poderá representar uma mudança significativa no panorama político brasileiro, buscando transformar a composição das casas legislativas e impulsionando uma maior representatividade das mulheres.
Essa proposta não apenas promete aumentar a presença feminina nas esferas de decisão, mas também pode estabelecer um precedente crucial para a implementação de cotas de gênero em outros espaços políticos e públicos. Dessa forma, a PEC evidencia um compromisso mais abrangente com a igualdade de gênero no Brasil, promovendo a inclusão de vozes historicamente marginalizadas.
Entretanto, a proposta enfrenta uma série de desafios que precisam ser considerados, especialmente em relação aos princípios da igualdade de oportunidades. Para muitos críticos, a reserva de cadeiras poderia infringir esse princípio ao tratar candidatos de forma diferenciada com base em seu sexo. A oposição levanta a questão de que tal medida poderia ser interpretada como uma forma de ação afirmativa excessiva. Segundo essa perspectiva, em vez de efetivar a igualdade real, a PEC poderia gerar desigualdades artificiais no processo eleitoral, prejudicando a competição entre candidatos independentemente de seu gênero.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), declarou que está em diálogo com os líderes partidários na tentativa de construir um consenso em torno da Proposta de Emenda à Constituição 134/2015, que visa à reserva de cadeiras para mulheres nas casas legislativas.
Segundo Lira, essa medida seria uma alternativa à atual exigência legal de 30% de candidaturas femininas nas eleições proporcionais. Em suas palavras, “é mais salutar garantir as cadeiras com as progressões previstas na PEC e corrigir distorções nas casas legislativas” (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2024).
Ainda conforme o presidente, a proposta representa um avanço, pois “há uma progressão para garantir mais diversidade no Parlamento”, embora reconheça que “a reserva de cadeiras gera resistência” entre os parlamentares em razão do mérito da medida (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2024).
Apesar da possibilidade de ser incluída na pauta da minirreforma eleitoral, ainda não há consenso definitivo entre os deputados sobre os percentuais ou a sua implementação.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 134/2015, que propõe a reserva de cadeiras para mulheres no Legislativo brasileiro, alinha-se a uma tendência internacional de adoção de políticas afirmativas voltadas à equidade de gênero na política. Países como Ruanda, Bolívia e México implementaram modelos semelhantes, resultando em avanços significativos na representatividade feminina.
Em termos de experiências internacionais, a PEC 134/2015 segue uma tendência crescente de implementação de políticas afirmativas para garantir maior equidade de gênero nos parlamentos. Países como Ruanda, Bolívia e México adotaram modelos de reserva de cadeiras, com resultados positivos na ampliação da presença feminina na política.
Em Ruanda, por exemplo, a Constituição de 2003 estabeleceu uma cota mínima de 30% para mulheres em cargos decisórios. Essa política, aliada a outras iniciativas, contribuiu para que, nas eleições de 2013, as mulheres ocupassem 67% das cadeiras no Parlamento ruandês, incluindo assentos reservados e não reservados. Atualmente, Ruanda mantém uma das maiores proporções de mulheres no Legislativo mundial, com 61,3% das cadeiras da Câmara dos Deputados ocupadas por mulheres.(SDG16 PLUS, 2021)
Esses dados demonstram que a adoção de cotas de cadeiras pode ser uma estratégia eficaz para promover a participação feminina na política. No contexto brasileiro, a implementação da PEC 134/2015 poderia representar um passo significativo na promoção da igualdade de gênero e na ampliação da diversidade nos espaços de poder.
Embora a Constituição Federal de 1988 tenha representado um marco histórico ao consolidar o princípio da igualdade entre homens e mulheres, possibilitando o surgimento de um constitucionalismo feminista no Brasil, observa-se que a efetivação dessa igualdade ainda encontra entraves significativos. A norma constitucional, embora essencial, não tem sido suficiente para garantir a plena participação feminina nos espaços de poder.
Mesmo diante de ações afirmativas e da atuação firme da Justiça Eleitoral no combate às fraudes relacionadas à cota de gênero, bem como na promoção de campanhas voltadas à inclusão feminina na política, a participação das mulheres nas disputas eleitorais permanece tímida. Muitas sequer cogitam ingressar nesse meio, seja por falta de incentivo, seja pelas barreiras estruturais que persistem no ambiente político.
A proposta de reserva de cadeiras legislativas para mulheres encontra respaldo nos princípios democráticos e no ideal de representatividade estabelecidos na Constituição. Trata- se de uma tentativa de alinhar o Direito à realidade social contemporânea, moldando-se às transformações e necessidades da maioria, em vez de manter-se ancorado em estruturas que perpetuam desigualdades históricas.
É evidente, como demonstrado ao longo deste trabalho, que a sub-representação feminina no parlamento é um problema persistente, e sua superação enfrenta resistência justamente daqueles que hoje detêm a maioria dos cargos legislativos: os homens. A dificuldade de aprovação de medidas mais ousadas, como a reserva de cadeiras, reflete o desequilíbrio de poder e a falta de comprometimento institucional com a equidade de gênero.
Contudo, é fundamental reconhecer que não se trata de um silêncio voluntário por parte das mulheres, mas sim da expressão de um contexto opressor que historicamente marginalizou sua presença na esfera pública. Diante dos inúmeros obstáculos enfrentados pelas mulheres para ingressar e permanecer na política, a existência de ações afirmativas não deveria ser necessária. No entanto, vivemos em uma sociedade marcada por uma cultura patriarcal e machista profundamente enraizada, que ainda reluta em reconhecer a plena legitimidade da atuação feminina nos espaços de poder.
Como afirma Flávia Biroli (2018, p. 43), “a exclusão das mulheres da política não é um acidente, mas resultado de dinâmicas estruturais e culturais que produzem desigualdade e limitam a atuação feminina na vida pública”.
Assim, romper com essa estrutura excludente exige mais do que reformas legislativas: requer uma transformação cultural profunda. A reserva de cadeiras não deve ser vista como um privilégio, mas como uma medida de justiça histórica, capaz de ampliar a pluralidade e a representatividade no processo democrático. Ao ocupar os espaços que lhes são de direito, as mulheres não apenas contribuem para uma política mais justa e inclusiva, mas também ajudam a desvelar os véus do preconceito e da exclusão, reafirmando o compromisso constitucional com a igualdade.
7 CONCLUSÃO
A trajetória da mulher na política brasileira é marcada por lutas históricas, resistências culturais e avanços normativos que, gradualmente, vêm promovendo a inclusão feminina nos espaços de poder. Da exclusão sistemática herdada de uma estrutura patriarcal ao reconhecimento do direito ao voto, o percurso das mulheres evidencia não apenas a persistência de desigualdades de gênero, mas também a potência dos movimentos sociais e das garantias legais como instrumentos de transformação. A partir da análise histórica, sociopolítica e jurídica apresentada ao longo deste trabalho, foi possível constatar que, embora importantes marcos legais tenham sido implementados – como a Lei nº 9.504/1997, a Lei nº 12.034/2009 e, mais recentemente, a Lei nº 14.192/2021 –, a sub-representação feminina permanece como um desafio significativo à democracia representativa.
Apesar dos avanços institucionais promovidos pela Justiça Eleitoral no sentido de assegurar a paridade de gênero, a participação feminina na política ainda encontra fortes barreiras estruturais e simbólicas. Mesmo sendo maioria da população e do eleitorado brasileiro, as mulheres continuam sub-representadas nos espaços de poder: após as eleições de 2022, ocupavam apenas 17,7% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Tal discrepância revela que as ações afirmativas, como a cota de gênero, embora fundamentais, não têm sido suficientes para promover a igualdade substancial no campo político. A permanência de uma cultura patriarcal enraizada nas instituições e nos partidos políticos compromete a efetividade das normas e impede o avanço concreto da democracia representativa.
Muitas mulheres que desejam se candidatar ou ocupar posições de liderança enfrentam resistência tanto no interior dos partidos quanto na sociedade em geral. São frequentemente alvos de discursos desqualificadores, sendo rotuladas como “loucas”, “incapazes” ou vistas como invasoras de um espaço historicamente masculino. Como analisa Flávia Biroli (2018, p. 69), “a política é um espaço em que normas de gênero são reiteradas e têm impacto direto sobre a percepção da legitimidade da atuação feminina”. Débora Thomé (2016, p. 54) complementa afirmando que “as mulheres são alvo de constantes questionamentos sobre sua competência, aparência ou comportamento, o que inviabiliza sua atuação plena e autônoma”. Essa constante deslegitimação desestimula novas candidaturas e afeta diretamente a qualidade democrática do sistema.
Além disso, há um discurso recorrente, amplamente difundido, de que “mulher não vota em mulher”, usado muitas vezes para justificar a baixa votação de candidatas e a consequente sub-representação feminina. Essa afirmação, no entanto, desconsidera o papel das estruturas partidárias, da desigualdade no acesso aos recursos de campanha e da invisibilização das candidaturas femininas nos meios de comunicação. Como aponta Valesca Zanello (2020, p. 102), a desvalorização simbólica das mulheres na política é um dispositivo de gênero que produz subjetividades marcadas pela insegurança e pela autossabotagem, dificultando tanto a candidatura quanto o apoio eleitoral entre mulheres.
Portanto, atribuir exclusivamente a responsabilidade às eleitoras ignora as dimensões estruturais da exclusão, deslocando o debate de forma injusta e simplificadora. O enfrentamento dessas distorções exige não apenas reformas legais, mas uma profunda transformação cultural e institucional.
No entanto, não podemos deixar de considerar e ressaltar a importância da atuação da Justiça Eleitoral, especialmente no tocante à cota de gênero, pois tem sido um dos principais instrumentos para a promoção da participação feminina na política brasileira. Com o endurecimento das sanções a fraudes eleitorais e práticas que comprometem a efetividade das ações afirmativas, os partidos políticos passaram a adotar novas posturas e estratégias para garantir o cumprimento das normas e evitar penalizações.
Nesse cenário, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem se mostrado firme na cassação de chapas proporcionais inteiras que fraudam a cota de gênero, o que trouxe uma mudança significativa nas práticas partidárias. Exemplos notórios incluem os julgados em que o TSE anulou candidaturas femininas com apoio mínimo ou inexistente, o que pressionou os partidos a repensarem suas estratégias.
A partir da análise das candidaturas fictícias, das fraudes às cotas de gênero e da resposta da Justiça Eleitoral, observamos um movimento jurisprudencial relevante, que busca consolidar as ações afirmativas como garantias reais e não meramente simbólicas. Nesse sentido, destaca-se o papel essencial do Poder Judiciário na repressão a práticas ilícitas e na indução de comportamentos mais inclusivos por parte dos partidos políticos.
A reserva de cadeiras nos parlamentos, como uma medida afirmativa para garantir maior representatividade feminina, surge como uma proposta fundamental para a construção de uma democracia verdadeiramente inclusiva e plural.
A implementação dessa política, já observada em diversos países, como Ruanda, Bolívia e México, visa combater a sub-representação das mulheres e promover uma maior equidade de gênero nas esferas de decisão. No Brasil, a PEC 134/2015, que propõe a criação de cotas para mulheres nas casas legislativas, demonstra o compromisso do país com a promoção da igualdade de gênero e com a inclusão política das mulheres. Contudo, sua adoção enfrenta resistência, sobretudo de setores conservadores, que questionam sua compatibilidade com os princípios de igualdade de oportunidades.
A efetividade da medida dependerá de um conjunto de ações que envolvem não apenas a criação de normas legais, mas também uma transformação profunda nas estruturas internas dos partidos e nas práticas políticas tradicionais. O caminho para uma representação feminina plena nos espaços de poder exige a superação de barreiras estruturais e culturais, além da consolidação de ações afirmativas que garantam, de fato, a inclusão das mulheres nos processos decisórios.
Todavia, também se conclui que as mudanças jurídicas, por si sós, não são suficientes. É imprescindível que essas normas sejam acompanhadas de mudanças culturais profundas, que alterem as estruturas internas dos partidos, promovam a formação de lideranças femininas e assegurem às mulheres não apenas o direito de se candidatar, mas a real possibilidade de exercer poder.
Por fim, importante destacar que este trabalho adota uma perspectiva apartidária, não se propondo a promover ou criticar qualquer legenda política específica. O objetivo primordial desta pesquisa é ressaltar a necessidade de inclusão da mulher nos espaços decisórios da política, a partir de uma abordagem crítica e fundamentada sobre os aspectos jurídicos e jurisprudenciais que vêm evoluindo para garantir sua participação efetiva. A construção de uma democracia plural e representativa depende, sobretudo, do reconhecimento da equidade de gênero como princípio basilar do Estado Democrático de Direito.
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. A democracia no Brasil: dilemas e perspectivas. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 106, p. 29-45, jul. 2016.
ARAÚJO, Clara; ALVES, José Eustáquio Diniz. A sub-representação feminina na política e a importância dos partidos: a eleição de 2010 para a Câmara dos Deputados. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 19, n. 39, p. 115-132, out. 2011.
BARROSO, Luís Roberto. A judicialização da vida: o novo papel da Suprema Corte brasileira. Belo Horizonte: Fórum, 2022.
BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Tradução de Sérgio Milliet. 3. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1967.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https:<//www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.> Acesso em: 10 maio 2025.
BRASIL. Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm. Acesso em: 10 maio 2025.
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019. Dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-609-de-18-de- dezembro-de-2019>. Acesso em: 10 maio 2025.
CAMPOS, Carmem Lúcia Antunes Rocha. Igualdade e efetividade: uma visão constitucional do princípio da igualdade. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 211, p. 11-35, jan./abr. 1998.
CARVALHO, Salo de. A política criminal patriarcal e os paradoxos do direito penal simbólico. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 97, p. 59-90, 2013.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2000.
CHRISTINA, Marta. Gênero e política: o lugar das mulheres na representação política. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 22, n. 2, p. 517-528, maio/ago. 2014.
DIAS, Maria Berenice. A cota de gênero e as candidaturas fictícias. Revista Eletrônica do IBDFAM, Belo Horizonte, 2021. Disponível em: <https://ibdfam.org.br>. Acesso em: 10 maio 2025.
ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São Paulo: Boitempo, 2019.
FALCÃO, Joaquim; MARTINS, Rubens Glezer; ARGUELHES, Diego Werneck. Supremo em números: o Supremo e o gênero: os desafios das candidaturas femininas fictícias. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2022.
FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017.
FREIRE, Ana Paula da Silva. Mulheres na política: desafios e perspectivas. Revista Direito e Sociedade, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 45-67, 2020.
GUEDES, Ana Paula. Participação política das mulheres e o sistema eleitoral proporcional de lista aberta. Revista Brasileira de Direito Eleitoral, Brasília, v. 3, n. 2, p. 87-102, jul./dez. 2017.
INSTITUTO ALZIRA DINIZ. A cota de gênero nas eleições: avanços e desafios. Brasília: IAD, 2022.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 maio 2025.
LERNER, Gerda. A criação do patriarcado. Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Cultrix, 2019.
LIMA, Ana Cláudia Farranha de. A cidadania das mulheres no Brasil: avanços e desafios. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 57, n. 227, p. 131-150, jul./set. 2020.
LIMA, Giovana. Candidaturas fictícias: fraudes à cota de gênero nas eleições brasileiras. Consultor Jurídico – Conjur, São Paulo, 21 mar. 2023. Disponível em:< https://www.conjur.com.br>. Acesso em: 10 maio 2025.
LUTZ, Bertha. A luta pelo voto feminino no Brasil. Brasília: Senado Federal, 2008.
MACHADO, Lia Zanotta. Gênero, representação e poder político no Brasil. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 24, n. 3, p. 823-846, set./dez. 2016.
MAIA, Maria Claudia Bucchianeri. Ações afirmativas e direito eleitoral: o princípio da igualdade como fundamento da legitimidade democrática. Revista de Direito Eleitoral, Curitiba, v. 1, n. 2, p. 211-234, jul./dez. 2015.
NASCIMENTO, Daniela Lopes. A inclusão das mulheres no espaço político e a fraude à cota de gênero. Revista de Direito Público Contemporâneo, Fortaleza, v. 5, n. 2, p. 67-90, 2023.
ONU MULHERES BRASIL. Participação política das mulheres: panorama e desafios. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br>. Acesso em: 10 maio 2025.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos das mulheres. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.
RIBEIRO, Danielle. A eficácia da lei de cotas de gênero nas eleições brasileiras. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 12, n. 1, p. 145-162, 2022.
RODRIGUES, Marilda de Paula Silveira. Fraude à cota de gênero: enfrentamento e consequências jurídicas. Revista Brasileira de Direito Eleitoral, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 45-67, jan./jun. 2021.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
SANTOS, Suiane dos. Barreiras estruturais à participação feminina na política: um olhar interseccional. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 89-113, 2020.
SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Tradução de Carla Cristina Garcia. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 5-22, jul./dez. 1991.
SILVA, Claudia. Reserva de vagas para mulheres no Legislativo: uma proposta necessária. JOTA, Brasília, 18 ago. 2022. Disponível em: <https://www.jota.info>. Acesso em: 10 maio 2025.
TAVARES, André Ramos. Direito constitucional: teoria, história e prática. 6. ed. São Paulo: Método, 2021.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE. Estatísticas eleitorais: candidaturas por sexo. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.tse.jus.br>. Acesso em: 10 maio 2025.
