REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/dt10202501301258
Daniel Inácio da Silva
Orientador(a): Mariana Crespo
RESUMO
Introdução: O suicídio é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É a segunda maior causa mundial de mortes evitáveis entre pessoas de 15 a 29 anos, somando aproximadamente 800 mil casos de mortes no mundo todo, sendo que 75% destes estão concentrados em países considerados de baixa renda. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. As mortes por suicídio se tornam mais preocupantes se observar que se trata de um tipo de morte que pode ser evitada, sendo que nove a cada dez casos podem ser evitados, caso se proporcione intervenção adequada às pessoas com desespero e desesperança e apresentando pensamentos suicidas. Tendo em vista esse panorama, no Brasil, em 2015, por meio do Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), foi criada a iniciativa Setembro Amarelo que através de Estratégias Educativas, buscam ajudar as pessoas terem mais conhecimento sobre suicídio, instruir como prevenir e disponibilizar canais para procurar auxílio. Propõe-se associar o amarelo ao mês de setembro, criando, assim, uma marca, devido ao dia mundial de prevenção ao suicídio, que é celebrado no dia 10 de setembro. Objetivo: O presente estudo se propõe verificar se as estratégias educativas do Setembro Amarelo, realizadas em Belo Horizonte, apresentam impacto na redução do número de casos de suicídio. Metodologia: Buscar-se-á a liberação da base de dados da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, os números de notificação compulsória de casos de suicídio mês a mês, de janeiro a dezembro de 2018, 2019 e 2020, para fazer a comparação entre os anos e verificar se ocorre uma diminuição da curva de suicídios a partir de setembro, quando são realizadas as estratégias educativas do Setembro Amarelo. Serão feitas entrevistas dirigida, visando entender a percepção dos colaboradores do Centro de Valorização da Vida sobre a importância do Setembro Amarelo e solicitar os dados das buscas por atendimento, para saber se há um aumento da procura por auxílio para prevenção ao suicídio no mês de setembro e comparar com os outros meses do ano. Um crescimento na procura e uma diminuição na curva de número de casos podem significar que as estratégias educativas do Setembro Amarelo produzem impactos significativos. Resultados esperados: A hipótese de trabalho é que existe uma redução nos números de casos de suicídios, em decorrência das ações educativas realizadas no Setembro Amarelo, mostrando o impacto e a eficiência, de tais ações, em reduzir os casos de suicídio em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Palavras-chave: Suicídio, Estratégias Educativas, Setembro Amarelo.
Abstract
Suicide is a serious public health problem, it is the world’s second leading cause of preventable deaths among people aged 15 to 29, accounting for approximately 800,000 deaths worldwide, 75% of which are concentrated in low-income countries. It is estimated that every 40 seconds a person takes their own life. Deaths by suicide become even more worrisome if one observes that it is a type of death that can be avoided, with nine out of ten cases being preventable, if adequate intervention is provided for people with despair and hopelessness and with suicidal thoughts. In view of this scenario, in 2015 in Brazil, through the Centro de Valorização da Vida, the Federal Council of Medicine and ABP (Brazilian Association of Psychiatry), the “Yellow September” initiative was created, which, through Educational Strategies, seeks to help people have more knowledge about suicide, instruct how to prevent it and provide channels to seek help. It is proposed to associate yellow with the month of September, thus creating a brand, due to the World Suicide Prevention Day, which is celebrated on September 10th.
The present study aims to verify if the educational strategies of Yellow September, carried out in Belo Horizonte, have an impact on reducing the number of suicide cases. Being able to release and use the database of Health Department in Belo Horizonte, the numbers of compulsory notification of suicide cases month by month, from 2018 to 2020 and make a comparison between the years and verify if there is a decrease in the suicide curve from September, when the educational strategies of the Yellow September are carried out. Directed interviews will be carried out in order to understand the perception of the employees of the “Centro de Valorização da Vida” on the importance of Yellow September and request data from the search for care, to find out if there is an increase in the demand for help for suicide prevention in the month of September and compare with the other months of the year. An increase in demand and a decrease in the number of cases can mean that the educational strategies of Yellow September produce significant impacts. The working hypothesis is that there is a reduction in the number of suicide cases as a result of the educational actions carried out in Yellow September, showing the impact and efficiency of such actions in reducing suicide cases in Belo Horizonte, Minas Gerais.
Keywords: Suicide, Educational Strategies, Yellow September.
1. INTRODUÇÃO
É a segunda maior causa mundial de mortes evitáveis entre pessoas de 15 a 29 anos em todo mundo, soma-se mais de 800 mil pessoas que perdem sua vida em decorrência dele, estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete tal ato, conforme relatos de Conforme Silva, Prates, Cardoso, & Rosas (2018). De acordo com Durkheim (2014) trata-se de um fenômeno mundial, e vem sido discutido em diversas culturas ao redor do mundo, sendo tratado por algumas como ato motivado pelo Demônio, em outras visto até como heroísmo, ou até mesmo doença da mente. Este fenômeno vem sendo pesquisado sobre várias óticas, desde perspectiva mágica, espiritual, social, biológica, psicológica, e histórico, até se tornar uma questão de saúde pública, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), conforme Botega (2015). Tendo em vista tais dimensões que tem se tomado durante os séculos, foram sendo formuladas estratégias para lidar e tentar combater tal fenômeno, o Suicídio.
De acordo com Botega (2015), o termo suicídio foi descrito pela primeira vez no século XVII, em substituição de homicídio de si próprio, recebendo, no nome, “sui = de si próprio; caedere = matar”, derivado do latim (p.15). Segundo Durkheim (2014 p.16), “chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta e indiretamente de um ato positivo e negativo realizado pela própria vítima, e que ela sabia que produziria esse resultado”. De acordo com o autor, trata-se de comportamentos realizados pelo sujeito, de forma ativa, cujo objetivo final é a morte, ou, até mesmo, a falta de comportamentos, ou seja, a passividade feita de forma consciente, em que o sujeito busca como finalidade dessa falta de atividade a morte.
Por observar a complexidade do fenômeno do suicídio e perceber os impactos socioeconômicos, Durkheim (2014) mostrava a importância de se quantificar os números e procurar compreender os fatores comuns para se buscar em cada país formas de controlar e reduzir os casos de suicídio.
Além de quantificar, através de dados estatísticos, entender tal comportamento através bases científicas, por meio de teorias baseadas em evidências, podem contribuir para compreender a dinâmica do suicídio e propor intervenções visando reduzir às ocorrências mortes por suicídio.
O comportamento suicida é bastante complexo. Ribeiro & Moreira, Marcelo (2018) apresentam fatores biopsicossociais em sua gênese, ou seja, uma interação de fatores sociais, da organização e da dinâmica social, em interação com fatores individuais, relacionados a questões biológicas, psicológicas e ambientais. Este conjunto de fatores pode contribuir para que os indivíduos tenham pensamentos de morte e tentem contra a própria vida.
Conforme Wenzel, Brown & Beck (2010), a teoria cognitiva comportamental estudou o comportamento suicida e chegou a importantes conclusões sobre um conjunto de fatores de risco, que, somados a um quadro de psicopatologia, podem ativar esquemas desadaptativos, aumentando a probabilidade de indivíduos chegarem a cometer suicídio. Trata-se de aspectos psicológicos, como: desesperança, cognições relacionadas ao suicídio, impulsividade, déficit de solução de problemas e atitudes disfuncionais. De acordo com Méa, Della, Sabrina, Vinícius, & Wagner (2015), com base na terapia cognitiva comportamental, buscaram-se levantar fatores que podem contribuir para o ato do suicídio. Por meio de pesquisas, encontrou-se um conjunto de padrões de cognições e emoções desadaptativas, que se traduzem em focar nos defeitos pessoais, ter vergonha de si, intolerância e sensibilidade à crítica, apresentação de sentimentos de inferioridade, de rejeição, de ser uma pessoa ruim, problemática e, dessa forma, não desejada e indigna de amor.
De posse de como buscar os dados estatísticos sobre casos de suicídio e sobre a compreensão de sua dinâmica teórico explicativa, Botega (2015) relata que a OMS deixou a cargo ficam a cargo de todos os países a buscarem a identidade de tal fenômeno em seu contexto e entender seu perfil sociodemográfico, pois em cada cultura, conforme levantou Durkheim (2014) apresentam suas crenças e estigmas em cima do tema do suicídio e por isso precisa definir a forma e as estratégias que utilizará para tratar do comportamento suicida e reduzir as mortes por suicídio.
O Brasil ocupa o 8° lugar no ranking mundial, de acordo com Müller, Pereira& Zanon (2017). No Brasil, já se efetua o registro de dados relacionados a suicídio há alguns anos, e, de acordo com Botega (2014), de 1980 a 2006, houve um aumento de 29,5% nos casos. O autor relata que, em 2011, foram 9.852 casos notificados, estimando-se cerca de 27 mortes por dia. Já segundo Marcolan, & Silva (2019), o Brasil registrou 183.484 mortes por suicídio no período entre 1996 e 2016, com aumento de 69,6% de casos neste período. Já conforme levantado pelo Ministério da Saúde (2018), foi relatado que, entre 2007 e 2016, houve um aumento de 16,8% na taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes, sendo que, em 2015, foi notificado que 11.178 pessoas tiraram a própria vida, e, em 2016, 11.433 pessoas.
Conforme Botega (2014), no Brasil, o perfil sociodemográfico, em sua grande maioria, os casos de suicídio envolvem homens, idosos e indígenas, sendo que os fatores levantados como os mais comuns são o uso de substâncias químicas e transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Os meios usados para concretizar a ação geralmente dependem de cada região e da disponibilidade, sendo que, enforcamentos, arma de fogo, envenenamento e uso de medicações estão entre os mais listados, com certas diferenças entre homens e mulheres.
Em posse de tais dados faz-se necessário não somente teorizar, mas também realizar algo na prática, criando estratégias de políticas públicas, com investimentos financeiros para estudos, pesquisas e intervenções que apresentem efeitos e resultados na redução dos casos de suicídio.
Em 2015, foi instituído, conforme Bezerra & Silva. (2019), o projeto Setembro Amarelo, visando educar a população sobre o autoextermínio. De acordo com a descrição de Oliveira, Nóbrega, Gusmão, Santos & Franklin (2020), a iniciativa “Setembro Amarelo” trata-se de um projeto criado pelo Centro de Valorização da Vida que tem por objetivo falar sobre iniciativas educativas relativas ao suicídio. Teve início, no Brasil, em 2015, por meio do Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria. Segundo Lorenzett (2019) a campanha foi criada com o objetivo de falar sobre suicídio e ajudar as pessoas a quebrarem os tabus sobre o assunto, com estratégias educativas de disseminação do conhecimento, auxiliando na mudança dos pensamentos suicidas, para as pessoas não passarem ao ato. Além disso, a estratégia visa alcançar a população em geral, trazendo mais informações e mais conhecimento sobre os sinais, mostrando os recursos que podem ser procurados para ajudar na intervenção e na redução, de fato, do número de casos de suicídio. Busca um canal de atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, para quem deseja conversar sobre o desejo de morrer, e também informações sobre sinais e sintomas. Acesso a matérias e esclarecimentos acerca da iniciativa do Setembro Amarelo e sua relevância.
Fica a questão principal: tendo em vista o fenômeno mundial do suicídio e as tentativas contra a própria vida, seus impactos sociais e econômicos, as estratégias de educação visando à conscientização para prevenção, realizadas no Setembro Amarelo, são suficientes para reduzir os números de casos de suicídio em Belo Horizonte?
Uma das motivações da realização da pesquisa sobre suicídio se trata do contexto de trabalho do pesquisador, que é um dos maiores hospitais de trauma, urgência e emergência em Belo Horizonte Minas Gerais, e por acompanhar constantemente a internação de pessoas em decorrência de tentativas de autoextermínio. Então, foi levantada a questão: Quais medidas estão sendo adotadas para que os números de tentativas de suicídio e suicídio reduzam? Por isso, foi refletido que algo mais deveria ser feito, em nível social, levando-se em consideração os números de casos de suicídio no Brasil e no mundo. Tendo em conta os impactos do suicídio e suas tentativas, pode ser levantada outra questão: o que está sendo feito para reduzir os números de casos no País?
A relevância desta dissertação está na necessidade de se avaliar estratégias exitosas sobre a redução do número de casos de suicídio, buscando reforçá-las, caso o impacto esteja sendo positivo, ou propor mudanças, se não estiverem surtindo os efeitos desejados, levando-se em consideração que há uma grande necessidade de se intervir no fenômeno do autoextermínio e suas tentativas, para reduzir gastos públicos e possíveis impactos sociais. Analisar se as ações educativas do Setembro Amarelo são suficientes para reduzir o número de casos e verificar se são impactantes ou não na redução dos dados sobre suicídio e tentativas de autoextermínio, em Belo Horizonte, será relevante para a sugestão de medidas que funcionem efetivamente. Se for observado, a partir deste estudo, que as medidas são exitosas, apresentar-se-á uma iniciativa eficaz que poderá ser ampliada e aprimorada para a obtenção de mais e melhores resultados, com diminuição dos gastos com leitos e dos impactos sociais. Caso seja verificado que não há impactos relevantes, será uma oportunidade para a realização de mudanças de estratégias, sabendo-se que existe uma necessidade real de intervenção.
Essa iniciativa poderá proporcionar uma mudança de paradigmas de intervenção, ou fortalecimento desta, visto que o suicídio leva a vida de muitas pessoas, além de onerar o Estado com verbas que poderiam ser usadas para outros fins, como, por exemplo, em práticas que visem à preservação de vidas, propiciando, assim, a readequação dos investimentos financeiros públicos.
Esta pesquisa verificará os impactos da variável “estratégias educativas do Setembro Amarelo”, na variável “número de casos de suicídio e tentativas de suicídio”, sugerindo ampliação ou modificação da intervenção. Será realizada uma busca na base de dados da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, dados sobre óbitos por suicídio no período de 2018 a 2020. Será feito uma busca sobre o quantitativo de atendimentos realizados a pessoas com pensamentos suicidas pelo CVV nos período de 2018 a 2020. A Hipótese trabalhada é que, as Estratégias Educativas, realizadas nos ações do Setembro Amarelo, são eficientes a ponto de reduzir os números de casos de óbito por suicídio, sendo possível observar na curva de números óbitos que apresentarão uma redução a partir do mês de Setembro.
CAPÍTULO 1: PERSPECTIVA HISTÓRICAS DO SUÍCIDIO
O fenômeno do suicídio está presente na humanidade desde os povos primitivos até os tempos atuais. Cada cultura e momento histórico lidam com o tema de formas diferentes, atribuindo mais ou menos importância e considerando-o como algo condenável ou não, de acordo com o tempo histórico, com as crenças religiosas, morais, legais, políticas e econômicas. Trata-se de um tema bastante complexo e cheio de estigmas, pois traz em si a questão da morte e, ainda mais, a morte causada pelo próprio indivíduo.
Antes de localizar o suicídio na história, é necessário discutir sobre a definição de tal fenômeno e entender um pouco sobre sua complexidade. De acordo com Botega (2015), o termo foi descrito pela primeira vez no século XVII, em substituição de homicídio de si próprio, recebendo, no nome, “sui = de si próprio; caedere = matar”, derivado do latim (p.15). No decorrer do tempo, foi sendo modificado, buscando-se delimitar seu significado, visando classificar as mortes que apresentavam características semelhantes.
Alguns pesquisadores se debruçaram sobre o tema do suicídio a fim de compreender, nomear e delimitar seu conceito. Dentre eles, Émile Durkheim (1858-1917), um importante sociólogo, que contribuiu com respeitáveis discussões sobre o alcance do suicídio, propondo uma definição que compreendesse questões individuais e sociológicas do fenômeno. Segundo Durkheim (2014 p.16), “chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta e indiretamente de um ato positivo e negativo realizado pela própria vítima, e que ela sabia que produziria esse resultado”. De acordo com o autor, trata-se de comportamentos realizados pelo sujeito, de forma ativa, cujo objetivo final é a morte, ou, até mesmo, a falta de comportamentos, ou seja, a passividade feita de forma consciente, em que o sujeito busca como finalidade dessa falta de atividade a morte. Ao apresentar tal definição, Durkheim trouxe à tona que fazer algo para tirar a própria vida, de forma consciente, é considerado suicídio, colocando em questão que, algumas vezes, o indivíduo apresenta um grande desapego à vida, sendo considerado também suicídio ele se deixar morrer de modo consciente.
Em concordância com Durkheim, Borba & Cunha (2016) definem suicídio como uma lesão autoprovocada, de forma intencional, com o objetivo de causar a morte, considerando que se trata de uma questão complexa, que afeta todas as culturas, e que suas causas são multifatoriais, assim como os fatores biopsicossociais. Observa-se que Borba e Cunha deixam de citar atitudes passivas que são consideradas por Durkheim, mas ambos os autores apontam fatores sociais que podem contribuir para tal ato, e não somente aspectos individuais, pois acreditam ser este um fato bem complexo e que deve ser considerado e estudado em sua complexidade, para que se aborde e busque soluções levando-se em consideração a totalidade desta questão. Para se considerar a construção do termo e compreender como foi sendo construído, delinear-se-á um pouco da história do suicídio na humanidade.
1.1 Suicídios na História
Desde um costume realizado como sacrifício aos deuses em rituais tribais, passando por questões sociais, políticas, religiosas, tratadas pela igreja como influência do demônio, e, contemporaneamente, visto pela medicina como adoecimento da mente, sendo tratado como questão de saúde pública, o suicídio esteve presente na humanidade. Sua importância como algo a ser evitado ou, às vezes, até incentivado depende muito do período histórico e do contexto socioeconômico e cultural.
1.2 Povos primitivos
De acordo com Botega (2015), na história dos povos, havia algumas crenças relacionadas com a morte autoinfligida. Por meio do autoextermínio, acreditava-se que eram feitos sacrifícios aos deuses como forma de se obter favores das divindades, para evitar a fúria destes sobre a Terra, buscando, também, uma forma de encontrar o paraíso e alcançar a vida eterna.
O autor supracitado ainda afirma que as crenças mágicas e espirituais relacionadas à morte eram bastantes presentes na vida dos povos primitivos. Havia a crença de que os espíritos dos mortos poderiam atormentar os vivos, causando-lhes algum prejuízo, principalmente quando eram mortes autodirigidas. Para que os espíritos dos mortos não causassem mal, era incentivado que outras pessoas da família tirassem a própria vida, para que o espírito destas pudesse destruir o espírito oponente. Em outros casos, as pessoas de idade avançada eram levadas a cometer suicídio, pois acreditava-se que elas eram um fardo social e, fazendo tal “ato de benevolência”, estariam contribuindo com toda a população. Os atos mencionados apresentam características religiosas e culturais nos quais o suicídio apresentava características aceitas e, às vezes, até incentivadas, como forma de contribuir para a sobrevivência e o desenvolvimento social e também para preservar costumes e rituais.
1.3 Grécia antiga
A Grécia Antiga foi uma época ainda permeada pela relação com os deuses, mas já evoluindo para um discurso filosófico e social, conforme citado por Botega (2015) e Rivera & Gonzalo (2015). Inicialmente, o suicídio era tolerado, desde que não fosse feito como uma tentativa de afronta aos deuses, sendo que, caso fosse considerado um ato de rebeldia às divindades, o cadáver era sepultado de maneira incomum, sendo realizadas mutilações no corpo, que era enterrado separadamente dos corpos dos demais cidadãos. Em algumas ocasiões, o Estado, de certa forma, teria o poder de conceder ao sujeito o direito de tirar a própria vida, desde que passasse por avaliação do próprio Estado. Dessa forma, sendo analisadas as causas, se fosse constatado que o sujeito teria o direito de tirar a própria vida, concediam-se os meios para isso. Com o passar dos anos, com os discursos filosóficos e políticos já mais desenvolvidos, tornou-se um discurso de caráter sociopolítico, em que Sócrates e Platão apresentavam seus posicionamentos. Platão considerava aceitável, dependendo da situação de sofrimento do indivíduo; e Sócrates apresentava-se contra tal ato, mas ironicamente tirou a própria vida. Aristóteles, por sua vez, julgava uma fraqueza dos indivíduos e um insulto ao Estado, pois este seria enfraquecido por perdas de pessoas que poderiam ser úteis à sociedade.
1.4 Roma
No período Romano, de acordo com Silva & Dabat (2009), houve fases divergentes, entre tolerar ou não o autoextermínio. O que se observa nos relatos das autoras é que, na Roma Antiga, nem sempre se tratava de algo que era punível com sansões legais; a morte por suicídio poderia até ser validada, desde que ocorresse por razões criteriosas, geradas por infortúnios e sofrimento. Havia preocupação, também, com o enfraquecimento do Estado e suas riquezas, sendo que o ato era proibido a escravos, soldados e criminosos. Já na fase imperial de Roma, conforme relatam Botega (2015) e Barbagli (2019), os direitos de decidir sobre a própria vida começaram a se modificar, e, por causa de doenças, guerras e falta de alimento, o que gerou muitas mortes, a mão de obra começou a diminuir, afetando o Estado. Dessa forma, tirar a própria vida começou a ser visto como algo imoral. Por isso, como tentativa de conter as mortes por suicídio, as pessoas que tiravam a própria vida eram condenadas, e seus familiares eram punidos, perdendo os direitos aos bens de seu ente.
Roma chegou ao período em que o cristianismo começou a ganhar força, quando tiveram início longos debates e reflexões acerca do suicídio. De acordo com Silva & Dabat (2009), as discussões eram voltadas a questões relacionadas aos sacrifícios em favor das causas cristãs, onde pessoas se entregavam voluntariamente à morte em favor de seus irmãos de Fé, como prova de amor a Deus e ao cristianismo. Conforme Botega (2015), neste contexto de grandes debates, surge Santo Agostinho, um teólogo de prestígio da época, que colocou em questão a vida como um dom divino e que, por ter sido dada por Deus, somente Ele poderia tirá-la. Dessa forma, mesmo estando em algum tipo de dor ou sofrimento, acabar com a própria vida contrariaria os preceitos divinos, e quem fizesse tal ato poderia sofrer aflições por toda a eternidade, fazendo com que a atitude de se matar começasse a ser vista como pecado grave.
Segundo Rivera e Gonzalo (2015), na Idade Média, os debates não pararam. Igreja e Estado, respaldados por crenças filosóficas, religiosas e morais, buscavam formas de conter e desaconselhar a morte voluntária. Por meio dos concílios, foram sendo criadas leis e, consequentemente, punições para quem cometesse autoextermínio. De acordo com Silva & Dabat (2009), no Concílio de Arles, em 452, o suicídio passou a ser crime impulsionado por forças demoníacas, sendo passível de punições. Os mesmos autores relatam que, nos concílios dos anos de 533, de Orleans; de Braga, em 563; de Auxerre, no ano de 578; e de Toledo, em 693, decidiu-se sobre o pecado contra Deus, devido à sacralidade da vida, perdendo-se os direitos a rituais da Igreja, como missas e cânticos, para os que concretizassem o ato suicida, e, para aqueles que cometessem alguma tentativa contra a própria vida, mas, de alguma forma, permanecessem vivos, eram excomungados da Igreja.
Conforme Botega (2015), no século XIII, Tomás de Aquino também deixou suas contribuições e refletiu sobre o autoextermínio em sua “Summa theologica”, ponderando que o suicídio não era um tipo de morte passível de arrependimento, sendo considerado pela Igreja uma das piores iniquidades contra o divino, pois as pessoas que cometiam tal ato estavam pecando por não acreditarem que Deus era bom e piedoso, e contra a Igreja, por não acreditarem em seu papel como representante de Deus na terra. Por esse motivo, se não era obra vinda de Deus, só podia estar inspirada no demônio. Ainda de acordo com o autor citado acima, com a influência da igreja, a legislação civil acrescentou que, além das consequências religiosas, seriam impostas punições materiais. O suicida era tido como consciente do que havia feito, por isso suas propriedades seriam apreendidas pela coroa, e seus herdeiros perderiam o direito a suas heranças.
Observa-se, nessa época, uma grande influência da Igreja no que se refere ao suicídio, sendo que esse tipo de morte foi considerado obra do diabo, pois, se a vida era um dom divino, somente o demônio poderia colocar no coração das pessoas o desejo de tirar a própria vida. Isso porque os discursos religiosos pregavam que Deus, e somente Ele, tinha o poder de tirá-la.
1.5 Séculos XVII: Questão humana ou Divina?
Conforme Barbagli (2019), a humanidade passou dos debates religiosos sobre a morte autoinfligida para, no século XVII, iniciar um discurso sobre o homem e sua individualidade, começando a modificação entre um conflito entre Deus e o demônio, onde o homem seria, de certa forma, parte desta luta entre o bem e o mal, para uma questão mais humana, permeada por conflitos internos e pessoais. De acordo com Silva e Dabat (2019), nesse período histórico, com a divulgação da escrita e um maior acesso à história de personagens icônicos que tiraram a própria vida, as questões humanas voltaram a ser discutidas, e os dogmas religiosos relacionados ao suicídio, colocados em questão. Passou a se pensar na autonomia do homem sobre sua vida e a questionar seus direitos sobre decidir como lidar com seu sofrimento e suas questões, tendo a liberdade de escolha entre viver e morrer diante da dor.
Em Rivera & Gonzalo (2015), observa-se que, nos séculos XVII e XVIII, o suicídio, ainda sendo foco de muitos discursos e estigmas sobre punição ou não, além de envolver questões religiosas e humanas, no meio científico, considerava-se que ele era algo do corpo, relacionado com a mente. Falava-se se em melancolia, onde o vazio e o desespero se fazem presente; dessa forma, o ato de se matar seria algo mais complexo, devendo ser considerado de vários ângulos.
De acordo com Minois (1998), o Iluminismo, movimento filosófico dos séculos XVII e XVIII, fomentou ainda mais os debates sobre as questões humanas e a liberdade de escolha e direitos, onde as indagações sobre a questão de “ser ou não ser”, viver ou morrer, seja por sofrimento ou não, estavam nas mãos do próprio homem, não cabendo ao Estado ou à Igreja decidir ou julgar tal ato. Ilustrado por meio de encenações teatrais, nos livros e jornais da época, esse debate passou a ser uma questão humana e de saúde da mente, mesmo com estigmas ainda muito presentes, com uma conotação maior de liberdade e um discurso mais voltado para questões humanas e pessoais.
O autor supracitado aponta que os casos de suicídio começaram a aparecer mais, devido a certa romantização literária de histórias de autoextermínio e aos debates filosóficos, aumentando, possivelmente, sua divulgação e levando a um provável efeito de contágio. Nesse panorama, Barbagli (2019) coloca em questão o afrouxamento das punições e regras para quem se matava ou realizava alguma tentativa, declarando que as ideias iluministas geradas pelos franceses sobre liberdade, autonomia e direitos humanos geravam aumento do número de mortes por suicídio. Por meio da divulgação ou do afrouxamento das regras e leis, o fenômeno de mortes voluntárias continuava a existir, e os estudos sobre esse fato avançavam, visando entender do que se tratava e o que era necessário fazer para lidar com esse tipo de morte. Dos tempos modernos à atualidade.
No período anterior da História, percebe-se que houve uma modificação na forma de se julgar o suicídio, alterando-se de uma percepção religiosa para uma concepção mais humana, de uma visão de influência do demônio para o campo da mente e do adoecimento. A morte por autoextermínio deixa de ser somente um discurso religioso e passa para o campo filosófico-científico, e, neste contexto, entramos na Era Moderna. Conforme Botega (2015), no século XIX, a sociedade passava por um grande desenvolvimento. Foi uma época de revolução industrial e de mudanças na estrutura cultural e nas relações humanas. Nesse período, surgiu Emile Durkheim, um importante sociólogo da Era Moderna, afirmando que o suicídio não se tratava de uma questão religiosa e humana, mas sim social.
Durkheim buscou compreender o suicídio e suas causas, realizando, para isso, um estudo estatístico por meio de dados levantados sobre casos de suicídio no mundo, procurando identificar características comuns. O seu livro “O suicídio: Estudo de Sociologia” é um marco para o estudo do suicídio na modernidade, pois levanta questões individuais como a loucura, o que já era discutido por autores da época, mas também relata causas sociais e da estrutura da cultura, que podem contribuir para que o sujeito chegue a tal ponto.
De acordo com Durkheim (2014), existem quatro estados mentais que levam ao suicídio: o maníaco, no qual delírios, alucinações, ideias e sentimentos confusos de grandeza podem levar a um ato impulsivo, que ocasiona a morte. O suicídio melancólico: estado ligado à tristeza extrema e à depressão, onde o sofrimento, a dor constante, o pessimismo, a anedonia e a falta de esperança podem contribuir para que a pessoa tire a própria vida. O suicídio obsessivo: os pensamentos obsessivos, ou seja, ideias repetitivas e intrusivas sobre morte fazem com que o sujeito se veja tomado por grande ansiedade e em uma luta interna contra os pensamentos de morte que invadem a mente dele, que, em um certo momento, acaba perdendo as forças para lutar e tenta se matar. O suicídio impulsivo: não tem motivações identificáveis ou um planejamento em si; o sujeito é inundado por um impulso, uma ideia fixa que o leva a cometer o suicídio em um rompante de impulsividade.
Apesar de identificar estados de doenças, de acordo com os discursos vigentes da época, Durkheim (2014) relata que pode haver indivíduos saudáveis mentalmente que se matam. Descreve que esses e outros fatores, combinados com as estruturas sociais, podem contribuir para que as pessoas se matem, apontando que o crescimento e o desenvolvimento social, as pressões das regras sociais, a moral social vigente, a estrutura social e suas características e a forma como tudo isso é imposto ao sujeito podem levá-lo a tirar a própria vida. Desse modo, amplia-se o olhar sobre o fenômeno deste tipo de morte, que, antes, era restrito à visão religiosa de pecado e, posteriormente, à loucura e à criminalização; mas, agora, com Durkheim, mostra-se um fenômeno também social.
Avançando na história da humanidade, ainda na Modernidade e, em seguida, na Pós-Modernidade, foram travados grandes debates e dilemas sobre a morte por suicídio, buscando-se a ampliação de seu entendimento e aprofundando na compreensão de seus fatores religiosos, mentais e sociais. Na Era Moderna e Pós-Moderna, vivenciou-se uma grande evolução tecnológica, onde a ciência e a tecnologia foram se ampliando, criando formas mais atualizadas de se quantificar e estudar os dados sobre morte por suicídio, levando à percepção de que se trata um assunto multifatorial e multicausal.
De acordo com Barbagli (2019), alguns estudiosos começaram a buscar dados estatísticos de alguns países sobre a morte por autoextermínio e concluíram, por meio desse levantamento, que os números eram crescentes em vários lugares do mundo. Durkheim, em seus estudos, chegou a conclusões parecidas, ilustrando seus achados através de dados estatísticos, relatados em seu livro mencionado anteriormente. O aumento do número dos casos o fez levantar a seguinte questão: que medidas serão tomadas pelas sociedades para fazer algo a respeito? Será tal fato tomado como algo natural? Não se dará valor ou se observará como um fenômeno, com sua devida importância, e se buscará, no meio das sociedades, formas de se evitar? Esses questionamentos foram estudados por Durkheim e têm instigado autores atuais a buscar respostas para eles.
Conforme Botega (2015), com o maior avanço da tecnologia, com mais preocupações sociais em relação às questões relacionadas à saúde, levando-se em consideração que o número de casos tem crescido com o passar dos anos, o suicídio passou a ser uma questão de saúde pública. De acordo com o autor supracitado, a Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 1990, começou a divulgar dados com mais regularidade, e os países iniciaram mais estudos científicos para abordar o suicídio, sendo que, já sob a ótica da saúde mental, começaram a ser construídas estratégias para se combater a expansão do suicídio no mundo. A OMS elaborou orientações sobre estratégias e ações a serem adotadas pelos países, norteando, por meio de estudos baseados em evidências, as maneiras de se evitar e priorizar a questão do suicídio nos países. Movidos pela iniciativa da OMS, outros países têm buscado conhecer melhor os aspectos do suicídio, visando combater ou frear o aumento dos casos. Neste contexto, o Brasil está incluído como um dos países que buscam compreender e criar políticas públicas para combater a morte por autoextermínio e suas consequências.
Diante dos relatos históricos, observou-se que a morte voluntária, mais tarde chamada de suicídio, passou por momentos diversos na humanidade, seja por uma questão de heroísmo, de fé, de liberdade, autonomia, uma questão do demônio, de saúde ou social. É importante observar que é necessário discutir e buscar alternativas contra tal ato, pois os rastros históricos do suicídio, em sua grande maioria, não trazem uma carga de positividade, pelo contrário, os relatos encontrados mostram estigmas, dor e sofrimento, que, de acordo com Durkheim (2014), sendo definido como doença ou não, o suicídio trata-se de algo complexo, mas evitável.
Capítulo 2. O suicídio no Brasil
No século XIX, Durkheim (2014) mostrava a importância de se quantificar os números e procurar compreender os fatores comuns para se buscar em cada país formas de controlar e reduzir os casos de suicídio. No capítulo anterior, descreveu-se a preocupação da OMS em relação ao levantamento de dados estatísticos e estratégias sobre o suicídio, como forma de se entender e tentar lidar com esse fato, que passou a ser tratado como questão de saúde pública.
Conforme Silva, Prates, Cardoso, & Rosas (2018), o suicídio é a segunda maior causa mundial de mortes evitáveis entre pessoas de 15 a 29 anos, somando aproximadamente 800 mil casos de mortes no mundo todo, sendo que 75% destes estão concentrados em países considerados de baixa renda. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida, e os autores apontam que esses números podem ser ainda maiores devido a falhas nas notificações sobre esse tipo de morte no mundo.
De acordo com Tavares, Marti, Vinicius, Franciele, Edleusa, Jacira, Rodrigo, & Rosa (2020) a taxa média mundial de mortalidade é de aproximadamente 11,6 óbitos por 100 mil habitantes, mas, existe uma variação desta taxa em alguns lugares no mundo, os autores citam ainda, que o Leste Europeu, por exemplo, as taxas de mortalidade são superiores a 30 por 100 mil habitantes; nos países escandinavos, esses valores ficam em torno de 20, ao passo que, no Sul da Europa, não atingem 10 por 100 mil habitantes, em comparação com o Brasil no mesmo período avaliado pelos autores (2014), os números foram de 5,73 por 100 mil em todo território Brasileiro, sendo que existe uma diferença considerável entre outros países e o Brasil, mas, os números ainda continuam preocupantes.
O Brasil ocupa o 8° lugar no ranking mundial, atrás apenas da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, da Coreia do Sul e do Paquistão de acordo com Müller, Pereira & Zanon (2017), e, segundo os dados supramencionados, é possível notar a grande quantidade de vidas que estão sendo perdidas por um tipo de morte que pode ser evitada. Além disso, os mesmos autores questionam que, diante de um número alarmante de casos, medidas precisam ser tomadas por meio de políticas públicas, gerando informações com a finalidade de educar sobre o autoextermínio, com o intuito de que as pessoas tenham mais conhecimento e rompam os preconceitos, para que, dessa forma, reduza-se o número de casos.
Há alguns anos, o Brasil vem buscando compreender, por meio de levantamento de dados, análise e comparação destes, o comportamento suicida no país, tentando traçar um perfil epidemiológico que poderá contribuir com o entendimento do fenômeno e propor possíveis intervenções. De acordo com Félix, Oliveira, Lopes, Parente, Dias, & Moreira (2016), os fatores sociodemográficos mudam de acordo com cada cultura, sendo relevante que cada país compreenda seu contexto.
De acordo com Botega (2015), no Brasil, os dados relativos a casos de morte são coletados por meio de informações dos atestados de óbitos, sistema de informação e mortes e DATASUS do Ministério da Saúde – fontes importantes, que trazem informações pertinentes, mas que precisam ser aprimoradas para se obter dados mais próximos ainda da realidade. Conforme Marcolan, & Silva (2019), infelizmente ainda existe subnotificação no País, ou seja, dados que não são notificados devido à grande extensão geográfica, à precariedade de alguns municípios e também por causa dos estigmas relacionados a esse tipo de morte.
No Brasil, já se efetua o registro de dados relacionados a suicídio há alguns anos, e, de acordo com Botega (2014), de 1980 a 2006, houve um aumento de 29,5% nos casos. O autor relata que, em 2011, foram 9.852 casos notificados, estimando-se cerca de 27 mortes por dia. Já segundo Marcolan, & Silva (2019), o Brasil registrou 183.484 mortes por suicídio no período entre 1996 e 2016, com aumento de 69,6% de casos neste período.
Em estatísticas mais atuais do Setembro Amarelo, levantadas pelo Ministério da Saúde (2018), foi relatado que, entre 2007 e 2016, houve um aumento de 16,8% na taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes, sendo que, em 2015, foi notificado que 11.178 pessoas tiraram a própria vida, e, em 2016, 11.433 pessoas. Nota-se, em uma comparação rápida, que os números de casos de mortes por suicídio vêm aumentando, e as estatísticas se referem a pessoas que tiram suas vidas por vários motivos, que, de alguma forma, poderiam ser evitados. Silva, Prates, Cardoso, & Rosas (2018) ressaltam a importância de se conhecer melhor as características sociodemográficas do suicídio no Brasil para que se possa fazer algo a respeito, levando-se em consideração que está havendo um aumento do fenômeno no país.
2.1 Identidades dos casos de suicídio no Brasil
Conforme os dados estatísticos descritos acima, já se sabe que houve um aumento no número de pessoas que se matam; mas quais são as características destas, ou seja, qual seu perfil?
De acordo com Durkheim (2014), o suicídio é um fenômeno social, e, por meio dessa premissa, ele buscou identificar características sociais comuns, ou o que ele chama de “leis principais”, para tentar compreender a dinâmica do suicídio e também ajudar os países a tomarem atitudes em relação a este. No entanto, sabemos que todos os países possuem características culturais, demográficas, morais e legais diferentes, o que faz com que, por mais que existam leis gerais, há também as especificidades de cada região.
Em princípio, serão descritas as características de forma geral, e, posteriormente, elas serão melhor detalhadas. Conforme Botega (2014), no Brasil, em sua grande maioria, os casos de suicídio envolvem homens, idosos e indígenas, sendo que os fatores levantados como os mais comuns são o uso de substâncias químicas e transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Os meios usados para concretizar a ação geralmente dependem de cada região e da disponibilidade, sendo que, enforcamentos, arma de fogo, envenenamento e uso de medicações estão entre os mais listados, com certas diferenças entre homens e mulheres.
De acordo com Félix, Oliveira, Lopes, Parente, Dias & Moreira (2016), observando-se o perfil de indivíduos suicidas no Brasil, na maior parte dos casos, apresentam algum transtorno psiquiátrico, sendo a depressão a mais prevalente, havendo, também, transtornos de personalidade, uso de substâncias químicas, impulsividade, convívio com pessoas depressivas e com pensamentos de morte, o que pode contribuir para uma visão mais negativa do mundo, levando a um maior risco de autoextermínio.
Conforme Müller, Pereira & Zanon. (2017), trata-se de um conjunto de situações negativas da vida que as pessoas vivenciam, aumentando a tensão e causando desordem emocional. O indivíduo quer se livrar da dor causada pelo sofrimento e, por isso, acaba tirando a própria vida, pois tem a crença distorcida de que essa é a única maneira de eliminar a dor.
Vasconcelos, Soares, Silva, Fernandes, & Teixeira (2016) reforçam algumas características citadas pelos autores mencionados anteriormente, acrescentando que o baixo nível socioeconômico, a baixa escolaridade, o desemprego, o estado civil, fatores de personalidade, transtornos mentais, como depressão, ansiedade e transtorno bipolar, isolamento social, doenças físicas e sexo masculino são as particularidades mais comuns encontradas no perfil do suicida brasileiro.
O que foi observado em Félix, Oliveira, Lopes, Parente, Dias & Moreira (2016) é que eles apontam que tais fatores, somados à precariedade de acesso aos dispositivos de saúde, à falta de investimentos em estratégias de prevenção e de suporte social para auxiliar a população e tratar dos transtornos, podem contribuir para o aumento ou a não diminuição do número de casos de mortes autoprovocadas no Brasil.
2.2 Perfis sociodemográfico do suicídio no Brasil
Para descrever um perfil sociodemográfico, é necessário atenção, pois cada sociedade passa por mudanças de acordo com o tempo histórico, econômico e cultural. Sendo assim, as características da população podem sofrer alterações que poderão impactar no modo como as pessoas se comportam.
Falar de perfil sociodemográfico do Brasil, que é um país de grande extensão demográfica e com grande diversidade cultural, pode ser uma tarefa difícil. Porém, encontramos dados relevantes, que foram analisados a partir de um levantamento bibliográfico sobre artigos relacionados com suicídio e seus aspectos no Brasil, no período de 2005 a 2015, por Botega (2014), Ministério da saúde (2018) e com Marcolan, & Silva (2019). Essas pesquisas mostram que, de acordo com os dados epidemiológicos, as taxas de mortes são maiores no sexo masculino, nas pessoas idosas, nos povos indígenas e em cidades do Rio Grande do Sul.
2.2.1 Características por sexo
As principais características observadas foram: os homens se matam quatro vezes mais que as mulheres no Brasil, de acordo com Marcolan & Silva (2019), em concordância com Ministério da Saúde (2018). O suicídio é a terceira maior causa de morte entre homens de 15 a 29 anos, e a oitava causa de óbito entre mulheres de 15 a 29 anos. Vidal, Gomes, Mariano, Leite, Silva & Lasmar (2014) ressaltam que os métodos masculinos são mais letais, pois, geralmente, utilizam armas de fogo, se enforcam ou se lançam de grandes alturas. Os artifícios femininos, de modo geral, são menos letais, utilizando, na maioria das vezes, medicamentos e substâncias tóxicas, mas as tentativas de suicídio são maiores por parte das mulheres que dos homens. No entanto, notou-se que o êxito depende muito do acesso que se tem aos meios para executar a ação.
2.2.2 Tentativas de suicídio
Os dados descritos acima mostram os casos de suicídio, mas, de acordo com Botega (2014), para cada morte por autoextermínio, existem dez tentativas, ou seja, o fenômeno vai muito mais além do que se imagina. Conforme Santos, Ulisses, Costa, Farias & Moura (2016), o comportamento suicida geralmente acontece segundo o processo de pensamento, ou ideação suicida, planejamento e tentativa de suicídio. Esse processo reflete o sofrimento vivido pela pessoa, que, de certa forma, apresenta alguns sinais por meio da fala ou de algumas mudanças comportamentais, que, se não são percebidos, podem acabar em autoextermínio.
De acordo com o Ministério da Saúde (2018), entre os anos de 2007 e 2017, foram notificadas, no Brasil, 220.045 tentativas de suicídio. A concentração de notificações está na Região Sudeste, sendo composta, em sua maior parte, por mulheres com idades inferiores a 40 anos; os meios mais utilizados foram a intoxicação exógena e medicamentos. Entender as tentativas e suas características é importante, pois pode contribuir para a prevenção.
Botega (2015) chama a atenção para os impactos psicossociais e econômicos que são gerados em decorrência das tentativas de suicídio, que provocam o aumento do uso de serviços de públicos e privados de tratamentos e reabilitação de saúde. Além disso, há os impactos psicológicos nos familiares e no próprio sujeito, que sofrem pelos reflexos do autoextermínio na saúde. Também existem os estigmas sociais, ainda existentes nesse tipo de situação, que pode ser evitada, visto que, em muitos casos, a prevenção pode ser um caminho adequado para que essas tentativas não ocorram.
2.2.3 Suicídio no idoso
No Brasil, a população idosa encontra-se em sinal de alerta para o suicídio. Segundo o Ministério da Saúde (2017), na faixa etária de 70 anos, “foi registrada média de 8,9 mortes por 100 mil habitantes nos últimos seis anos”. Esses números refletem que essa população precisa ser observada e cuidada, pois se encontra no grupo brasileiro com maior número de casos de suicídio e tentativas de autoextermínio.
Botega (2015) relata que as taxas tendem a aumentar com a idade e que os meios utilizados pela população idosa são mais letais, com menos sinais visíveis. Nessa faixa de idade, geralmente mais acesso a medicações e, na maioria das vezes, estão em um estágio de vida de grandes mudanças, como aposentadoria, perdas de entes queridos. Por isso, os idosos precisam de mais cuidados com a saúde devido a doenças, gerando dependência e limitação da liberdade, o que pode gerar muita dor e sofrimento.
2.2.4 Região com maior número de notificações de atentados contra a própria vida
As regiões com os índices mais altos de mortes por autoextermínio, conforme Marcolan, & Silva (2019), são a Região Sul e, em seguida, a Centro-Oeste. De acordo com Botega (2014) e Marcolan & Silva (2019), o Estado com o maior número de mortes foi o Rio Grande do Sul, mantendo altas taxas há muitos anos.
De acordo com Fraga, Massuquetti e Godoy (2016), pelo fato de o Rio Grande do Sul se tratar de um local de grande vinculação econômica com a agropecuária, está associado a maiores percentagens de mortalidade por suicídio, devido aos baixos níveis sociais e econômicos, das condições de vida precárias da população envolvida nesse tipo de trabalho, havendo possibilidade de maior isolamento social, baixo acesso a serviços de saúde, abuso de álcool, doenças mentais, além de acesso fácil a agrotóxicos.
2.2.5 Suicídio nos povos indígenas
Os povos indígenas são um dos grupos no Brasil que se destacam em relação à morte por suicídio. Conforme Botega (2015), muitos índios tiram a própria vida devido a questões relacionadas a crenças culturais, rituais espirituais e ritos de passagem, que acabam levando muitos jovens a tirarem a própria vida por medo de desonra e perda de status. Além disso, é preciso considerar as condições precárias das localidades em que vivem, o alto índice de abuso de álcool, violência, privação socioeconômica, pouco acesso a serviços de saúde mental – tudo isso são fatores que contribuem para o alto número de mortes por suicídio nesse grupo brasileiro.
As formas que as pessoas utilizam para tirar a própria vida podem variar muito, dependendo da cultura, época e acesso aos meios. As formas mais comuns de suicídio nos anos de 2007 a 2016, de acordo com o Ministério da Saúde (2018), foram, em primeiro lugar, por enforcamento, com (60%) do total de mortes; em seguida, por intoxicação exógena, que diz respeito a digerir algo que possa ter o potencial de morte, com o objetivo de tirar a vida, sendo que o uso de medicamentos encontra-se como um dos agentes tóxicos mais comumente utilizados, responsável por 18% das 106.374 mortes por autoextermínio no Brasil. Conforme Botega (2014), os lugares em que geralmente ocorrem tais tipos de morte, em 51% dos casos, é na própria casa; em seguida, nos hospitais, com 26%, sendo importante observar que pode variar de acordo com o acesso que se tem aos meios.
O conhecimento do perfil do indivíduo suicida é importante para se conscientizar do que é possível fazer em cada região e em cada grupo, pois essas variações trazem em si informações importantes de como a população se organiza. Com essas informações, tem-se mais um recurso para intervir de modo mais eficaz, com os recursos aplicados eficientemente, salvando cada vez mais vidas.
2.2.6 Suicídio na população mineira
Conforme Abasse, Campos, Machado, Botelho, Belo, Lima, Costa & Bicalho (2007), o diagnóstico do Estado de Saúde e casos de suicídio em Minas Gerais, feito pela Superintendência de Epidemiologia/SES-MG, evidenciou um crescimento de 47,5% nas taxas de mortalidade por suicídio em indivíduos de 15 a 29 anos entre os anos de 2000 e 2004. Ressalta-se que, no ano de 2004, a faixa etária de jovens adultos passou a ocupar o segundo grupo de risco de mortes por autoextermínio em Minas Gerais. Aconteceram, no período de 1980 a 2002, em Minas Gerais, 25.060 óbitos por autoextermínio de adolescentes entre 10 e 19 anos como na maioria das localidades, os homens apresentam maior número de casos que as mulheres, e os meios também são compatíveis com outras localidades do Brasil. O enforcamento é uma das formas mais utilizadas seguido da arma de fogo e intoxicação exógena.
Foram localizados poucos estudos científicos sobre morte por suicídio em Minas Gerais, principalmente em sua capital, Belo Horizonte, e os dados encontrados estão desatualizados. Levando-se em consideração as grandes variações já observadas nos números de suicídio no Brasil e no mundo, os estudos precisam ser refeitos. Com o passar dos anos, com as mudanças econômicas e culturais, vários desses elementos sofreram alterações. Encontra-se, em Belo Horizonte, um grande centro urbano, e, por isso, esta pesquisa se propõe a levantar os números de casos de autoextermínio nesta cidade.
2.3 Doenças mentais e o suicídio no Brasil.
A associação entre saúde mental e suicídio vem sendo estudada há muitos anos, conforme apontado por Minois (1998) encontrou nos relatos do Iluminismo, um homem, ser pensante e com liberdade de escolha, que passou a ser o centro de sua própria vida, mas, também passou a ser o cerne das mazelas do funcionamento de seu corpo e mente. Anos depois, Durkheim (2014) fez menção a algumas formas de funcionamento do corpo e da mente e também às relações sociais como responsáveis por levar o indivíduo a tirar a própria vida. Atualmente, os pesquisadores, ao levantarem as estatísticas sobre autoextermínio, encontram sempre associação entre os transtornos mentais e esse tipo de morte. De acordo com Cerqueira & Lima (2015) e Müller, Silveira & Basso (2017), pode-se observar que um fator comum encontrado pelos autores são os transtornos mentais, estimando-se que, em 90% dos casos de suicídio, as doenças mentais estavam presentes.
Conforme Brasil (2016)
Transtornos de humor (ex.: depressão); transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas (ex.: alcoolismo); transtornos de personalidade (principalmente “borderline”, narcisista e anti-social); esquizofrenia; transtornos de ansiedade; comorbidade potencializa riscos (ex.: alcoolismo + depressão)
Observa-se que os transtornos mentais são fatores importantes a serem ponderados quando se trata de estudar sobre o suicídio e entender suas causas, mas somente considerá-los é olhar o ser de uma forma restritiva e não analisá-lo em toda a sua complexidade, desconsiderando, assim, fatores importantes, tais como os citados por Félix, Oliveira, Lopes, Parente, Dias & Moreira (2016): “condições socioeconômicas, estrutura familiar, eventos estressantes, padrões culturais, consumo de drogas”. Com isso, percebe-se, então, que os transtornos mentais, em si, não são fatores definitivos para o suicídio.
Em Brasil (2016), encontramos algumas condições psicológicas complementares às que foram citadas pelos autores acima, como: perdas recentes de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, datas importantes, reações de aniversário, personalidade com traços significativos de impulsividade, agressividade e humor lábil. Esse conjunto de fatores leva a um grande sofrimento que o indivíduo busca formas de aliviar e, de maneira distorcida, acredita que, tirando a própria vida, conseguirá.
Em Junior (2015), observa-se novamente a associação do suicídio com a saúde mental. O autor relata que, sendo um problema de saúde pública, econômico e social, precisa-se atentar mais para o bem-estar mental, pois isso pode ajudar a prevenir mortes por autoextermínio. Propor estratégias de intervenção para tratamentos de saúde mental e abuso de álcool é uma forma de reduzir os impactos sociais e individuais causados pelas mortes por suicídio.
Sabendo-se que transtornos são fatores de risco, que se trata de uma situação em que a pessoa quer acabar com o sofrimento, e não necessariamente dar fim à vida, torna-se necessário fazer algo para prevenir ou trabalhar com pessoas que tentaram suicídio e seus familiares. Müller, Silveira & Basso (2017) mencionam que, diante de um número alarmante de casos referentes à saúde mental, é de grande relevância criar condições em que se possa fazer alguma coisa a respeito. Precisa-se conhecer mais as dinâmicas psicológicas e comportamentais para educar a população, visando quebrar os estigmas, preconceitos e tabus sobre o suicídio, com o objetivo de criar estratégia de intervenções e políticas públicas em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil, para, assim, haver uma redução no número de casos.
CAPÍTULO 3: A PSICOLOGIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL E O SUICÍDIO
Como já foi observado neste estudo, o comportamento suicida é bastante complexo. Ribeiro & Moreira, Marcelo (2018) apresentam fatores biopsicossociais em sua gênese, ou seja, uma interação de fatores sociais, da organização e da dinâmica social, em interação com fatores individuais, relacionados a questões biológicas, psicológicas e ambientais. Este conjunto de fatores pode contribuir para que os indivíduos tenham pensamentos de morte e tentem contra a própria vida. De acordo com Marback, & Pelisoli (2014), em 90% dos casos de morte por suicídio, algum tipo de transtorno mental não tratado estava presente, sendo a depressão um dos principais, tendo em vista que fatores psicológicos estão presentes nos transtornos mentais. Dessa forma, compreender a dinâmica psíquica pode contribuir para que se tenha mais conhecimento sobre os transtornos mentais e para que se realizem intervenções adequadas, reduzindo, consequentemente, o número de casos de autoextermínio.
No universo da ciência psicológica, existem algumas abordagens teóricas que buscam compreender e criar arcabouço teórico explicativo sobre o comportamento suicida, visando entender sua dimensão, para se criar estratégias de intervenção. O objetivo é prevenir e tratar tanto as pessoas que estão com pensamentos suicidas quanto aquelas que têm o planejamento, ajudando-as a não passarem ao ato de autoextermínio. As correntes psicológicas que se propõem a entender o comportamento suicida, geralmente, procuram também formas de minimizar os impactos do suicídio para os familiares, sociedade e pessoas que convivem com a pessoa que cometeu suicídio.
Atualmente, a Teoria Cognitiva Comportamental (TCC) tem apresentado relevantes resultados baseados em evidências científicas nos tratamentos de alguns transtornos mentais. Carneiro e Dobson (2016) confirmam que a TCC exibe estudos e comprovações sobre a eficácia de seus instrumentos de tratamento e compreensão na depressão, que, segundos os autores, compreendem 60% dos casos de morte por suicídio no Brasil.
Segundo Knapp e Beck (2008), a Psicologia Cognitiva Comportamental surgiu no ano de 1960, por meio de seu idealizador Aaron Beck, que buscava a compreensão dos aspectos psicológicos da depressão. Naquela época, ainda com base no pensamento psicanalítico, ele começou a modificar suas ideias conforme avançava em seus estudos. Conforme Marback & Pelisoli (2014), “entende-se a TCC como uma abordagem estruturada, focal, diretiva e ativa, que tem eficácia no tratamento de diversos transtornos psiquiátricos”. Greenberger & Padesky (2017) relatam que a TCC fundamenta sua teoria na compreensão de que nossos pensamentos, ou seja, as interpretações e julgamentos que temos sobre nós, os outros e o mundo, influenciam diretamente os sentimentos e as reações emocionais, corporais e comportamentais relacionadas a essa experiência. Conforme Knapp & Beck (2008), essas cognições distorcidas não são ocasionais, sendo originadas por experiências anteriores vivenciadas pelo indivíduo, com base em sua existência, suas interações familiares e com pessoas significativas em sua história e também por eventos traumáticos, que, por sua vez, acabam criando um conjunto de esquemas negativos.
Segundo Wenzel, Brown, & Beck (2010), esquemas são estruturas internas, relativamente estáveis, de particularidades registradas a partir das experiências anteriores, muitas vezes durante a infância. São usados para reger e organizar novos conhecimentos, de forma expressiva, moldando, portanto, como um fenômeno atual será percebido, interpretado e julgado. Perante novas ocasiões, eles ajudam a organizar, registrar e resgatar as informações, dando sentido a elas, ou seja, nossos esquemas moldam como entendemos o mundo. Nem todos os esquemas são desadaptativos; alguns ajudam o sujeito a funcionar de forma saudável diante do mundo, mas outros são distorcidos, negativos, gerados por transtornos psiquiátricos.
Marback & Pelisoli (2014) relatam que indivíduos suicidas, muitas vezes, são caracterizados por possuírem esquemas de um processamento incorreto, humor deprimido e condutas desadaptativas. De acordo com Knapp & Beck (2008), os esquemas ficam ligados, mas se conservam latentes até que o indivíduo passe por uma situação significativamente estressante ou por algum acúmulo de incômodos que causem algum desgaste em longo prazo, acionando os esquemas que selecionam as informações que confirmam e reforçam os elementos criados por eles. Aquelas que não corresponderem aos conhecimentos armazenados nos esquemas são deixadas de lado, reforçando somente as informações que fazem parte do esquema previamente construído.
De acordo Wenzel, Brown & Beck (2010), o paciente suicida constrói suas cognições por causa de uma situação estressora, ou seja, um estímulo ambiental particular. Ele desenvolve cognições, que são pensamentos e julgamentos rígidos, inflexíveis e distorcidos sobre si e sobre o mundo, levando a reações emocionais negativas e a comportamentos disfuncionais diante da dor e do sofrimento. Muitas vezes, o indivíduo chega à falsa conclusão de que tirar a vida é a única forma de cessar esse martírio. Ocorre um ciclo de interpretações distorcidas da realidade, que geram sentimentos perturbadores e trazem consequências de comportamentos desadaptativos.
3.1 Teorias cognitivas dos atos suicidas
Os autores Wright, Sudak, Turkington & Thase (2012) relatam que as crenças de desamor, desvalor e desamparo que essas pessoas têm sobre si e sobre o mundo são formadas em sua história, principalmente na infância, construída pela interação com pessoas significativas nessa fase, que vão influenciar comportamentos do sujeito durante sua vida que podem se tornar disfuncionais, dependendo de determinadas situações, tais como insegurança, instabilidade econômica e emocional, falta de apoio social, pouca empatia e excesso de crítica, podendo levar a sintomas clínicos.
Conforme Wenzel, Brown & Beck (2010), a teoria cognitiva comportamental estudou o comportamento suicida e chegou a importantes conclusões sobre um conjunto de fatores de risco, que, somados a um quadro de psicopatologia, podem ativar esquemas desadaptativos, aumentando a probabilidade de indivíduos chegarem a cometer suicídio. Trata-se de aspectos psicológicos, como: desesperança, cognições relacionadas ao suicídio, impulsividade, déficit de solução de problemas e atitudes disfuncionais. De acordo com Méa, Della, Sabrina, Vinícius, & Wagner (2015), com base na terapia cognitiva comportamental, buscaram-se levantar fatores que podem contribuir para o ato do suicídio. Por meio de pesquisas, encontrou-se um conjunto de padrões de cognições e emoções desadaptativas, que se traduzem em focar nos defeitos pessoais, ter vergonha de si, intolerância e sensibilidade à crítica, apresentação de sentimentos de inferioridade, de rejeição, de ser uma pessoa ruim, problemática e, dessa forma, não desejada e indigna de amor.
Na sequência, serão detalhados alguns dos aspectos mais importantes sobre os conceitos desenvolvidos pela TCC para explicar o comportamento suicida.
3.1.1 Desesperança
De acordo com Marback & Pelisoli (2014), a desesperança é uma cognição, um conjunto de pensamentos e crenças sobre um futuro negativo e sombrio onde os problemas nunca se resolvem. A pessoa foca somente nas adversidades e não consegue ver possibilidade de soluções; assim, morrer é visto como a única forma de se livrar da dor.
De acordo com Botega (2015), em estudos efetivados por meio de testes e escalas psicrométricas realizados pela TCC em pacientes deprimidos, com pensamento suicida, e com outros que tentaram tirar a própria vida, identificou-se a desesperança como um marcador importante, estando intimamente vinculada à causa do suicídio, sendo mais relevante até mesmo que o humor deprimido. Medeiros & Sougey (2010) reconheceram a desesperança como o fator mais relevante em casos de depressão e mortes por suicídio.
Segundo Wenzel, Brown, & Beck (2010), uma vez ativado o esquema de desesperança, o indivíduo não consegue buscar recursos cognitivos adaptativos, e acaba por encontrar sinais que reforçam as suas expectativas negativas. Uma vez acionada, a desesperança interage com os estressores ambientais para aumentar ainda mais o estado de falta de perspectiva no futuro e expectativas de melhora. Segundo Medeiros & Sougey (2010), nos casos de desesperança, esquemas negativos são criados na infância e na história de vida do indivíduo, fazendo com que ele tenha uma percepção de intolerabilidade, de que não vai conseguir lidar ou não suportar tal dor e sofrimento, ou seja, percebe o futuro como negativo, imagina que nada mudará, só vislumbra dificuldades que enfrentará no futuro e, por isso, acaba perdendo a esperança de que as coisas podem melhorar. Esse comportamento pode levar a ideias, planejamento e, por conseguinte, ao ato suicida.
Botega (2015) relata que a desesperança, a sensação de que o futuro não será bom, o desamparo, o sentimento de estar sozinho e sem apoio, somados ao desespero, ao sofrimento e à dor psicológica extrema, podem levar ao descontrole. Em resumo, a combinação de desespero e desesperança é grande preditivo de descontrole e impulsividade, podendo culminar em morte por suicídio.
Com essa descrição, percebe-se que a desesperança é um fator de grande relevância, mas é preciso reconhecer que ela não está presente em todos os casos de suicídio, como relatado pelo autor supracitado, havendo casos de suicídio impulsivo por descontrole.
3.1.2 Impulsividade: desespero, desinibição e descontrole
De acordo com Almeida, Flores & Scheffer (2013), comportamento impulsivo refere-se ao ato sem planejamento de uma pessoa, ou seja, que ocorre por impulso ou descontrole. Pode acontecer sem avisos, devido a um estado psicológico de pensamentos acelerados e mutáveis, ou em decorrência de agitação psicomotora, inquietude, caracterizando-se por uma predisposição a ações impetuosas, geralmente focadas no presente. Os autores descrevem que se identificou a impulsividade associada a casos de suicídio.
Conforme Echeburúa (2015), alguns suicídios ocorrem de forma impulsiva, quer dizer, como uma atitude feita sem premeditação, sem avisos, pois a pessoa não consegue gerar soluções adaptativas para os seus problemas, apresentando dificuldade de controlar seus impulsos, e, por isso, acaba apoiando-se em um comportamento inconsequente para proporcionar alívio à sua dor emocional. Observa-se, então, que esse tipo de suicídio se difere daquele realizado por desesperança, o qual, geralmente, é caracterizado por atitudes pensadas e planejadas, apresentando sinais e levando um período para que seja colocado em prática, pois depende de um processo de pensamento, planejamento, busca de meios e passagem ao ato para acontecer.
Segundo Wenzel, Brown & Beck (2010), antes da tentativa de suicídio,
é como se a mente entrasse em um “estado de túnel” e encontrasse uma única saída, perdendo a capacidade de refletir e gerar outras soluções para o problema, ou seja, foca na morte como se esta fosse a única forma de resolvê-lo. Os autores relatam que o indivíduo entra em um estado de estreitamento de julgamento, um fenômeno cognitivo chamado “fixação atencional”, que interage com o estado de desesperança e desespero, para gerar um ambiente psicológico e emocional propício de descontrole e desinibição, levando à perda do controle e proporcionando a atitude impulsiva. Esse processo gera pensamentos suicidas, criando o “contexto fértil”, que faz com que a pessoa perca o controle e, em um momento de impulsividade, acabe tentado contra a própria vida.
Como já foi observado anteriormente, esse estado de impulsividade não é encontrado em todos os casos de suicídio, pois há aqueles em que ocorre um planejamento cuidadoso antes da efetivação do ato.
3.2 Distorções cognitivas no suicídio
Já foi observado, em Knapp & Beck (2008), que as crenças de um indivíduo influenciam a forma como ele interpreta e dá significado ao seu ambiente, como decodifica dados imprecisos e como revê conhecimentos formados anteriormente em sua vida. Wenzel, Brown & Beck (2010) relatam que, geralmente, sujeitos suicidas apresentam uma distorção cognitiva conceituada de foco no negativo que os faz filtrar, no ambiente, situações negativas e desadaptativas. Os autores apontam que há algum tipo de viés atencional que faz com que o indivíduo selecione no ambiente somente aquilo que é negativo, que reforça suas ideias de suicídio. Dessa forma, o viés atencional agirá no sujeito quando houver uma interação entre a desesperança e uma fixação seletiva no negativo, fazendo com que ele seja incapaz de aplicar a razão e o bom senso na circunstância.
Botega (2015) menciona que, geralmente, há também uma rigidez cognitiva que, na crise suicida, faz com que o indivíduo não se lembre de bons motivos para se viver. Assim, quando relembra o passado, só se concentra nas experiências negativas, que reforçam nele o potencial de concluir, erroneamente, que a vida não vale a pena. Marback & Pelisoli (2014) relatam que, quando o esquema de suicídio é ativado, o sujeito apresenta uma fixação no negativo, e sua memória só se recorda de momentos ruins, os quais podem reforçar a ideia de que o suicídio é a melhor alternativa. Ele não terá acesso a bons momentos, e esse tipo de processamento, interagindo com a desesperança ou com a impulsividade e o descontrole, aumenta as chances de uma tentativa contra a própria vida.
3.2.1 Déficit de resolução de problema: descontrole e desequilíbrio
Segundo Wenzel, Brown & Beck (2010), quanto à complexidade em resolver problemas, os sujeitos com propensão ao suicídio apresentam dificuldade de respostas adaptativas a situações de tensão e estresse, considerando os eventos como insuportáveis. Dessa forma, não terão ferramentas satisfatórias para lidar com o fato e mudar tais situações, aumentando, assim, seu sentimento de fracasso, desesperança e descontrole frente à situação, agindo de forma desequilibrada.
Conforme Powell, Abreu, Oliveira & Sudak (2008), indivíduos nessa situação podem apresentar distorções cognitivas que os farão focar a atenção somente no que é negativo. Esse tipo de interpretação contribui para o acionamento de esquemas desadaptativos e para a falta de esperança, podendo levar à tentativa de suicídio. Botega (2015) descreve que, como o sujeito acredita que não dará conta de lidar com a situação, acaba ficando sem esperança, fixando sua atenção em pensamentos de morte como solução para seu sofrimento. Essas cognições, associadas a transtornos mentais, são preceptores de passagem ao ato suicida.
Atitudes disfuncionais: perfeccionismo e desamparo
De acordo com Wenzel, Brown & Beck (2010), a atitude disfuncional relacionada ao suicídio é o perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas apresentam problemas para lidar com as falhas, vivendo numa busca constante por aprovação e reconhecimento de suas atitudes. Segundo Hayes, Pistorello & Biglan (2008), pessoas com potencial suicida geralmente enxergam as situações de maneira rígida e inflexível, sendo intolerantes aos resultados negativos, ou seja, se está tudo perfeito, está bom; se não, se julgam que não está, ficam extremamente frustradas e infelizes, desconsiderando os meios-termos. Isto é, apresentam cognições do tipo tudo ou nada, e uma grande intolerância à dor causada pelas falhas, vivendo em uma atitude de esquiva para evitar erros.
Conforme Botega (2015), essas atitudes são formadas no contexto familiar, que desenvolve uma rigidez de padrões de comportamento. As pessoas com tendência suicida acabam se isolando socialmente por não tolerarem as exigências do contexto familiar, ficando ainda mais desamparadas do apoio social e se sentindo cada vez mais sem perspectivas de futuro, o que pode levá-las à possibilidade de criarem esquemas negativos sobre si e o mundo, fazendo-as entenderem que o suicídio é a única forma de lidar com essa dor e, algumas vezes, de comunicar o sofrimento relacionado às exigências familiares e sociais.
Por fim, é importante observar que esses construtos isolados, por si só, não levam o sujeito ao suicídio. Uma interação de fatores, como os biopsicossociais, condições socioeconômicas, baixa escolaridade e a presença de transtornos mentais, é fundamental para a ativação dos esquemas negativos e das ideias desadaptativas, que vão se juntando até que apareça o desequilíbrio, o desamparo, a desinibição, o descontrole, a desesperança e o desespero, que, somados à falta de tolerância e ao sofrimento, aumentam a probabilidade de um ato suicida. É importante ressaltar que não necessariamente todos os fatores estarão presentes, mas o aparecimento de um deles é sinal de alerta que precisa ser levado em consideração. Muitas pessoas julgam que é uma simples forma de chamar a atenção, mas a presença desses construtos demonstra que a pessoa sofre de alguma maneira, e seu sofrimento precisa ser validado e tratado com a devida importância. Conhecer a dinâmica psicológica e social do comportamento suicida contribui para que se criem estratégias de intervenções, de políticas públicas e de programas que ajudem a educar a população, objetivando reduzir os estigmas em relação ao suicídio, mostrando que existem dispositivos de saúde que podem contribuir para o alívio do sofrimento e da dor, deixando claro que existem outras saídas para se lidar com o sofrimento.
Capitulo 4: Setembro Amarelo – Mês de prevenção ao suicídio
O percurso histórico apresentado descreveu o comportamento suicida no Brasil e no mundo, mostrando como cada cultura e tempo histórico lidavam com essa questão, ora dando mais ou menos relevância; em outros momentos, tratando como questões espirituais ou sociais, como mau funcionamento do corpo ou da mente. Os dados estatísticos apresentados, mostrando números, curvas, tabelas e gráficos, buscando ilustrar o aumento e a diminuição dos casos de mortes ou tentativas de suicídio, são relevantes para a compreensão de como esse fenômeno tem se mostrado e tem sido tratado na humanidade. No entanto, os relatos históricos ou os dados estatísticos representam, veladamente, vidas, histórias de pessoas e famílias, grupos, culturas e populações que sofrem e que, muitas vezes, são negligenciados.
Durkheim (2014) já atentava para a necessidade de se fazer mudanças sociais para que os casos de suicídio, assim como seus impactos sociais, diminuíssem. Contudo, por mais que ele pudesse ter um bom propósito, este era, de certa forma, parcial, pensando-se mais em uma questão social, deixando de levar em consideração outros fatores, como o biopsicossocial, o histórico e o cultural. Autores contemporâneos, como Wenzel, Brown & Beck (2010); Botega (2015); Baldaçara, Leonardo, Rocha, Gislene, Leite, Verônica, Porto, Deisy, Grudtner, Roberta, Diaz, Alexandre, Meleiro, Alexandrina, Correa, Humberto, Tung, Teng, Quevedo, João & Silva, Antônio (2020), descreveram e buscaram dar importância ao tratamento dessa questão com uma visão mais ampliada, abordando-a como demanda de saúde pública, para se criar políticas de intervenção para redução do número de vidas que têm sido perdidas. As evidências estatísticas deixam claro que se trata de uma questão mundial, que vem se estendendo por muitos anos em vários países e culturas, necessitando ser feito algo a respeito e avaliar as estratégias que têm sido empregadas, para verificar sua validade e eficácia.
4.1 Setembro Amarelo
Levando-se em consideração que se trata de uma questão de saúde pública e que tem tomado grandes proporções, de acordo com Ruckert, Tassinari, Rafaela & Rigoli, (2019), a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem se preocupado em propor aos países buscar estratégias de intervenção e posvensão, pois a Organização apurou que 9 entre 10 casos de suicídio podem ser evitados através de medidas preventivas, e, caso o suicídio ocorra, as famílias enlutadas precisam de acompanhamento para lidarem com o sofrimento e estigmas em relação a esse tipo de morte. Faz-se necessário não somente teorizar, mas também realizar algo na prática, criando estratégias de políticas públicas, com investimentos financeiros para estudos, pesquisas e intervenções que apresentem efeitos e resultados na redução dos casos de suicídio.
No Brasil, segundo Müller, Pereira & Zanon (2017), o Ministério da Saúde, como forma de institucionalizar medidas contra o suicídio, criou o Plano de Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio, em 2006, no qual desenvolve um manual voltado aos profissionais que trabalham na área de saúde mental, com diretrizes de intervenção, informando alguns fatores de risco e descrevendo formas de atuação no enfrentamento de algumas doenças mentais associadas a tentativas contra a própria vida ou à morte por suicídio. Analisando-se pelos dados estatísticos da época, essas medidas não demonstraram muita eficácia na redução de casos, o que nos faz refletir se traz resultados impactantes atuar somente junto aos profissionais de saúde mental, não levando em consideração que se trata de um fenômeno complexo, estudado há vários anos, e que é biopsicossocial, histórico, cultural e econômico.
Conforme Santa & Cantilino (2016), em 2014, foi lançada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) uma cartilha com estratégias educativas com o objetivo de prevenção, direcionada aos profissionais de saúde, como forma de ajudá-los a identificar os sinais e fatores de risco ao suicídio e intervir. Observa-se que, apesar de ser mais uma forma de tentar lidar com a questão de mortes autoprovocadas, mesmo alguns anos após ser lançado pelo Ministério da Saúde um plano voltado para profissionais de saúde, sem muitos resultados, a ABP utiliza uma estratégia parecida, com foco nos profissionais, mais uma vez limitando a complexidade do fenômeno, incorrendo no mesmo deslize, deixando de abranger todos os fatores relacionados ao suicídio e seus impactos, não dando voz à pessoa que sofre, ou seja, não buscando conhecer suas questões por meio de um processo que envolva, também, a fala e a escuta.
Já em 2015, foi instituído, conforme Bezerra & Silva. (2019), o projeto Setembro Amarelo, visando educar a população sobre o autoextermínio. De acordo com a descrição de Oliveira, Nóbrega, Gusmão, Santos & Franklin (2020), a iniciativa “Setembro Amarelo” trata-se de um projeto criado pelo Centro de Valorização da Vida que tem por objetivo falar sobre iniciativas educativas relativas ao suicídio. Teve início, no Brasil, em 2015, por meio do Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), buscando associar o amarelo ao mês de setembro, criando, assim, uma marca, devido ao dia mundial de prevenção ao suicídio, que é celebrado no dia 10 de setembro.
Segundo Lorenzett (2019), por meio do site Setembro Amarelo, a campanha foi criada com o objetivo de falar sobre suicídio e ajudar as pessoas a quebrarem os tabus sobre o assunto, com estratégias educativas de disseminação do conhecimento, auxiliando na mudança dos pensamentos suicidas, para as pessoas não passarem ao ato. Além disso, a estratégia visa alcançar a população em geral, trazendo mais informações e mais conhecimento sobre os sinais, mostrando os recursos que podem ser procurados para ajudar na intervenção e na redução, de fato, do número de casos de suicídio. O site fornece um canal de atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, para quem deseja conversar sobre o desejo de morrer, e também informações sobre sinais e sintomas, acesso a matérias e esclarecimentos acerca da iniciativa do Setembro Amarelo e sua relevância. A proposta é promissora, pois falar e conversar sobre esse assunto, apresentando formas de auxílio, é uma estratégia com bom potencial. Isso porque um sujeito com desesperança pode encontrar no apoio de alguém a possibilidade de ajuda para traçar um caminho para sair da situação. Porém, a questão é: o Setembro Amarelo cumpre os objetivos e traz, de fato, o impacto e os resultados aos quais se propõe?
De acordo com o site Setembro Amarelo, o objetivo principal da campanha é a educação para a prevenção, visando disseminar o conhecimento para romper os estigmas criados em relação ao suicídio, mostrando os dados, estatísticas, características de comportamentos suicidas, além das formas e meios de acesso a tratamento e prevenção. O movimento busca fixar a cor amarela e o mês de setembro como referência a esta questão. De acordo com Prado (2019), o amarelo faz referência à história de um rapaz americano chamado Mike Emme, que, em 2014, cometeu suicídio em seu Mustang amarelo. Mike era conhecido na comunidade por suas boas ações, e seus familiares e amigos fizeram cartões com um laço amarelo, com o propósito de levar a mensagem de que existe alguém para ajudar quem está se sentindo mal e pensando em tirar a própria vida e distribuíram para a população local. Desde então, o laço amarelo ficou registrado como marca de quem quer ajudar as pessoas que pensam em autoextermínio. O site Setembro Amarelo deixa a mensagem de que é preciso falar sobre o comportamento suicida, de forma consciente, como é orientado pelos órgãos de saúde. Porém, esta questão precisar ser lembrada e alertada nas escolas, postos de saúde, universidades e também nos meios de comunicação, como internet, televisão, dentre outros, divulgando cada vez mais, intensamente, pois é possível prevenir o suicídio.
No site do Centro de Valorização da Vida (CVV), estão registradas algumas ações que vêm sendo realizadas por diversos órgãos civis que têm se engajado em atividades. Segundo o site da CVV, em 2016, ocorreu uma importante participação e maior adesão em uma maior extensão do País, através da iluminação de monumentos importantes e de grande representatividade, como o Cristo Redentor (RJ), o Palácio do Congresso Nacional (DF), o Elevador Lacerda, e as “Gordinhas”, em Salvador (BA). Houve maior divulgação nas redes de televisão de grande alcance e até nos campos de futebol, alertando sobre a importância de ser ter consciência sobre o suicídio. Em 2017, conforme os registros no site da CVV, foram realizadas caminhadas, palestras, ornamentações com balões amarelos, iluminação de pontos turísticos e edifícios públicos, distribuição de folhetos e atendimentos em locais públicos. Já em 2018, a proposta continuou bastante parecida, com divulgações e interação com órgãos públicos e privados, buscando divulgar os postos de atendimento a pessoas que estão em sofrimento. No ano de 2019, teve-se a expectativa de um recorde de atendimento, pois houve uma expansão dos postos de atendimento e um aumento do número de voluntários, além de dar continuidade a divulgações em escolas, universidades e monumentos públicos que foram iluminados com a cor amarela. Em 2020, um ano marcado pela pandemia mundial do Coronavírus, em meio ao isolamento social necessário para evitar a propagação do vírus, que também espalhou medo e insegurança, viu-se a necessidade de adaptação das estratégias para continuar a falar sobre saúde mental e suicídio. As ações centralizaram-se mais no âmbito virtual, sendo disponibilizados panfletos, cartilhas, vídeos e materiais de áudio, além de canais de acesso aos serviços do CVV e outros, para quem quisesse participar. Todas essas ações estão no acesso de registro do CVV, disponíveis a toda a população. Nota-se que algumas ações têm sido realizadas pelos órgãos que idealizaram o movimento Setembro Amarelo, em parceria com a população que tem se preocupado com a questão do suicídio. Muito ainda é questionado sobre as ações realizadas nessa campanha, por exemplo, se um mês é suficiente; a contaminação de valores e ideologias de instituições e questões políticas envolvidas nas ações; limitação de acesso a uma parcela da população que tem acesso a tecnologias, e o fato de que estratégias educativas não são suficientes para modificar o pensamento e intervir de forma eficaz no autoextermínio. O que precisa ser analisado é que algo necessita ser feito e que são poucos os movimentos de grande impacto que têm sido realizados. Existe, é claro, uma necessidade de se avaliar os movimentos efetuados para ampliar e buscar mais incentivos públicos, ou para estudar outras estratégias, que obtenham maior êxito.
4.2 Estratégias educativas como forma de prevenção
As estratégias utilizadas no Setembro Amarelo têm um foco mais educativo, ou seja, gerar conhecimento para se promover consciência e mudança de comportamento.
Dentro das propostas brasileiras para prevenção, promoção e proteção da saúde, encontra-se a educação em saúde. De acordo Falkenberg (2014), diz respeito a uma estratégia que se propõe a ajudar a população na construção de conhecimentos sobre um determinado tema em saúde, auxiliando na concepção de um pensamento crítico e reflexivo sobre ele. Além disso, visa promover autonomia e autocuidado, assim como mudança de comportamentos não saudáveis e também uma interação entre a população geral, comunidade científica e profissionais de saúde, a fim de propiciar uma troca de saberes e conhecimentos, proporcionando um crescimento mútuo.
Conforme Sevalho (2017), a educação em saúde, ou estratégias educativas em saúde, tem o potencial de diminuir as vulnerabilidades populares, pois gera empoderamento. Ou seja, possibilita à população buscar seus próprios recursos, auxiliando nas mudanças ocasionadas pelos conhecimentos adquiridos, podendo, assim, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Observa-se, então, que as estratégias educativas apresentam grande potencial de mudar comportamentos não saudáveis e aprimorar a qualidade de vida. Nos comportamentos suicidas, já foi observado que, na maioria dos casos, os indivíduos se encontram com algum tipo de adoecimento mental. Diante disso, é possível divulgar informações sobre possibilidades de apoio dentro da comunidade e dispositivos de saúde para tratamento, objetivando ajudar na promoção de saúde e na mudança do pensamento de morte.
Observou-se que o comportamento suicida é bastante complexo e que envolve várias questões no âmbito biopsicossocial, cultural e histórico. De acordo com Daniel & Paulo (2017. p.163), por se tratar de um tema complicado, as ações de prevenção ao suicídio foram divididas da seguinte forma:
a) redução de acesso aos métodos e aos meios de suicídio;
b) tratamento de pessoas com transtornos mentais;
c) melhorias na divulgação de informações relacionadas ao suicídio;
d) treinamento das equipes de saúde;
e) programas nas escolas;
f) disponibilidade de linhas diretas e centros de auxílio em momentos de crises.
Conforme Setti (2017), a OMS definiu que as ações supracitadas, feitas seguindo-se as diretrizes do protocolo de prevenção ao suicídio, apresentam grande possibilidade de se mostrarem eficazes.
Percebe-se que falar de suicídio de maneira correta, com divulgação nas escolas e universidades e com disponibilização de linhas de centros de auxílio, é uma das ações encontradas nas propostas e ações do Setembro Amarelo. Souza, Faker, Sousa, Bondarczuk & Souza (2020) descrevem que, dentro das estratégias de promoção de saúde, a educação em saúde é uma forma válida de se tratar sobre questões relacionadas ao comportamento suicida, gerando conhecimento e promovendo mudanças de comportamentos que não são benéficos à saúde.
É importante destacar que as ações propostas pelo Setembro Amarelo apresentam caráter educativo e seguem também parte do grupo de ações apresentadas pela OMS, demonstrando efeito positivo na redução do número de casos de suicídio. No entanto, faz-se necessária uma avaliação mais empírica para comprovar ou refutar essa hipótese, sendo que, caso as ações apresentem resultados positivos na análise do número de casos, pode-se inferir que são eficazes e precisam ser expandidas; caso contrário, precisam-se adequar as estratégias, ou, até mesmo, propor outras táticas de prevenção.
Existem muitas críticas em relação ao Setembro Amarelo. Muitos levantam a questão de que um mês não é suficiente para tratar sobre uma questão tão ampla e complexa como o suicídio. O que se percebe é que as críticas nem sempre são embasadas em estudos científicos estruturados, pois, através de revisão bibliográfica, não foram encontrados muitos estudos para analisar se, de fato, um mês não é suficiente. Levantar questionamentos e não verificá-los não é suficiente para finalizar a questão. No campo científico, necessita-se de evidências que comprovem se a crítica suscitada é válida ou não. A ideia deste estudo é que é necessário efetivamente fazer algo, apresentando resultados. O Setembro Amarelo tem ganhado força e aliados, podendo até, de fato, ser uma estratégia restrita, que é o que vamos observar. Porém, isso não muda o que está sendo feito na prática, sabendo-se que o mais urgente e necessário é realmente agir. A cada segundo, perdem-se vidas no Brasil e no mundo por causa do suicídio, e os discursos, muitas vezes vazios por falta de embasamento, não trarão mudanças reais e em curto prazo. Criticar é necessário, pois auxilia no desenvolvimento da ciência, mas certamente é mais vantajosa e útil a proposta de estratégias eficazes, testando e verificando as que já existem, em vez de falácias.
5. Marco Empírico – Definição da metodologia
5.1 Introdução
Nos trabalhos acadêmicos e científicos é importante definir o método, ou seja, o caminho traçado para alcançar os objetivos propostos no projeto, com finalidade de que se possa ser reproduzido por outros pesquisadores e chegar aos mesmos resultados encontrados na pesquisa feita pelo autor. De acordo com Nascimento, Kuhn Vieira, Lurdes, & Cuduro (2020) para produção de um conhecimento científico que tenha validade, existem três formas de métodos que são usados, o método quantitativo, que geralmente se utiliza de dados numéricos e estatísticos para explicar e compreender o fenômeno e há a metodologia qualitativa que visa compreender, descrever e explicar o fenômeno com base em teorias explicativas sobre determinados comportamentos, e o existe a método misto, que é a interação entre as duas abordagens, qualitativa e quantitativa, apresentando elementos dos dois métodos visando inovar e atualizar a construção de conhecimento científico, como forma de acompanhar as mudanças e complexidade dos fenômenos atuais.
5.1.2 Variáveis
Este estudo apresenta um desenho de pesquisa Quase experimental que de acordo com Sousa, Driessnack, & Mendes. (2007) se trata de um tipo de pesquisa que se propõe analisar a relação entre as variáveis e suas causas e efeitos, os autores apontam que tal desenho ajuda a testar a efetividade de uma intervenção.
As variáveis que serão analisadas e comparadas são os números de casos de suicídio, Estratégias Educativas do Setembro Amarelo e aumento ou não da procura por atendimentos nos canais de busca do CVV. Busca-se compreender se o número de casos de suicídio sofre alterações com as estratégias educativas do Setembro Amarelo. Observar também se ocorre um aumento da procura por atendimento com as estratégias do Setembro Amarelo. A Hipótese em questão é que se existe efetividade nas estratégias educativas do Setembro Amarelo, haverá uma redução da curva de suicídio a partir do mês de Setembro e haverá também um aumento da procura por atendimento nos canais de busca por auxílio do CVV, dando evidências de que as estratégias apresentam impactos positivos.
Quanto ao tempo de pesquisa, está pesquisa apresenta um caráter transversal, conforme Sousa, Driessnack, & Mendes. (2007) em um desenho de pesquisa transversal, “as variáveis são identificadas num ponto no tempo e as relações entre as mesmas são determinadas”, neste caso as variáveis são as Estratégias Educativas da Iniciativa Setembro Amarelo realizadas com mais ênfase no Mês de Setembro, e relação com a redução ou não dos números de casos de suicídio, o ponto de tempo escolhido são os anos de 2018 a 2020, analisando os números de casos mês a mês, observando se a partir de Setembro, há ou não uma redução de casos.
A pesquisa tem finalidade descritiva, ou seja, descrever os resultados sem alterar ou manipular os dados encontrados. Será realizado um gráfico, que através da curva ilustrada por gráficos, será de fácil visualização e interpretação dos resultados dos dados encontrados nas amostras.
No que se refere às pesquisas realizadas através da entrevista, os dados também serão avaliados de forma descritiva, sendo compilados por sistemas de computador e dispostos em quantidades, onde os resultados também serão apresentados de forma descritiva, não alterando ou manipulando os resultados, que serão interpretados pelas quantidades de respostas positivas ou negativas encontradas nas respostas.
5.1.3 Amostras
As amostras selecionadas para os números de casos de suicídio são através de uma busca de dados de notificação compulsória de suicídio no DATASUS, a busca será o quantitativo de óbitos, mês a mês, de Janeiro a Dezembro, dos anos de 2018 a 2020. A escolha amostral tem base na atualização da base de dados de publicações acadêmicas científicas sobre óbitos por suicídio. Foram observados nesse estudo através da revisão de bibliografia, que os dados de casos óbitos por suicídio encontrados são referentes até os anos de 2016 e 2017, como, por exemplo, os dados citados por Baldaçara, Rocha, Leite, Porto, Deisy, Grudtner, Diaz, Meleiro, Correa, Humberto, Tung, Quevedo & Silva. (2020) e por Oliveira, Gomes, Nóbrega, Gusmão, Santos & Franklin. (2020) os dados antigos foram citados na revisão bibliográfica a os dados mais atualizados serão citados adiante.
Já as o motivo da escolha das amostras da base de dados de atendimentos do CVV, que serão dados mês a mês, de Janeiro a Dezembro, de, 2018 a 2020, a primeira questão a se levantar é que o projeto é considerado novo. Como já foi referenciado através do Site Setembro Amarelo, foi criado em 2015. O outro motivo é que existe um estudo realizado por Oliveira, Gomes, Nóbrega, Gusmão, Santos & Franklin. (2020), que utilizam a base de dados dos atendimentos realizados pelo CVV no período de 2013 a 2017, sendo irrelevante repetir essa busca, havendo uma necessidade de atualização.
5.1.4 Procedimentos, instrumentos de medição e técnicas
Neste projeto será utilizada a metodologia quantitativa de pesquisa. Para a análise comparativa de número de casos de suicídio, será utilizado o método quantitativo, onde serão levantados os números totais de casos de suicídio, da base de notificação compulsória do DATASUS, em Belo Horizonte, o levantamento será feito mês a mês, ou seja, de Janeiro a Dezembro, nos anos de 2018 a 2020 para realizar uma comparação da curva, visando observar se existe, ou não, uma redução dos números de casos de suicídio, a partir de setembro, mês que ocorre às estratégias educativas do Setembro Amarelo. A Hipótese trabalhada é que, as Estratégias Educativas, realizadas nos ações do Setembro Amarelo, são eficientes a ponto de reduzir os números de casos de óbito por suicídio, sendo possível observar na curva de números óbitos que apresentarão uma redução a partir do mês de Setembro.
Outra análise que será realizada se dará através da busca dos registros de atendimento no CVV às pessoas que buscaram ajuda por sofrerem por ideação suicida. A busca se dará com levantamento mês a mês dos atendimentos realizados em Belo Horizonte – Minas Gerais, dos anos de 2018, 2019 e 2020. Buscando observar se existe um aumento da procura a partir do mês de Setembro, pois, a hipótese levantada é que com as estratégias educativas do Setembro Amarelo e divulgação dos canais de atendimento pode aumentar a procura por ajuda.
Paralelamente, uma redução da curva de óbitos por suicídio e um aumento da procura por atendimentos nos canais de ajuda do CVV, poderão comprovar que as estratégias educativas do Setembro Amarelo, são relevantes e tem alcançado os propósitos preventivos e interventivos.
Com a metodologia quantitativo-qualitativa será aplicado um questionário online, do tipo Google Forms e enviado aos coordenadores do CVV para que os mesmos enviem o link para os voluntários do projeto via e-mail.
O termo do livre esclarecido (TCLE) será aplicado aos entrevistados por meio eletrônico, em formato de “aceito” ou “não aceito” antes do início do questionário, inspirada nas recomendações do conselho de ética da UFAM (https://www.cep.ufam.edu.br/pesquisas-on-line.html) e por medidas de segurança de saúde em função da atual pandemia.
A amostra dos voluntários é aleatória, casual, com base na disponibilidade e liberdade dos mesmos em responder, pois, existe uma rotatividade na quantidade de voluntários, não tornando possível quantificar de forma exata, qual seja uma amostra representativa dos voluntários. A proposta é buscar junto aos voluntários do centro de valorização da vida, acessíveis a responder as perguntas, fechadas, simples, de caráter dicotômico, de resposta forçada, ou seja, SIM ou NÃO, visando levantar a importância do projeto Setembro Amarelo, percebida pelos voluntários da iniciativa, o objetivo da entrevista, tem caráter da realmente perceber qual é a importância do projeto para os voluntários, buscando, servir de exemplo para outros que queiram participar da iniciativa Setembro Amarelo.
5.1.5 Critérios de inclusão no questionário
É necessário que o questionário tenha sido respondido em sua totalidade. Serão aceitos voluntários com mais de seis meses de atuação em atendimentos aos canais de auxílio do CVV. É importante que os voluntários tenham mais de 10 atendimentos a pessoas que apresentem pensamentos suicidas. Os voluntários precisam ser treinados em atendimentos a pessoas com pensamentos suicidas. Em relação aos dados da Secretaria de Saúde somente os casos de óbito por suicídio no período de 2018 a 2020, ou seja, as notificações de mortes por Suicídio em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quanto aos quantitativos de ligações para o CVV, a busca será a casos sobre pensamentos suicidas no período de 2018 a 2020.
5.1.6 Critérios de exclusão
Em relação aos levantamentos de dados de casos de suicídio e relatórios e de quantitativos de atendimentos nos CVV, dados relativos há anos anteriores a 2018 são irrelevantes para o propósito da pesquisa, somente serão utilizados na revisão bibliográfica.
Somente serão utilizados dados sobre morte por suicídio, casos de tentativas de Suicídio não são relevantes para esta pesquisa.
Os resultados serão apresentados através de gráficos, onde serão realizadas análises comparativas dos dados numéricos, buscando as correlações, procurando descrever e ilustrar as relações entre as variáveis, com base em análise dos dados estatísticos, com auxílio de tabelas do Word e do Excel.
Todos os dados coletados serão pautados nos critérios do Comitê de Ética preservando as informações referentes aos participantes de pesquisa. As informações coletadas serão utilizadas para elaboração, dessa dissertação e de artigos científicos que serão publicados em revistas científicas a fim de promover o conhecimento e transmitir informações importantes e relevantes para a comunidade científica principalmente entre os profissionais de saúde.
No momento da entrevista será resguardada a privacidade dos participantes com as devidas proteções, não sendo permitido o uso de fotografias nem outro meio de exposição da imagem ou som de voz. Além disso, será garantido a participação de caráter voluntário e gratuito e o mais absoluto sigilo das informações coletadas.
5.1.7 Relação riscos/benefícios da pesquisa
Os riscos são de origem emocional, caracterizados pela possibilidade de gerar constrangimento, medo ou vergonha ao responder algumas das perguntas. Poderá também surgir algum receio do entrevistado comprometer-se com a instituição ou com os colegas de trabalho em função das respostas dadas, mas serão minimizados permitindo-lhe que interrompa e desista da participação a qualquer momento. Além disso, responderá às perguntas sozinho, sem a presença do entrevistador e de maneira absolutamente anônima. Também poderá gerar algum estresse ou cansaço em função do tempo necessário para responder ao questionário, mas que será minimizado outorgando-lhe todo o tempo que considerar necessário para responder às perguntas.
Os benefícios são indiretos e estão relacionados com a possibilidade de gerar conhecimento sobre o assunto, além de permitir identificar possíveis contribuições no sentido de melhorar as estratégias atualmente adotadas pelo projeto Setembro Amarelo, bem como ressaltar a importância dos voluntários nos resultados obtidos pelo projeto.
5.5.8 Critérios de interrupção da pesquisa:
A pesquisa pode ser suspensa caso os dirigentes da instituição desistam de autorizar a pesquisa, por qualquer motivo. A pesquisa também poderá ser encerrada quando as informações desejadas forem obtidas. No entanto, 11 comprometo-me a informar ao Sistema CEP/CONEP e aos participantes envolvidos com brevidade.
Explicitação acerca da propriedade das informações geradas pela pesquisa:
As informações coletadas serão utilizadas para elaboração de artigos científicos que serão publicados em revistas científicas a fim de promover o conhecimento e transmitir informações importantes e relevantes para a comunidade científica, principalmente entre os profissionais de saúde. No momento da entrevista será resguardada a privacidade dos participantes com as devidas proteções, não sendo utilizado o uso de fotografias nem outro meio de gravação da imagem ou voz. Além disso, será garantido a participação de caráter voluntário e gratuito e o mais absoluto sigilo das informações coletadas. Os dados provenientes das entrevistas serão mantidos sob sigilo, protegidos por senha pessoal e armazenados pelo pesquisador por um período mínimo de 5 anos. A participação de todas as partes envolvidas na pesquisa será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa, incluindo custos com o deslocamento para o local determinado para a realização das entrevistas e aplicação dos questionários. Não está previsto indenização por participação, mas se o mesmo sofrer qualquer dano resultante da participação neste estudo, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, terá direito a assistência integral e gratuita, pelo tempo que for necessário, e também o direito de buscar indenização. Ao assinar termo de consentimento, será informado que o mesmo não estará abrindo mão de nenhum direito legal, incluindo o direito de pedir indenização por danos e assistência completa por lesões resultantes de participação neste estudo.
5. 2 Hipótese de Trabalho
As Hipóteses trabalhadas são: As Estratégias Educativas, realizadas nos ações do Setembro Amarelo, são eficientes a ponto de reduzir os números de casos de óbito por suicídio, sendo possível observar na curva de números óbitos que apresentarão uma redução a partir do mês de Setembro.
O aumento da procura por atendimentos por atendimentos nos canais de busca do CVV, apresentam contribuem na redução dos números de óbitos por suicídio.
5.3 Procedimentos Plataforma Brasil
Após a realização do projeto, ele teve de ser encaminhado à Plataforma Brasil, pois todas as pesquisas que envolvem seres humanos precisam ser registradas nela, onde se efetuam uma análise da pesquisa e uma análise documental por um CEP – Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) – composto por um grupo de pessoas que trabalham para garantir que seus direitos como participante de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi planejada e se está sendo executada de forma ética. Todos os procedimentos metodológicos deste projeto foram enviados e avaliados pelos CEPs abaixo. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como imaginou ou que está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da FAMINAS e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE/ SMSA-BH.
Comitê de Ética FAMINAS. Endereço: CRISTIANO MACHADO 11001/12999 Bairro: VILA CLORIS CEP: 31.744-007 UF: MG Município: BELO HORIZONTE Tel.: (31) 2126-3100 Email: cep@faminasbh.edu.br
CAAE: 47530221.4.0000.8107
Comitê de Ética SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE/ SMSA-BH Rua Frederico Bracher Júnior, 103 -3º andar. Padre Eustáquio-BH/MG Telefone: 3277-5309 Email: www.pbh.gov.b
CAAE: 47530221.4.3001.5140
Depois de realizados os procedimentos da Plataforma Brasil, com parecer aprovado, foram concedidos pela Prefeitura de Belo Horizonte os dados sobre a frequência de óbitos por suicídio em Belo Horizonte nos anos de 2018 a 2020. Também foram informados pelo CVV os dados de atendimentos realizados pelos voluntários no período de 2018 a 2021, não sendo possível coletar os dados somente de Belo Horizonte, pois, segundo os coordenadores do CVV, o sistema não faz distinção de localização somente de atendimentos; logo, os dados são referentes aos atendimentos totais realizados. Foi encaminhada para os coordenadores do CVV a entrevista por e-mail, construída no Google Forms, e eles a reencaminharam aos voluntários, que responderam conforme disponibilidade; em seguida, os dados foram compilados e analisados.
6. Resultados
Com base nos dados cedidos pela Secretaria Municipal De Saúde De Belo Horizonte/ Smsa-Bh sobre lesões autoprovocadas nos anos de 2018 a 2020 em Belo Horizonte – Minas Gerais e nos dados dos atendimentos realizados pelo Centro de Valorização da Vida, no Brasil, nos anos de 2018 a 2020, foram encontrados os seguintes resultados, dispostos nos gráficos a seguir:
6.1 ANÁLISES DAS FREQUÊNCIAS DE CASOS DE NOTIFICAÇÕES DE LESÃO AUTOPROVOCADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
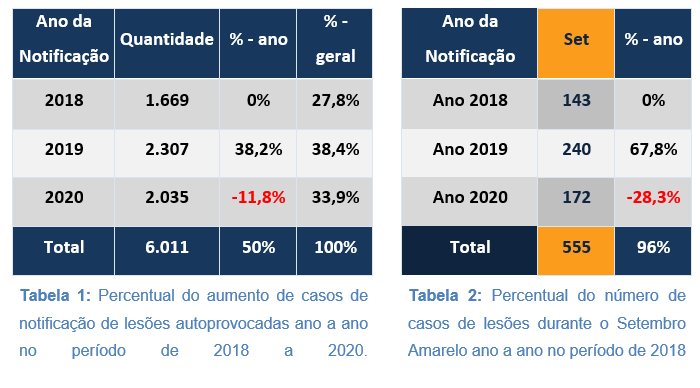
Acima estão dispostas as tabelas com os percentuais de óbitos por lesão autoprovocadas em Belo Horizonte de 2018 a 2020 (tabela 1) e percentual de números de casos de óbitos durante o mês de Setembro, mês em que ocorrem as atividades educativas de prevenção ao suicídio (Tabela 2), os dados serão descritos nas nos gráficos a seguir.
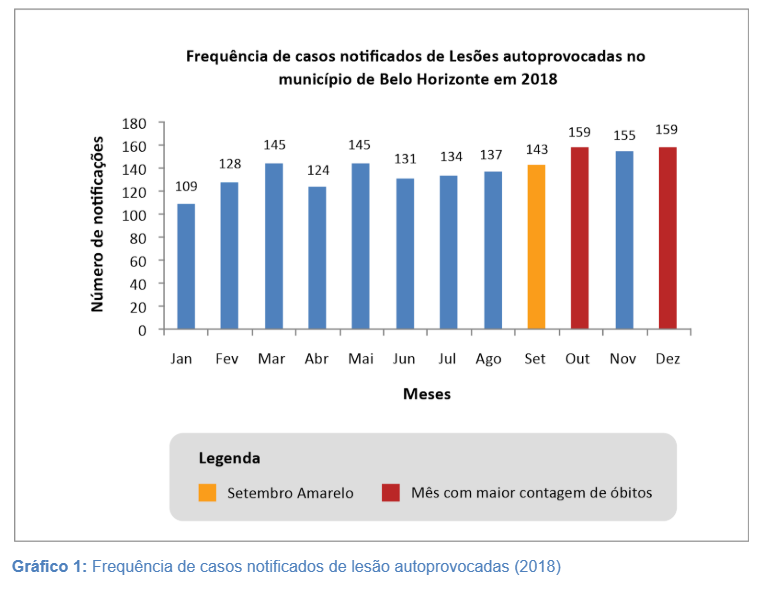
O gráfico 1 exibe uma oscilação pequena no número de óbitos no primeiro semestre de 2018. É notado que a partir de junho (131 casos) desse ano o número de casos segue num ritmo crescente até dezembro (159 casos). O mês de setembro apresenta uma contagem de óbitos em fase crescente desde o início do segundo semestre, com o valor máximo apresentado nos meses de Outubro (159 casos) e Dezembro. O percentual de aumento do número de óbitos entre Setembro e o maior valor registrado em 2018 foi de 11,2%.
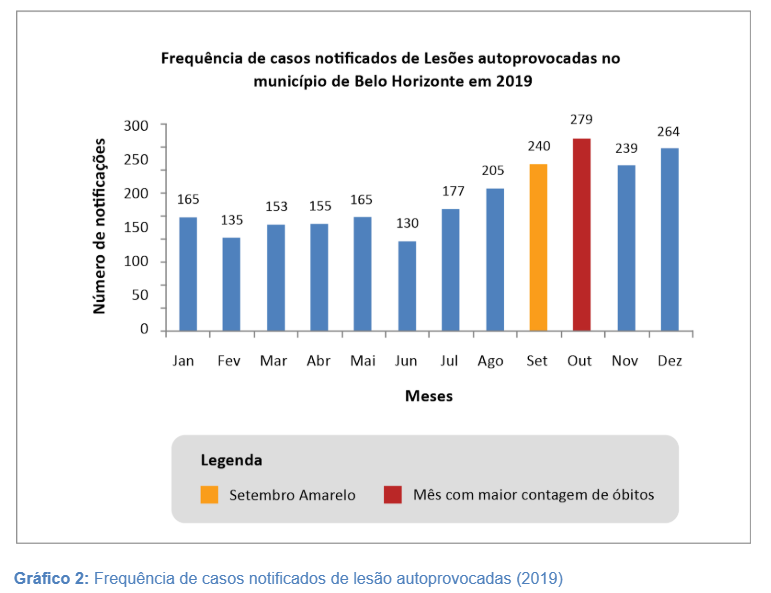
O ano de 2019 começa com o número de óbitos alto se comparado ao maior valor registrado em 2018. Os meses de Fevereiro e Junho apresentam os menores valores quando confrontados com os demais. Novamente, se observa no gráfico 2 um avanço no número de óbitos a partir do segundo semestre de 2019. Desde o início do ano até o mês de Setembro, o maior valor registrado (240 casos) pertence ao mês de Setembro, que ainda assim é superado por Outubro que expõe 279 novos casos de óbitos; o maior do em todo o ano, representando um aumento de 16,3%. Recorrendo ao gráfico 1 nota-se que nenhum mês apresenta valor tão alto quanto este.
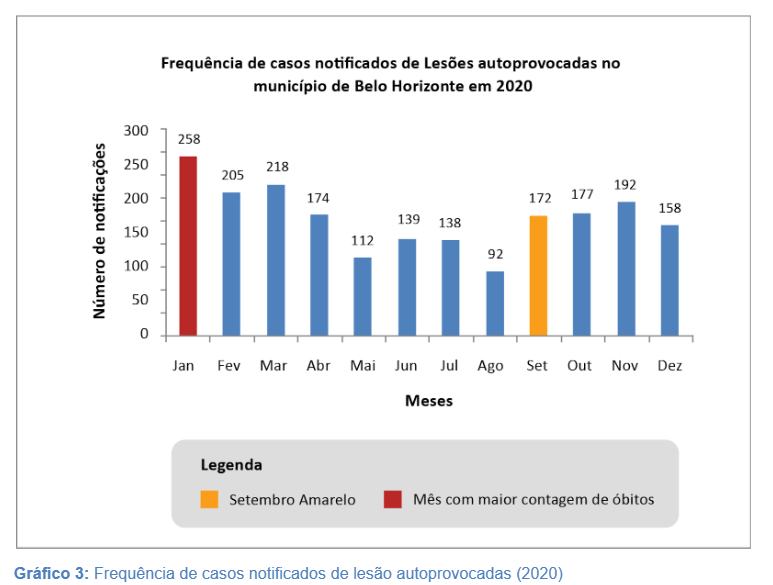
O número de casos cai levemente no inicio do ano de 2020 segundo o gráfico 3. A partir de Março desse ano observa-se uma queda constante na incidência de óbitos até o final do mês de Agosto (92 casos) onde para. E a partir de Setembro (172 casos) o número de casos começa a eclodir tendo um aumento de 87% em relação a Agosto do mesmo ano. Apesar do surto repentino em Setembro, os quatro últimos meses de 2020 apresentaram valores mais baixos se confrontados com os do primeiro quadrimestre do mesmo ano. 2020 se mostraram um pouco mais otimista, já que houve uma queda de 50% entre o maior valor registrado (Janeiro com 258 casos) e o observado em Setembro (172 casos).
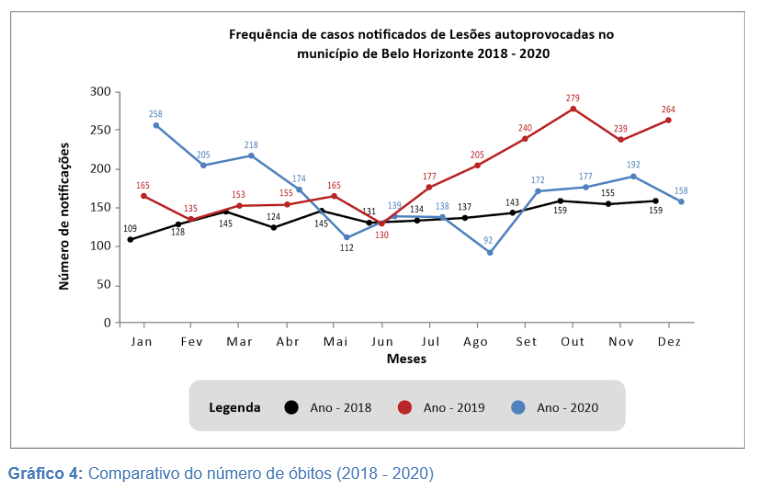
No gráfico 4 é possível ter um panorama geral do número de óbitos no período 2018 a 2020. Observando o movimento das linhas do gráfico notamos que os dados referentes a 2018 oscilam pouco quando comparado com os dados dos anos subsequentes. O ano de 2019 apresentou oscilação alta no número de óbitos com desvio padrão de 51,43. Apesar do número de óbitos em 2020 começarem com valor alto notou que a linha do gráfico para este ano segue uma tendência de queda e no segundo semestre não sobe muito, registrando assim um desvio padrão de 46,12. Como comentado no início, o ano de 2018 apresentou valores mais baixos de números de óbitos com desvio padrão de 15,02.
6.2 ANÁLISES DAS QUANTIDADES DE LIGAÇÕES AO CENTRO DE VALORIZAÇÃO À VIDA
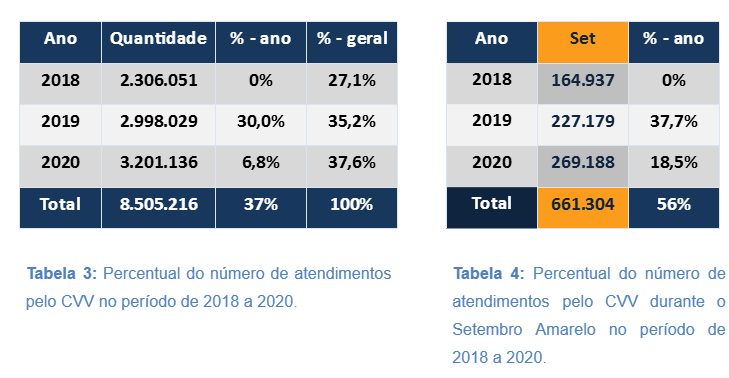

O número de ligações ao Centro de Valorização à Vida se mostrou crescente durante todo o ano de 2018. A quantidade de ligações cresce até Agosto, porém em Setembro esse número cai 23%. Já no mês seguinte a quantidade de ligações volta a aumentar encerrando o ano com 234.253 ligações, sendo este o valor mais alto.

O ano de 2019 começa com um alto número de ligações (257.392) ao CVV. Fevereiro e Março registram uma queda de 18% e 22% respectivamente. Contudo, os números voltam a crescer a partir de Abril até Julho. Em Agosto o número de ligações cai levemente cerca de 11,4% e o mês de Setembro procura manter esse valor um pouco mais baixo, aproximadamente 7%. Infelizmente, como observado no ano anterior, o número de ligações torna a aumentar no último trimestre de 2019. O mês de Dezembro registra o maior número de ligações (318.541).
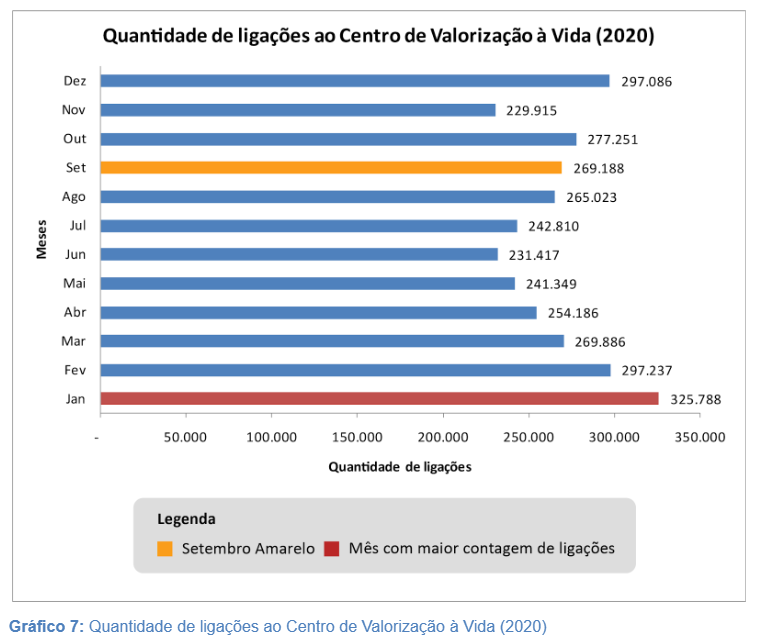
A inércia de 2019 prevalece em 2020 iniciando o ano com a maior contagem de ligações já registrada (325.788) desde 2018. Porém, observa-se uma queda mensal no número de ligações a partir de Fevereiro até Junho. Em Julho os números tornam a aumentar e se mantém crescente até outubro. Novembro registra uma queda de 17% em relação ao mês anterior, no entanto esta queda não se mantém e é superada por um aumento de 29,2% em Dezembro.
6.3 COMPARATIVO ENTRE NÚMERO DE ÓBITOS E QUANTIDADE LIGAÇÕES AO CENTRO DE VALORIZAÇÃO À VIDA
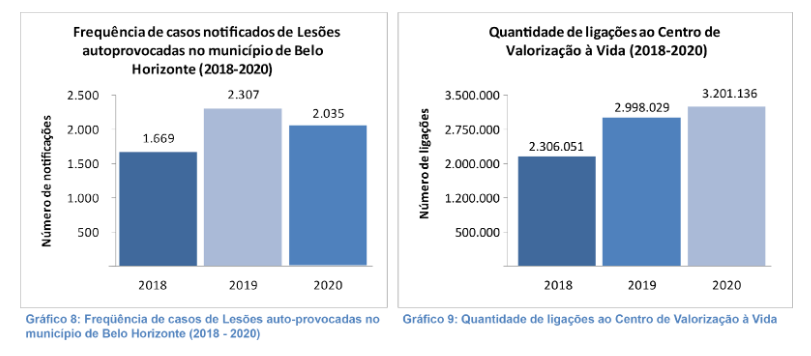
Quando comparamos os gráficos 8 e 9, percebemos um crescimento nos dois primeiros anos (2018 e 2019) tanto no número de óbitos quanto no número de atendimentos pelo CVV. Em 2020 o número de atendimentos se intensifica reduzindo o número de óbitos em 11,8%. O gráfico 9 mostra que mesmo com o aumento no número de atendimentos muitas pessoas ainda optam por tirar a própria vida.
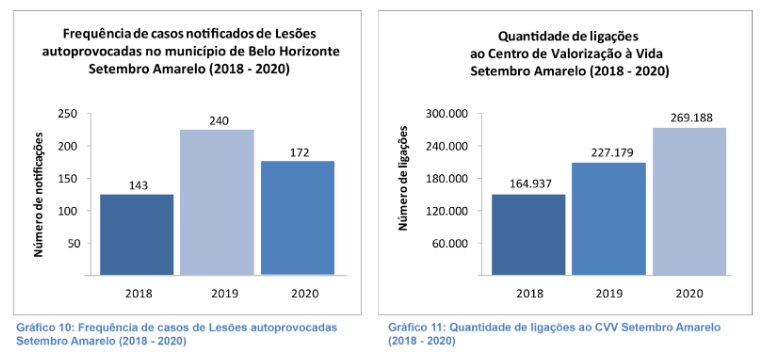
Escolhemos focar agora somente nos meses de setembro dos anos de 2018 a 2020, com a finalidade de avaliar o seu comportamento quando comparado ao panorama geral, constatando-se, ao final da análise, que são idênticos. O número de atendimentos se intensifica ano a ano, tendo pouco impacto na redução do número de óbitos. Somente no mês de setembro de 2020, observou-se uma redução de 28,3% no número de atos suicidas. Espera-se que, nos próximos anos, o atendimento prestado pelos profissionais do CVV tenha um impacto mais positivo na inibição dos casos de suicídio.
6.4 QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
Foi iniciada a aplicação do questionário aos voluntários do Centro de Valorização da Vida no início do mês de novembro, após a liberação do Comitê de Ética da Faculdade FAMINAS-BH e também após avaliação do Comitê de Ética da Prefeitura de Belo Horizonte, sendo encerrada a possibilidade de enviar as respostas no dia 13/01/2022. A entrevista apresentou o termo livre esclarecido, cuja aceitação era condição primordial para que fosse respondido o questionário, que era composto por 8 questões de alternativas de sim ou não, enviadas por meio do Google Forms aos coordenadores do CVV, os quais reenviaram aos voluntários.
Foi relatado pelos coordenadores do projeto que iriam encaminhar o questionário a uma quantidade limitada de voluntários, pois estes, além de realizarem os atendimentos de forma voluntária, possuem suas atribuições pessoais. Por esse motivo, não seria viável acrescentar mais uma atribuição. Ao final, foram obtidas 28 respostas ao questionário.
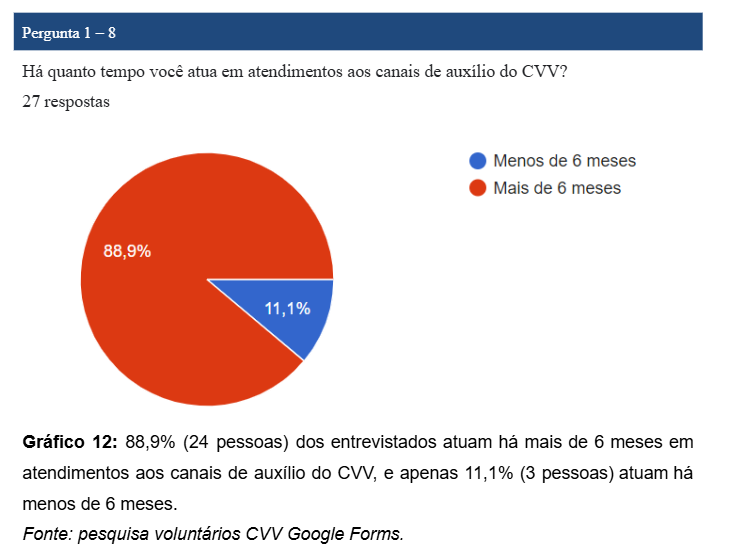

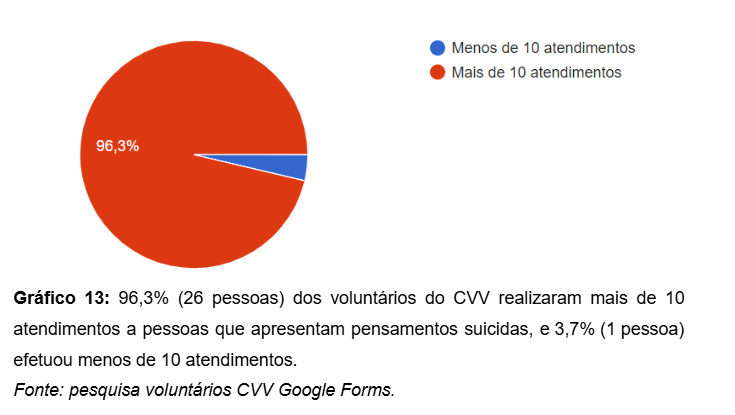
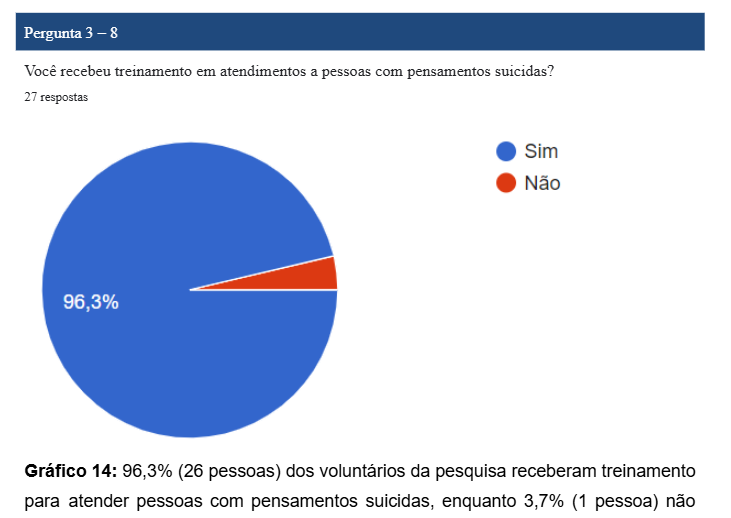
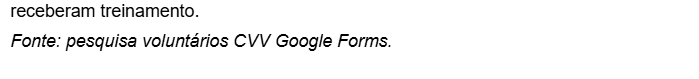
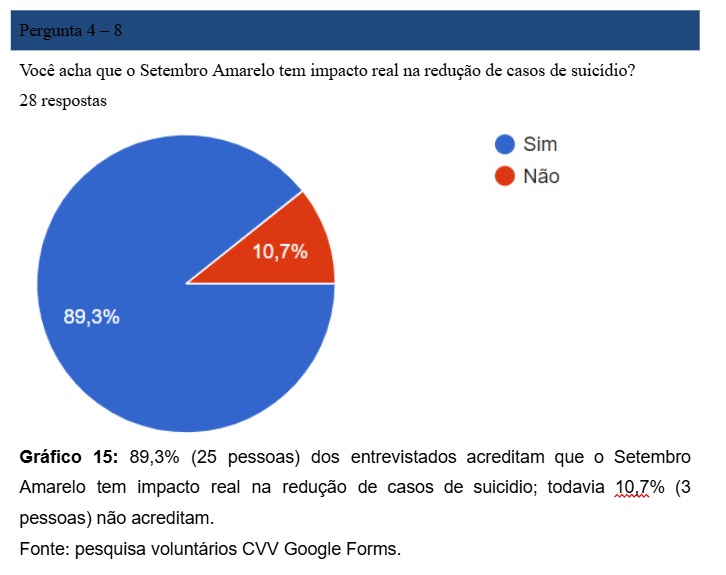
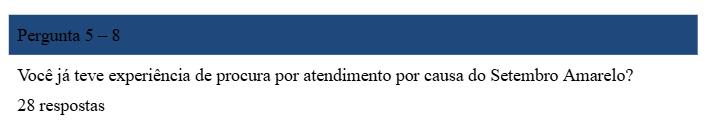
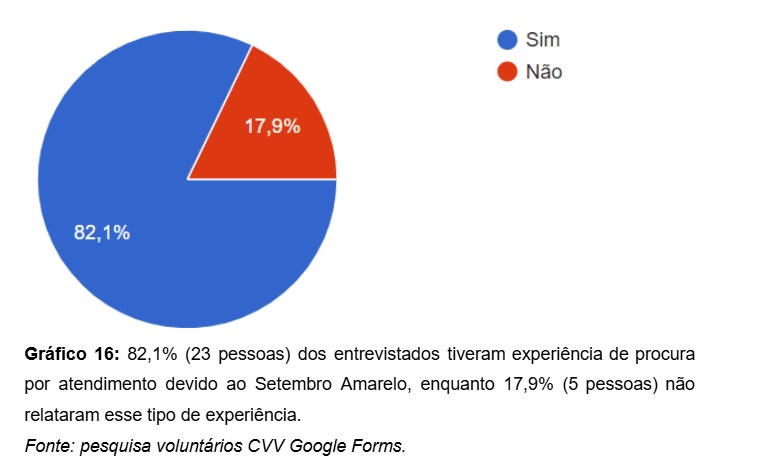

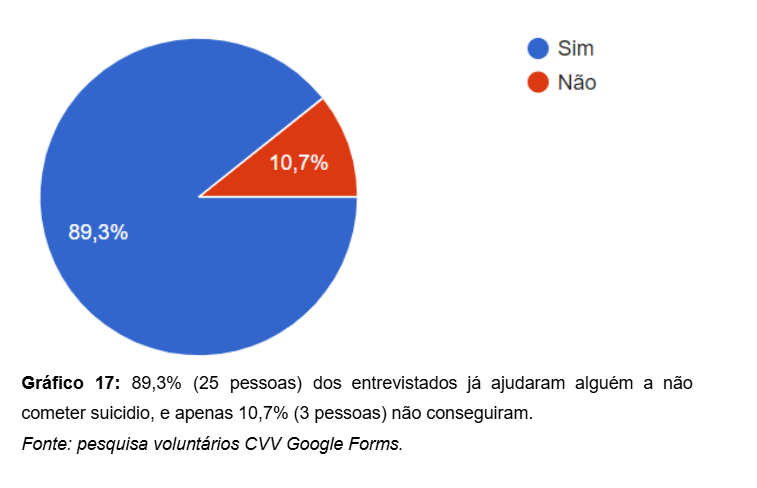
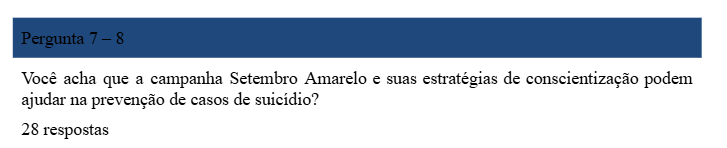
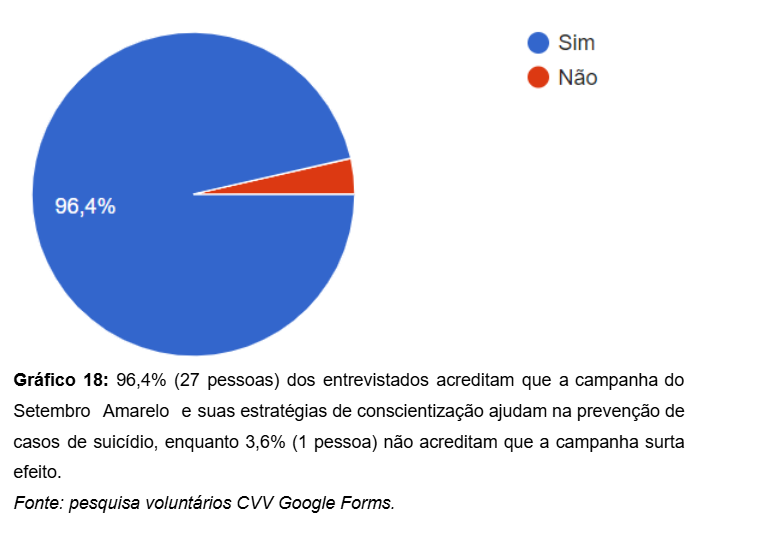
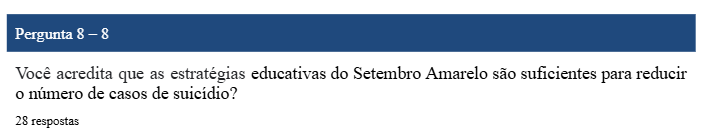
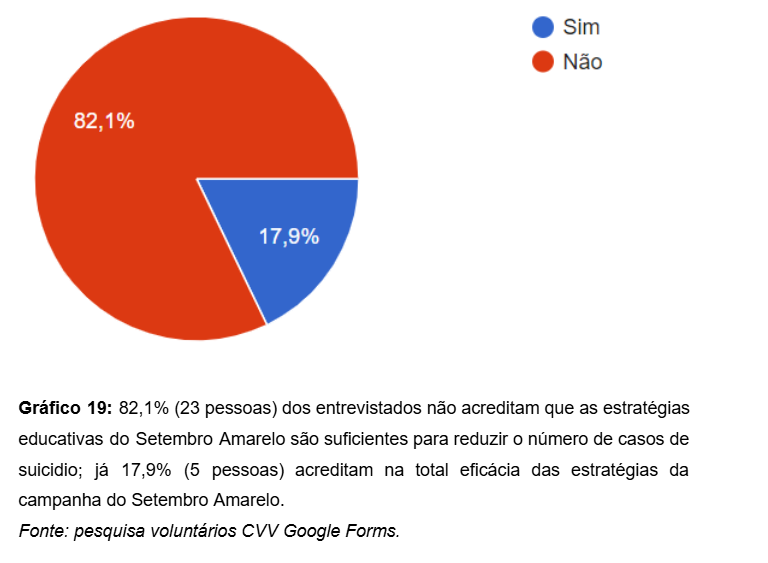
7. Discussão
Com o uso da metodologia quantitativa de análise de gráficos e tabelas e comparações numéricas e com base nos resultados listados acima, nos gráficos e dados numéricos, podem-se levantar as interpretações a serem discutidas a seguir. A hipótese levantada nesta dissertação era de que as estratégias educativas do Setembro Amarelo eram eficientes para reduzir o número de casos de suicídio em Belo Horizonte, Minas Gerais; mas, de acordo com os dados observados, isso não ocorreu no período analisado – 2018 a 2020. Na Tabela (1), nota-se que houve um aumento de 38,2% do ano de 2018 para 2019, e uma queda de 11,8% de 2019 para 2020. Contudo, em 2020, teve início a pandemia da Covid-19, e os dados deste ano precisam ser analisados com algumas ressalvas, pois, até o período em que esta dissertação foi escrita, não há estudos e dados sobre o efeito da pandemia de Covid-19 no comportamento suicida. Mesmo com essa queda de 2019 para 2020, o número total de óbitos por lesão autoprovocada de 2020, que soma um total de 2035, ainda é maior que a quantidade total de óbitos pela mesma causa em 2018, em que houve 1669 notificações de casos. Sendo assim, pode-se concluir que as estratégias educativas realizadas no Setembro Amarelo não têm sido suficientes para diminuir a curva de óbitos por suicídio em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Para reforçar a refutação da hipótese levantada nesta dissertação, de que as estratégias educativas do Setembro Amarelo são eficazes para diminuir os casos de suicídio, em um estudo similar realizado por Oliveira, Gomes, Nóbrega, Gusmão, Santos e Franklin (2020), visando entender o que mudou em relação ao suicídio após o Setembro Amarelo, foram verificados dados de notificações de tentativas de suicídio no período anterior ao lançamento dessa campanha e, alguns anos após (2013 a 2016), os autores chegaram à conclusão de que houve um aumento de 66,6% no número de suicídio neste período, ou seja, os casos de tentativas de suicídio aumentaram ao invés de reduzirem. Ao final, concluíram que, após a implementação do Setembro Amarelo, não houve redução dos casos de suicídio, mas sim um aumento de incidência de óbitos desta natureza.
Outra questão levantada na presente dissertação é que, com as estratégias educativas do Setembro Amarelo, esperava-se que, nos meses seguintes às atividades educativas, as notificações de óbitos deveriam diminuir. Porém, o que foi observado, por meio dos Gráficos 1, 2 e 3, é que ocorre um aumento nos casos de óbitos por suicídio geralmente no segundo semestre dos anos de 2018 a 2020, sendo que, em 2018, o número de óbitos notificados nos meses depois de setembro foi sempre maior em comparação aos meses anteriores a setembro (Gráfico 1). O mesmo fenômeno pode ser observado em 2019, no Gráfico 2, e também em 2020 (Gráfico 3), sendo que, em outubro de 2019, foram notificados 279 casos de óbitos – o maior número de óbitos durante todo o ano. Ressalta-se que o que se esperaria de um mês subsequente a setembro era que houvesse redução de casos, e não aumento.
É importante considerar que o Setembro Amarelo tem se transformado em um projeto de grandes proporções e com um alcance cada vez maior nas redes sociais e nas mídias digitais. Por esse motivo, pode-se perder o controle do conteúdo do que é passado, sendo que pessoas, muitas vezes “bem-intencionadas”, podem passar informações que geram o efeito de contágio. Os autores Oliveira, Gomes, Nóbrega, Gusmão, Santos e Franklin (2020), em seu estudo, discutiram sobre a questão de forma parecida, pois também acreditam que pode estar havendo um efeito de contágio, que, em vez de diminuir casos de tentativas de suicídio e óbitos por lesão autoprovocada, por causa da forma como o tema é abordado, pode incentivar pessoas que pensam em tirar a própria vida a realmente cometer o ato. De acordo com Penso M. A. & Sena, D. P. A., (2020) é muito importante a forma como o assunto é tratado. Eles mencionam que precisa haver cautela até no modo como se escreve sobre o assunto, para não gerar certo glamour sobre a temática. Dizem, ainda, que as estratégias sobre o suicídio precisam ser direcionadas ao cuidado, às formas de prevenção e tratamento. O fato é que não se trata simplesmente de falar sobre suicídio, é preciso se atentar à forma correta de abordar o assunto. É necessário preparo e conhecimento, e não somente “boa intenção”. O que foi tratado durante o referencial teórico é que, de fato, o tema suicídio precisa ser abordado; calar-se e fingir que não existe o problema e que tal fenômeno não é uma questão grave de saúde pública também não é a saída correta, pois, mesmo com o assunto sendo pouco abordado, o número de suicídios continua aumentando ano após ano. Contudo, midiatizar, abordar de forma indiscriminada pode gerar curiosidade, levando à busca de conteúdos distorcidos sobre o assunto, aumentando a sensação de desamparo e desespero, elevando, assim, o número de mortes, como foi observado nos resultados, por meio dos dados numéricos. Inclusive, pode-se observar, nos Gráficos 1, 2 e 3, que, geralmente, os meses com maior incidência de suicídios são os subsequentes a setembro, reforçando ainda mais a ideia de que o tema tem sido abordado de maneira incorreta e que precisa ser feito algo a respeito.
Pode-se observar também que, logo após alguns meses depois de setembro, mais especificamente nos primeiros meses do ano, verificado em 2018, 2019 e 2020 (Gráficos 1, 2 e 3), as curvas de número de óbitos que até então estavam mais altas no final do ano começam a diminuir, voltando a aumentar nos meses de agosto, mês em que geralmente começa o anúncio sobre o Setembro Amarelo. É possível inferir que um efeito de esquecimento acontece, sendo que as pessoas precisam ser constantemente lembradas sobre a importância de se buscar ajuda e apoio no caso de estarem sofrendo e pensando em tirar a própria vida. Pode-se deduzir que falar sobre formas de apoio e cuidado, quando se tem o pensamento de tirar a própria vida, pode ser de extrema importância. As grandes oscilações nas curvas de óbitos por lesão autoprovocada, observadas no Gráfico 4, mostram que é necessária uma estratégia bem pensada durante todo o ano, direcionada de forma adequada para estratégias de prevenção e cuidado, voltadas a ações que visam gerar esperança e amparo e proporcionar acolhimento a pessoas que estão em desespero, e não somente para discursos. Infelizmente, o que se observa no Setembro Amarelo é que ainda existem muitos discursos em postagens nas redes sociais, os quais não propõem ações de cuidado e alternativas de saída para uma mudança real. As postagens, em sua grande maioria, não direcionam para o cuidado em saúde mental, e muitas não têm a proposta de direcionar para os dispositivos de saúde mental existentes, onde há profissionais preparados, com conhecimento sobre como abordar o assunto e tratar a dor e o sofrimento, o que pode, de fato, proporcionar a mudança da ideia suicida e aliviar a dor, que é o real desejo de quem pensa em se matar. De acordo com Penso M. A. & Sena, D. P. A. (2020), a campanha nos Estados Unidos iniciou-se em 1994 pelos pais de Mike Emme, o “garoto do Mustang amarelo” que tirou a própria vida, próximo ao seu carro. Por causa da morte do filho por suicídio, os pais de Mike decidiram deixar cartões com laços amarelos e com uma mensagem que oferecia apoio e ajuda, o que levou muitos jovens a buscarem apoio nas semanas seguintes. Esse fato mostra que é necessário também tratar a pessoa que sofre e pensa em tirar a própria vida. Assim como Marback, R.F, & Pelisoli, C. (2014) mostram, através da abordagem cognitiva comportamental, é necessário realizar o manejo da desesperança, intervir na forma de abordar pessoas com pensamento suicida, buscando estabelecer uma relação de ajuda, acolhimento e aceitação, e não uma postura crítica. É relevante ajudá-las na resolução de problemas, na criação de estratégias de controle de impulsos, para não passarem ao ato em momentos de desespero, buscando, assim, apoio social. Os autores mostram que psicoeducar é uma das estratégias entre várias técnicas utilizadas pela abordagem cognitivo-comportamental citadas por eles, ou seja, educar é necessário, assim como proporcionar apoio e tratamento contínuo para quem sofre com ideação suicida. Essas estratégias, somadas, podem ser uma alternativa válida para que, de fato, diminua o número de óbitos por suicídio.
Outra hipótese que foi trabalhada é que, com o aumento da procura por atendimentos nos canais de ajuda do Centro de Valorização da Vida, a curva de óbitos por lesão autoprovada diminuiria. Foi feito o levantamento do número de atendimentos totais realizados pelos voluntários CVV nos anos de 2018 a 2020. É importante ressaltar que os dados cedidos pela diretoria de comunicação do CVV retratam os atendimentos efetuados em todo o país, pois, por serem feitos por voluntários e por ser um canal aberto durante 24 horas diariamente, os atendimentos são realizados por uma central que encaminha as ligações para todo o país, onde se tem voluntários disponíveis para atenderem no momento da solicitação. Sendo assim, como relatado pelos diretores de comunicação do CVV, não é possível especificar a localização por cidade, mas sim o quantitativo total em todo o Brasil. Com os dados de atendimentos efetuados pelo CVV, a proposta metodológica era realizar uma análise comparativa das curvas de atendimentos realizados pelos voluntários com a curva de óbitos por lesões autoprovocadas, descrevendo o comportamento das curvas. Dessa forma, o que se esperava era um aumento das curvas de atendimentos, representando um crescimento na procura de ajuda por pessoas com pensamentos e ideias suicidas, e uma diminuição das curvas de óbitos, conforme ilustrado nos gráficos.
Os resultados apresentados nos Gráficos 8 e 9 mostram que as curvas evidenciam um comportamento parecido, ou seja, um aumento no número de atendimentos realizados pelos voluntários do CVV nos anos 2018 a 2020. Além disso, houve um aumento no número de óbitos por lesões autoprovocadas no mesmo período, com exceção de 2020; mas, como foi discutido, este ano precisa ser analisado com cautela, devido ao início da pandemia de Covid-19. O que foi possível inferir com a análise dos dados é que o aumento de atendimentos realizados pelo CVV não foi suficiente para reduzir a quantidade de óbitos por suicídio.
Uma das propostas do Setembro Amarelo é divulgar os canais de atendimentos do CVV, possibilitando às pessoas que sofrem e pensam em suicídio buscar auxílio e conforto em seu momento de desespero, encontrando, por meio do CVV, esperança e ampliação da perspectiva de vida, o que pode levá-las a mudar o pensamento de tentarem contra a própria vida. A divulgação realizada no Setembro Amarelo pode fazer com que a busca pelo atendimento do CVV aumente.
Analisando os dados de forma mais meticulosa, conforme ilustrado nos Gráficos 5, 6 e 7, que retratam a quantidade de atendimentos efetivados pelos voluntários do CVV, dispostos mês a mês, durante todo o ano, de 2018 a 2020, pode-se observar que, a partir de setembro, ocorreu um aumento nos atendimentos realizados. É possível inferir, com base nestes resultados, que as estratégias educativas realizadas no Setembro Amarelo demonstram grande eficiência em apresentar para as pessoas da população brasileira os canais de ajuda do CVV. Esse aumento traz duas possíveis interpretações: as pessoas estão buscando ajuda, ou seja, de alguma forma estão tentando uma saída, e provavelmente o Setembro Amarelo mostra essa possibilidade; ou o número de pessoas com pensamentos suicidas também está crescendo, emitindo um sinal de alerta para as autoridades de saúde do País, que precisam sugerir cada vez mais propostas de prevenção e cuidado a pessoas que estão com algum tipo de sofrimento mental.
Em comparação com as curvas sobre número de óbitos por lesão autoprovocada e número de atendimentos realizados pelo CVV, observa-se uma reação parecida de aumento no decorrer dos anos de 2018 a 2020. Pode-se inferir que os óbitos continuam aumentando, evidenciando, assim, que as estratégias educativas do Setembro Amarelo não têm sido suficientes para reduzir os óbitos por suicídio; inclusive, é possível notar que há um aumento, principalmente após o mês de setembro, como demonstrado nos Gráficos 1, 2 e 3. No entanto, o aumento de atendimentos realizados pelo CVV de 2018 a 2020, observado no Gráfico 9, revela que tais estratégias têm impacto positivo em direcionar pessoas com pensamentos suicidas em buscar ajuda por meio dos canais de apoio do CVV.
Neste caso, assim como na análise do número de notificações de óbitos, nota-se um crescimento na quantidade de atendimentos a partir de setembro. Importante refletir que o número de óbitos poderia ser maior se não houvesse esse apoio de escuta e intervenções realizadas pelos voluntários do Centro de Valorização da Vida, evidenciando, dessa forma, a grande relevância do projeto.
No entanto, diante do que foi observado, ainda se precisa pensar em mais estratégias, que tenham impacto na redução do número de óbitos, diminuindo, de fato, a quantidade de pessoas que se matam.
Através da metodologia quantitativo-qualitativa, foi possível efetuar as seguintes inferências, com base no questionário realizado para avaliar a percepção dos voluntários do CVV sobre o projeto Setembro Amarelo.
Os itens 1 e 2 tinham como objetivo analisar o preparo dos voluntários, sendo que, por meio do item 2, foi possível observar que 96,3% deles já realizaram mais de 10 atendimentos a pessoas com pensamentos suicidas, o que confirma a questão levantada de que, caso não houvesse o atendimento dos voluntários do CVV, o número de óbitos por lesão autoprovocada poderia ser maior. E, através do item 1, podemos perceber que 88,9% dos voluntários têm mais de seis meses de atuação nos canais de auxílio do CVV, o que mostra que são profissionais que apresentam uma boa experiência em acolher as pessoas em desespero e desesperança, com boas possibilidades de auxiliá-las a mudar os pensamentos de tentar contra a própria vida.
Ao se analisar o item 4 do questionário, pode-se concluir que 89,3%, ou seja, a maior parte dos voluntários, têm uma percepção positiva sobre as estratégias educativas realizadas no Setembro Amarelo, acreditando na possibilidade de ajudar a prevenir o suicídio. Porém, verificou-se, no item 8, que 82,1% dos voluntários acreditam que elas não são suficientes para reduzir os casos de suicídio, ou seja, percebem a importância e a relevância dessas estratégias, mas entendem que elas, sozinhas, não são o bastante para reduzir o número de suicídios; é necessário fazer algo mais.
Percebeu-se, por meio do item 3 do questionário, que 96,3% dos voluntários do CVV são pessoas preparadas e treinadas para lidar com pessoas que sentem vontade de tirar a própria vida, o que pode aumentar a possibilidade de êxito em uma intervenção realizada para se mudar uma ideia suicida. Foi observado também, pelas respostas ao item 6, que 89,3% dos entrevistados já conseguiram ajudar pessoas a não colocarem em prática o suicídio. Com isso, destaca-se a importância dos atendimentos efetuados pelos voluntários do CVV, pois, caso contrário, a quantidade de óbitos por suicídio poderia ser ainda maior.
Em relação ao item 6 do questionário, que buscava verificar se os voluntários já ajudaram alguém a não cometer suicídio, em conversa com um dos diretores do Centro de Valorização da Vida, foi relatado, em alguns casos, não ser possível ter certeza se, em outro momento, a pessoa passou ao ato. Logo, o número de pessoas que mudaram de ideia em cometer o suicídio em decorrência do apoio dos voluntários do CVV pode ser maior. O que foi observado por meio do questionário é que todos os voluntários são pessoas treinadas e capacitadas para realizar tal intervenção, mas, infelizmente, não é possível garantir que terão êxito em todos os casos atendidos.
Dando continuidade, conforme verificado no item 5, 82,1% dos voluntários já atenderam pessoas que buscaram ajuda no CVV devido a campanhas educativas feitas no Setembro Amarelo, mostrando a relevância do projeto em direcionar as pessoas que pensam em suicídio na busca de ajuda em canais de apoio.
Por meio das análises da entrevista realizada para avaliar a percepção dos voluntários do CVV, foi possível ter um visão geral sobre a importância percebida pelos voluntários CVV em relação ao Projeto Setembro Amarelo. Diante dos resultados, constatou-se que a percepção é positiva, pois os voluntários acreditam na importância do projeto, mas percebem que ele, sozinho, não é suficiente para reduzir os casos de suicídio. Tanto os resultados obtidos quanto os analisados pelos dados dos atendimentos efetivados pelo CVV, corroborados pela pesquisa realizada com os voluntários, mostram que os trabalhos feitos no Setembro Amarelo precisam ser direcionados a pessoas preparadas e treinadas para auxiliar e intervir em situações de provável suicídio, pois esse tipo de atitude, ou seja, de grande potencial de cuidado e intervenção especializada de pessoas preparadas para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas com ideias suicidas é de extrema relevância. Porém, ainda é necessário verificar outras estratégias, que, somadas, possam reduzir a quantidade de óbitos por autoextermínio.
8. Conclusão
O principal objetivo desta dissertação foi verificar se as estratégias educativas realizadas no Setembro Amarelo eram suficientes para reduzir o número de óbitos por suicídio em Belo Horizonte, Minas Gerais. No entanto, infelizmente, os resultados mostram que tais estratégias não têm sido suficientes para diminuir os casos de suicídio. Observou-se um aumento de 38,2% de 2018 para 2019, e uma redução de 11,8% de 2019 para 2020, mas, mesmo assim, essa queda precisa ser analisada com cautela, devido à pandemia da Covid-19, sendo que ainda foi observado um número elevado se compararmos a quantidade total de óbitos de 2018, que foram 1669, e 2020, que foram 2035. Além disso, verificou-se, no segundo semestre dos anos 2018 a 2020, um aumento considerável do número de óbitos se comparado ao primeiro semestre de cada ano, o que não é um resultado positivo, pois, se levarmos em consideração que as atividades do Setembro Amarelo são feitas no segundo semestre, era de se esperar um redução de óbitos nesta época, e não um aumento. Este fato levanta a questão do efeito de contágio, que mostra que o tema ainda precisa ser abordado com muita cautela e preparo, para não gerar efeito contrário. Foi possível notar que as estratégias educativas podem ajudar no direcionamento para os atendimentos do CVV, que aumentaram no período de 2018 a 2020, sendo que os meses após setembro, geralmente, apresentam maiores índices de chamadas. Esses resultados nos levam a pensar que, se não fossem iniciativas como as do CVV, com as intervenções realizadas pelos voluntários do projeto, a quantidade de óbitos por lesão autoprovocada poderia ser ainda maior. Já as entrevistas realizadas com os voluntários do CVV mostram que eles são pessoas capacitadas e treinadas para lidar com quem está em sofrimento e pensado em tentar contra a própria vida. Além disso, veem a importância do Setembro Amarelo, mas, em sua grande maioria, acreditam que as estratégias educativas são importantes, porém, sozinhas, não são suficientes para reduzir o número de óbitos por suicídio.
A importância de se realizar estas análises foi evidenciar que há muito a se fazer sobre a questão do suicídio. As estratégias utilizadas não têm mostrado resultados na diminuição dos casos de óbitos por lesão autoprovocada; por isso, infelizmente, os números continuam preocupantes. Os resultados obtidos nesta dissertação precisam alertar autoridades em saúde do Brasil de que é urgente a necessidade de se investir mais esforços em estudos e pesquisas sobre suicídio e formas de prevenção, buscando estratégias que realmente impactem na redução do número de óbitos. É relevante também pensar que as estratégias realizadas no Setembro Amarelo, no atual formato, precisam ser reavaliadas. Vale ressaltar que não é, e nem foi objetivo deste estudo, levantar críticas sobre o Setembro Amarelo; pelo contrário, procurou-se considerar a importância de se abordar o tema suicídio, evidenciando que existem iniciativas sendo efetivadas em prol da prevenção ao autoextermínio. Após as análises dos dados, o que foi levantado é que se faz necessário estudar e analisar tais iniciativas, para que tenham mais visibilidade e ainda mais status científico, com o propósito de que mais investimentos sejam feitos através do apoio de políticas públicas. É preciso dar credibilidade à iniciativa Setembro Amarelo, pois, infelizmente, não há muitas atividades no Brasil que se propõem a falar sobre suicídio. O tema ainda é muito estigmatizado, com muitos tabus a serem quebrados; por isso, propor-se a tocar nessa ferida é realmente algo que deve ser valorizado. No entanto, os resultados deste estudo apontam para uma necessidade de mudanças na configuração atual desta iniciativa, já que a ideia é muito boa, mas a forma como está sendo aplicada precisa ser repensada. Este estudo pode ser o ponto de partida para que os organizadores do projeto Setembro Amarelo busquem focar no direcionamento, com mais ênfase, para estratégias de intervenção como as do CVV, e também cada vez mais apresentar propostas voltadas ao tratamento contínuo em saúde mental, em especial, dos transtornos mentais que estão mais relacionados ao suicídio. Dessa forma, os governantes poderão ser alertados para a importância de se investir recursos em programas relacionados à saúde mental e à prevenção do suicídio, o que refletirá na vida da população, incluindo aquelas pessoas que viveram com alguém que tirou a própria vida, ou seja, os sobreviventes do suicídio.
A dificuldade e os limites desta pesquisa foram em relação à coleta de dados, devido à seleção dos grupos de voluntários do CVV, pois estes cedem parte do seu tempo para realizar atendimentos nos canais de busca do Centro de Valorização da Vida de forma voluntária e não remunerada, possuindo outras atribuições, suas famílias, estudos e trabalho. Sendo assim, ocupá-los com um questionário de pesquisa tornou-se uma atribuição a mais. A amostra de pesquisa foi pequena, considerando-se a grande abrangência do CVV em todo o país, mas esse resultado deve ser levado em conta devido às características do trabalho no CVV, que é efetuado de forma voluntária e não remunerada. Além disso, os resultados da pesquisa feita com base na entrevista devem ser analisados com cautela, recomendando-se que futuras pesquisas levem em consideração buscar uma amostra maior, abrangendo outros programas de prevenção ao suicídio.
É importante que, em estudos posteriores, seja efetivada uma abrangência maior nas coletas de número de casos de suicídio, não se limitando somente a uma única cidade, pois o Brasil é um país que tem uma população bastante diversificada. Dados estatísticos de pesquisas sobre autoextermínio de anos anteriores realizadas no Brasil mostram que há cidades com maior incidência de suicídios do que Belo Horizonte.
Valem ser analisadas, no Brasil e em outros países, estratégias de prevenção ao suicídio que apresentem estudos que comprovem cientificamente seus resultados, que possam ser replicadas no Brasil. É importante destacar que estratégias educativas, geralmente, são criticadas, por serem limitadas a uma mudança restrita de comportamentos, elas têm uma importante contribuição para a mudança, gerando consciência acerca do problema, mas, sozinhas, nem sempre são suficientes, o que foi observado nesta pesquisa e descrito em sua discussão. Vale analisar outros programas de prevenção ao suicídio no Brasil, efetuando-se estudos a fim de verificar seus impactos e, com isso, possibilitar mais estratégias para serem trabalhadas em conjunto com o Setembro Amarelo.
O fato é que é urgente a necessidade de se fazer algo que realmente possa combater e amenizar os impactos causados pelo suicídio, sabendo-se que é um fenômeno que vem sendo estudado há séculos, com números que se mostram cada vez mais crescentes. Infelizmente, esses números são de pessoas e famílias que sofrem, e seu sofrimento, muitas vezes, não ganha voz por não ser dada a devida importância.
Que este estudo possa gerar incômodo nos leitores, e que esse incomôdo possa germinar atitudes e ações contra o suicídio e seus impactos, frutificando cada vez mais pessoas e instituições engajadas com a causa de prevenção ao suicídio, com interesse genuíno em salvar vidas, aliviar a dor e o sofrimento humano, pois ninguém está totalmente livre de passar por conflitos. Em momentos de dor, sofrimento, desespero; em situações de desamparo e desesperança, muitos pensamentos são possíveis, inclusive o de morte. No entanto, é preciso mostrar a todos que existem saídas e que há pessoas dispostas a ajudar, trazendo cada vez mais esperança de que a vida vale a pena ser vivida. É importante pensar que os problemas passam, que a dor e o sofrimento podem ser tratados, mas a morte é definitiva.
9. Referências dos Capítulos
Ribeiro, J. M., & Moreira, M. R. (2018). Uma abordagem sobre o suicídio de adolescentes e jovens no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva , 23 (9), 2821-2834. https://doi.org/10.1590/1413-81232018239.17192018
Carneiro e Dobson (2016) Tratamento cognitivo-comportamental para depressão maior: uma revisão narrativa http://www.rbtc.org.br/detalhe_artigo.asp?id=229
Marback, R. F., & Pelisoli, C. (2014). Terapia cognitivo-comportamental no manejo da desesperança e pensamentos suicidas. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 10(2), 122-129. https://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20140018
Greenberger, D., & Padesky, C., A. (2017). A mente vencendo o humor: Mude como você se sente, mudando o modo como você pensa. (2. ed). Porto Alegre: Artmed. https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=YAIZDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=ZdRiAyQiUq&sig=rKCyplf7Xe5h0yeQMhyMIs4Ow2Q&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Knapp, P. & Beck, A. T. (2008). Fundamentos, modelos conceituais, aplicações e pesquisa da terapia cognitiva. Revista Brasileira de Psiquiatria , 30 (Supl. 2), s54-s64. https://doi.org/10.1590/S1516-44462008000600002
Wenzel, A., Brown, G. K., & Beck, A. T. (2010). Terapia cognitivo-comportamental para pacientes suicidas. Porto Alegre: Artmed.
Medeiros, H. L. V., & Sougey, E., B. (2010). Distorções do pensamento em pacientes deprimidos: frequência e tipos. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 59(1), 28-33. https://doi.org/10.1590/S0047-20852010000100005
Powell, V. B., Abreu, N., Oliveira, I. R., & Sudak, D. (2008). Cognitive-behavioral therapy for depression. Brazilian Journal of Psychiatry, 30(Suppl. 2), s73-s80. https://doi.org/10.1590/S1516-44462008000600004
Hayes, S. C., Pistorello, J., & Biglan, A. (2008). Terapia de Aceitação e Compromisso: modelo, dados e extensão para a prevenção do suicídio. Revista Brasileira De Terapia Comportamental E Cognitiva, 10(1), 81-104. https://doi.org/10.31505/rbtcc.v10i1.234
Méa, C. P. Della., Z., Sabrina, F., Vinícius, R. T., & Wagner, M. F. (2015). Early maladaptive schemas in hospitalized patients for suicide attempt. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 11(1), 3-9. https://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20150002
Lorenzett, A. (2019). Setembro Amarelo. Acesso em 15 de novembro de 2020. https://www.setembroamarelo.org.br/
Almeida, R. M. M., Flores, A. C. S., & Scheffer, M. (2013). Ideação suicida, resolução de problemas, expressão de raiva e impulsividade em dependentes de substâncias psicoativas. Psicologia: Reflexão e Crítica, 26(1), 1-9. https://doi.org/10.1590/S0102-79722013000100001
Echeburúa, E. (2015). Las múltiples caras del suicidio en la clínica psicológica. Terapia psicológica, 33(2), 117-126. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082015000200006
Wright, J. H.; Sudak, Turkington, D. & Thase, M.E. (2012). Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental: Um guia ilustrado. Porto Alegre: Artmed.
Baldaçara, L. R, Gislene A., Leite, Verônica da S., Porto, Deisy M., Grudtner, Roberta R., Diaz, Alexandre P., Meleiro, Alexandrina, Correa, Humberto, Tung, Teng C., Quevedo, João, & da Silva, Antônio G.. (2020). Brazilian Psychiatric Association guidelines for the management of suicidal behavior. Part 1. Risk factors, protective factors, and assessment. Brazilian Journal of Psychiatry, Epub October 23, 2020.https://dx.doi.org/10.1590/1516-4446-2020-0994
Ruckert, M. L. T., Frizzo, R. P., & Rigoli, M. M. (2019). Suicídio: a importância de novos estudos de posvenção no Brasil. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 15(2), 85-91. https://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20190013
Müller, S. A., Pereira, G. & Zanon, R. B. (2017). Estratégias de prevenção e pósvenção do suicídio: Estudo com profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial. Revista de Psicologia da IMED, 9(2), 6-23. https://dx.doi.org/10.18256/2175-5027.2017.v9i2.1686
Santa, N. D., & Cantilino, A. (2016). Suicídio entre Médicos e Estudantes de Medicina: Revisão de Literatura. Revista Brasileira de Educação Médica, 40(4), 772-780. https://doi.org/10.1590/1981-52712015v40n4e00262015
Bezerra, J., & Silva, F. (2019). AS CORES DA VIDA: ESTRATÉGIAS BIOPOLÍTICAS NAS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. Miguilim – Revista EletrôNica Do Netlli, 8(2), 728-741. doi:10.47295/mgren.v8i2.1902
Prado, A. S. (2019). Vamos falar de suicídio? A prevenção no contexto escolar. https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553647/2/Vamos%20falar%20sobre%20suicidio_a%20prevencao%20no%20ambiente%20escolar.pdf
Oliveira, M. E. C. de, Gomes, K. A. de L., Nóbrega, W. F. S., Gusmão, E. C. R., dos Santos, R. D., & Franklin, R. G. (2020). Série temporal do suicídio no Brasil: o que mudou após o Setembro Amarelo?. Revista Eletrônica Acervo Saúde, (48), e3191. https://doi.org/10.25248/reas.e3191.2020
Setti, V. M. G. (2017). Políticas Públicas e prevenção do suicídio no Brasil. ÎANDÉ : Ciências e Humanidades, v. 1, n. 1, p. 104-113. https://doi.org/10.36942/iande.v1i1.23
Fogaça, V. H. B. (2019). Entre tabus e rupturas: terceiro setor, políticas públicas e os caminhos da prevenção do suicídio no Brasil. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa
Daniel, B. K., & Paulo, R. M. O. (2017). As políticas públicas para prevenção de suicídios. Revista Brasileira de Tecnologias Sociais. v. 2, n. 2, 161-172 (2015) https://doi.org/10.14210/rbts.v2n2.p161-172
Souza, J.C, Faker, J.N, Sousa, I.F de, Bondarczuk, E.H, & Souza, P.A de. (2020). Ações de promoção da saúde ao suicídio no município de Campo Grande / MS: relato de experiência. Research, Society and Development , 9 (7), e54973650. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.3650
Falkenberg, M. B. (2014). Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva. Ciência & Saúde Coletiva [online] v. 19, n. 03. pp. 847-852. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014193.01572013>. ISSN 1678-4561. https://doi.org/10.1590/1413-81232014193.01572013.
Sevalho, G. (2017). Conceito de vulnerabilidade e a educação em saúde fundamentada em Paulo Freire. Interface – Comunicação, Saúde, Educação [online], pp. 00. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0822.
Abasse, M. L. F., Campos-Silva T., Machado, E. L., Botelho, J. M. A., Belo, J. A., Lima, O. M. G., Costa, H. F., & Bicalho, T. M. (2007). Morbimortalidade por doenças e agravos não transmissíveis. In: Superintendência de Epidemiologia. Análise da situação de saúde Minas Gerais. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 121-158.
Barbagli, M. (2019). O suicídio no Ocidente e no Oriente. Rio de Janeiro: Editora Vozes.
Botega, N. J. (2014). Comportamento suicida: epidemiologia. Psicologia Usp, 25(3), 231-236. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-6564D20140004
Botega, N. J. (2015). Crise Suicida e manejo. Porto Alegre: Artmed.
Cerqueira, Y. S., & Lima, P. V. D. A. (2015). Suicídio: a prática do psicólogo e os principais fatores de risco e de proteção. IGT na Rede, 12(23), 444-458. Acesso em 7 de dezembro de 2020 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-25262015000200010&lng=pt&tlng=pt
Durkheim, E. (2014). O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Edipro.
Ernesto, (2020). Suicídio de idosos: um alerta á sociedade. [Blog post]. Acesso em 13 de Dezembro de 2020 https://www.cvv.org.br/blog/suicidio-de-idosos-um-alerta-a-sociedade.
Félix, T. A., Oliveira, E. N., de Oliveira Lopes, M. V., Parente, J. R. F., de Araújo Dias, M. S., & Moreira, R. M. M. (2016). Fatores de risco para tentativa de suicídio: produção de conhecimento no Brasil. Revista Contexto & Saúde, 16(31), 173-185. DOI: https://doi.org/10.21527/2176-7114.2016.31.173-185
Fraga, W. S., Massuquetti, A., & Godoy, M. R. (2016). Determinantes socioeconômicos do suicídio no brasil e no Rio Grande do Sul [Artigo]. ln Economia regional e urbana, XIX Encontro de Economia da Região Sul. Rio Grande do Sul, Brasil.
Gonçalves, L. R., Gonçalves, E., & Oliveira Júnior, L. B. D. (2011). Determinantes espaciais e socioeconômicos do suicídio no Brasil: uma abordagem regional. Nova Economia, 21(2), 281-316. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-63512011000200005
Junior, A. F. (2015). O comportamento suicida no Brasil e no mundo. Revista Brasileira de Psicologia, 02(01). Acesso em 20 de Dezembro de 2020 http://www.mundiblue.com/consultoria/wp-content/uploads/2016/09/O-comportamento-suicida-no-Brasil-e-no-mundo.pdf
Lorenzett, A. (2019). Setembro Amarelo. https://www.setembroamarelo.org.br/. Acesso em 15 de novembro de 2020.
Maciel, V. (2017). Taxa de suicídio é o maior em idosos com mais de 70 anos. https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/taxa-de-suicidio-e-maior-em-idosos-com-mais-de-70-anos. Acesso em 20 de novembro de 2020.
Marback, R. F., & Pelisoli, C. (2014). Terapia cognitivo-comportamental no manejo da desesperança e pensamentos suicidas. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 10(2), 122-129. DOI: https://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20140018
Marcolan, J. F., & da Silva, D. A. (2019). O comportamento suicida na realidade brasileira: aspectos epidemiológicos e da política de prevenção. Revista M. Estudos sobre a morte, os mortos e o morrer, 4(7), 31-44. DOI: http://dx.doi.org/10.9789/2525-3050.2019.v4i7.31-44
Material de estudos FUNIBER – Universidade Iberoamericana Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde- Seminário de Pesquisa I – Metodologia da Pesquisa Científica. (2016).
Méa, C. P. D., Zancanella, S., Ferreira, V. R. T., & Wagner, M. F. (2015). Early maladaptive schemas in hospitalized patients for suicide attempt. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 11(1), 3-9. DOI: https://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20150002
Minois, G. (1998). História do suicídio: a sociedade acidental perante a morte voluntária. Tradução de Serafim Ferreira. Lisboa. Teorema, 331.
Ministério da Saúde. (2006). Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Campinas, SP: Ministério da Saúde.
Ministério da saúde. Acessado em 20 de Dezembro de 2020 https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/taxa-de-suicidio-e-maior-em-idosos-com-mais-de-70-anos
Ministério da Saúde. (2020). Ministério da saúde atualiza dados sobre suicídio. Secretaria de Atenção à Saúde. Sistema único de Saúde. Ministério da Saúde. Acesso em 20 de Dezembro de 2020 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/setembro/20/Coletiva-suic–dio.pdf
Rivera, G. H. A. (09 out., 2015). Suicidio: consideraciones históricas [Versão Eletrônica]. Revista Médica La Paz, 21(2), 91-98. Acesso em 13 de novembro de 2020 http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582015000200012&lng=es&tlng=es
Santos, E. G. D. O., Barbosa, I. R., & Severo, A. K. S. (2020). Análise espaço-temporal da mortalidade por suicídio no Rio Grande do Norte, Brasil, no período de 2000 a 2015. Ciência & Saúde Coletiva, 25, 633-643. DOI: https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.11042018
Santos, W. S., Ulisses, S. M., Costa, T. M., Farias, M. G., & Fernandes, D. P. (2016). The influence of risk or protective factors for suicide ideation. Psic Saúde & Doenças, 17(3), 515-526. DOI: https://dx.doi.org/10.15309/16psd170316
Silva, B. F. A. D., Prates, A. A. P., Cardoso, A. A., & Rosas, N. (2018). O suicídio no Brasil contemporâneo. Sociedade e Estado, 33(2), 565-579. DOI: https://doi.org/10.1590/s0102-699220183302014
Silva, M. C. M. (2009). Renúncia à vida pela morte voluntária: o suicídio aos olhos da imprensa no Recife dos anos 1950. Dissertação de mestrado não-publicada, Programa de Pós- Graduação em História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Brasil.
Tavares, F. L., Marti, P. B., Vinicius, M. C. L., Franciele, G. F. C., Edleusa, A. P., Jacira, N. R. A., Rodrigo, & Rosa, M. (2020). Mortalidade por suicídio no Espírito Santo, Brasil: análise do período de 2012 a 2016. Avances en Enfermería , 38 (1), 66-76. Epub 16 de março de 2020. https://doi.org/10.15446/av.enferm.v38n1.79960
Vasconcelos, R. J., Soares, A. R., Silva, F., Fernandes, M. G., & Teixeira, C. M. (2016). Levels of suicidal ideation among young adults. Estudos de Psicologia (Campinas), 33(2), 345-354. DOI: https://doi.org/10.1590/1982-02752016000200016
Vidal, C. E. L., Gomes, C. B., Mariano, C. A., Leite, L. M. R., Silva, R. A. D., & Lasmar, S. D. C. (2014). Perfil epidemiológico do suicídio na microrregião de Barbacena, Minas Gerais, no período de 1997 a 2012. Cadernos Saúde Coletiva, 22(2), 158-164. DOI: https://dx.doi.org/10.1590/1414-462X201400020008
Nascimento S, C., Kuhn V, C. ., Lurdes .L, S. ., & Cauduro .P. V. . (2020). A PRÁTICA DA SÉRIE DE CASO COMO MÉTODO ANALÍTICO NA ABORDAGEM MISTA. DI@LOGUS, 9(3), 7-19. https://doi.org/10.33053/dialogus.v9i3.19
Sousa, V. D., Driessnack, M., & Mendes, I. A. C. (2007). Revisão dos desenhos de pesquisa relevantes para enfermagem: Parte 1: desenhos de pesquisa quantitativa. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 15(3), 502-507. https://doi.org/10.1590/S0104-11692007000300022
Penso, M. A. & Sena, D. P. A., (2020). A desesperança do jovem e o suicídio como solução. Sociedade e Estado [online]., v. 35, n. 01 [Acessado 12 Janeiro 2022] , pp. 61-81. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-6992-202035010004>. Epub 29 Maio 2020. ISSN 1980-5462. https://doi.org/10.1590/s0102-6992-202035010004.
