ANALYSIS OF THE CIVIL CODE REFORM PROJECT – BILL NO. 4 OF 2025 OF THE FEDERAL SENATE: INHERITANCE LAW
REGISTRO DOI:
Priene Teane Galvão1
Júlio Alves Caixêta Júnior2
Resumo
O presente estudo realiza uma análise crítica do Projeto de Lei n. 4 de 2025, que se encontra em tramitação no Senado Federal e propõe modificações substanciais na Parte Especial do Código Civil, com foco no Livro V, que regula o Direito das Sucessões (arts. 1.784 a 2.027). A proposta legislativa insere-se no contexto de modernização normativa, motivada pelas transformações sociais, familiares e patrimoniais verificadas desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002. O objetivo principal da pesquisa é avaliar a consistência jurídica e os possíveis efeitos práticos das modificações sugeridas. Para isso, a pesquisa identifica as principais alterações, confronta o novo texto com a legislação vigente e examina seus reflexos à luz dos princípios constitucionais. A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, com abordagem teórico-dedutiva, baseada em fontes bibliográficas, documentais, legislativas e doutrinárias. Os resultados indicam que o projeto busca conferir maior coerência e efetividade ao sistema sucessório, com destaque para a equiparação de direitos entre cônjuge e companheiro, a atualização da ordem de vocação hereditária e a revisão de institutos clássicos como a legítima e o testamento. Conclui-se que, embora passível de ajustes, a proposta representa um avanço relevante na adaptação do Direito Sucessório à realidade contemporânea, alinhando-se aos valores constitucionais de igualdade, dignidade da pessoa humana e pluralismo familiar.
Palavras-chave: Código Civil. Direito das Sucessões. Reforma legislativa.
Abstract
This study conducts a critical analysis of Bill No. 4 of 2025, which is currently being processed by the Federal Senate and proposes substantial modifications to the Special Part of the Civil Code, focusing on Book V, which regulates Inheritance Law (Articles 1,784 to 2,027). The legislative proposal is part of the context of normative modernization, motivated by the social, family and patrimonial transformations that have occurred since the entry into force of the Civil Code of 2002. The main objective of the study is to evaluate the legal consistency and possible practical effects of the proposed modifications. To this end, the research identifies the main changes, compares the new text with the current legislation and examines their impacts in light of constitutional principles. The methodology used is qualitative in nature, with a theoretical-deductive approach, based on bibliographic, documentary, legislative and doctrinal sources. The results indicate that the project seeks to make the inheritance system more coherent and effective, with emphasis on equalizing the rights of spouses and partners, updating the order of hereditary vocation, and reviewing classic institutions such as legitimate inheritance and wills. It is concluded that, although subject to adjustments, the proposal represents a significant advance in adapting inheritance law to contemporary reality, aligning it with the constitutional values of equality, human dignity, and family pluralism.
Keywords: Civil Code. Inheritance Law. Legislative reform.
1 INTRODUÇÃO
A pesquisa tem por objetivo realizar uma análise crítica e minuciosa do Projeto de Lei nº 4/2025, em tramitação no Senado Federal. A proposição altera a Parte Especial do Código Civil, com foco no Livro V — Direito das Sucessões (arts. 1.784 a 2.027). Insere-se no esforço de atualização normativa diante das transformações sociais, familiares e patrimoniais das últimas décadas, que exigem a revisão dos paradigmas sucessórios vigentes desde a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Ainda pendente de aprovação definitiva, o referido projeto revela a clara intenção do legislador de modernizar o sistema sucessório nacional, conferindo-lhe maior coerência interna, simplificação procedimental e conformidade com as dinâmicas familiares do tempo presente. Dentre os pontos mais relevantes, destacam-se a reestruturação da ordem de vocação hereditária, a equiparação legal de direitos entre cônjuge e companheiro, além da atualização de institutos tradicionais como o testamento, a legítima e a herança jacente.
O objetivo geral da presente investigação consiste em examinar criticamente as alterações propostas pelo Projeto de Lei n. 4/2025, identificando seus fundamentos jurídicos e avaliando seus impactos na prática sucessória brasileira. Como objetivos específicos, propõe-se: (i) identificar e sistematizar as principais modificações normativas; (ii) confrontar o texto proposto com a legislação vigente e com os princípios constitucionais aplicáveis; e (iii) refletir sobre os efeitos jurídicos, sociais e práticos que podem advir da eventual aprovação da nova redação legal.
Quanto à metodologia adotada, trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem teórico-dedutiva e técnica predominantemente bibliográfica e documental. Foram examinadas fontes primárias, o projeto de lei e o Código Civil, bem como fontes secundárias, compostas por livros e artigos especializado, bem como, da jurisprudência correspondente. Considerou-se, ainda, o histórico legislativo e o debate jurídico em torno das propostas de reforma.
A justificativa para o desenvolvimento do presente estudo reside na relevância jurídica, prática e social do Direito das Sucessões, especialmente diante do pluralismo familiar vigente e das complexidades patrimoniais contemporâneas. A necessidade de adequação normativa não apenas reflete os valores constitucionais em vigor, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a solidariedade familiar, mas também visa garantir segurança jurídica e justiça distributiva nas relações sucessórias.
A pergunta que orienta a presente análise consiste em: em que medida o Projeto de Lei n. 4/2025 contribui para a modernização do Direito Sucessório brasileiro e quais são os impactos jurídicos e sociais de sua eventual incorporação ao ordenamento?
Por fim, os motivos que impulsionaram a elaboração do referido projeto legislativo dizem respeito à constatação de que o atual regime sucessório se encontra, em diversos aspectos, defasado em relação à realidade vivenciada pelas famílias brasileiras. O crescimento da litigiosidade nas ações de inventário e partilha, as omissões legais frente à união estável e às novas formas de parentalidade, bem como a rigidez das regras da legítima, demonstram a urgência de uma reforma que seja ao mesmo tempo técnica, constitucionalmente orientada e socialmente sensível.
O próximo capítulo apresentará uma análise detalhada das mudanças propostas no Projeto de Lei n. 4 de 2025 do Senado Federal. Essa análise será conduzida artigo por artigo, permitindo uma compreensão aprofundada das alterações sugeridas e de seus impactos jurídicos. Para facilitar a exposição e tornar a comparação entre a legislação atual e a reforma mais didática, cada artigo será analisado por meio de um quadro explicativo, estruturado da seguinte forma:
Quadro 1: Modelo da análise do projeto.
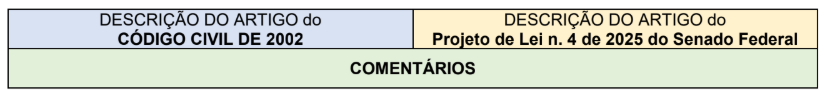
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.
Assim, temos:
a Primeira coluna: apresenta a redação vigente do Código Civil de 2002, possibilitando a identificação das normas atualmente em vigor.
b Segunda coluna: contém a redação proposta pelo Projeto de Lei n. 4/2025, destacando as modificações sugeridas.
c Linha inferior: apresenta uma análise crítica da alteração, abordando os fundamentos da mudança, seus possíveis efeitos práticos e eventuais desafios interpretativos.
É importante ressaltar que os artigos que não sofreram qualquer alteração não serão incluídos no quadro, pois permanecem inalterados e continuam com a mesma redação do Código Civil de 2002. Essa metodologia permitirá uma visão clara e objetiva das transformações legislativas, promovendo um debate jurídico qualificado sobre a reforma do Código Civil.
Dessa forma, a pesquisa contribuirá para o entendimento das implicações sociais, econômicas e jurídicas das alterações propostas, auxiliando acadêmicos, operadores do direito e formuladores de políticas públicas na avaliação do impacto dessas mudanças no ordenamento jurídico brasileiro.
2 COMENTÁRIOS AO PROJETO DE REFORMA DO CÓDIGO CIVIL: ARTIGO POR ARTIGO | INCISO POR INCISO | ALÍNEA POR ALÍNEA
Quadro 2: Análise do Projeto de Lei n. 4 de 2025 do Senado Federal.
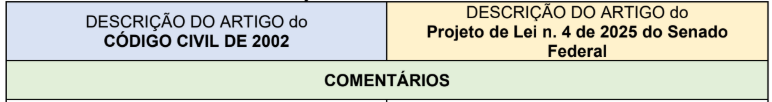
| Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo. | Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o testamento for inválido ou ineficaz. |
| A sucessão legítima ocorre quando não há testamento, ou quando este não abrange todos os bens do falecido. A ordem de vocação hereditária segue uma sequência prevista em lei.3 O artigo prevê que, caso o testamento seja julgado inválido (por vícios de forma, capacidade do testador, ou outros motivos) ou se torne ineficaz (por exemplo, pela preterição de herdeiros necessários), a sucessão legítima subsistirá, garantindo a transmissão dos bens aos herdeiros legítimos.4 A sucessão legítima tem caráter supletivo, ou seja, ela atua para complementar ou substituir a vontade do testador quando este não dispõe validamente sobre a totalidade dos bens, ou quando o testamento é considerado nulo. De acordo com Silvio Rodrigues, “o Código Civil brasileiro reconhece o direito de o testador dispor de seu patrimônio, porém, impõe limites em razão da proteção aos herdeiros necessários.” | |
| Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II – se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III – se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. | Art. 1.790. Revogado. |
| A doutrina critica amplamente o artigo 1.790 a mais de duas décadas, argumentando que ele cria uma diferenciação injusta entre os direitos sucessórios do companheiro e do cônjuge. Segundo Maria Berenice Dias, “o tratamento desigual conferido aos companheiros na sucessão é uma afronta à dignidade da pessoa humana e à proteção da entidade familiar, contrariando a evolução da jurisprudência e da própria Constituição.”5 O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a distinção entre cônjuges e companheiros em matéria sucessória, no julgamento do Recurso Extraordinário 878.694/MG, em 2017. A Corte decidiu que os companheiros têm os mesmos direitos sucessórios que os cônjuges, para garantir toda proteção a todos os tipos de família, independente da formalização ou não desta família pelo casamento, eliminando a discriminação prevista no artigo 1.790 do Código Civil.6 | |
| Art. 1.791-A. Os bens digitais do falecido, de valor economicamente apreciável, integram a sua herança. § 1º Compreende-se como bens digitais, o patrimônio intangível do falecido, abrangendo, entre outros, senhas, dados financeiros, perfis de redes sociais, contas, arquivos de conversas, vídeos e fotos, arquivos de outra natureza, pontuação em programas de recompensa ou incentivo e qualquer conteúdo de natureza econômica, armazenado ou acumulado em ambiente virtual, de titularidade do autor da herança. § 2º Os direitos da personalidade e a eficácia civil dos direitos que se projetam após a morte e não possuam conteúdo econômico, tais como a privacidade, a intimidade, a imagem, o nome, a honra, os dados pessoais, entre outros, observarão o disposto em lei especial e no Capítulo II do Título I do Livro I da Parte Geral, bem como no Livro de Direito Civil Digital. § 3° São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas contratuais voltadas a restringir os poderes da pessoa de dispor sobre os próprios dados, salvo aqueles que, por sua natureza, estrutura e função tiverem limites de uso, de fruição ou de disposição. | |
| A inserção dos bens digitais no âmbito da sucessão reflete uma adaptação do Código Civil às novas realidades sociais. A herança, que tradicionalmente envolvia apenas bens materiais, agora se expande para incluir o patrimônio digital, como perfis em redes sociais, arquivos em nuvem e outros ativos virtuais de valor econômico, sendo que, a lista é aberta; o critério decisivo é a mensurabilidade econômica. O artigo instrumentaliza o destino de bens digitais em inventários e partilhas que hoje carecem de base legal expressa. A integração dos bens digitais à herança é um passo fundamental, considerando o papel cada vez mais central que esses ativos desempenham na sociedade atual.7 A regulamentação desses bens visa evitar lacunas legais e conflitos entre herdeiros, assegurando a transmissão justa e ordenada desse patrimônio. Assim, a escritura de inventário ou o formal de partilha tornar-se-ão título hábil para exigir, de plataformas, a transferência de ativos digitais economicamente avaliáveis. | |
| Art. 1.791-B. Salvo expressa disposição de última vontade e preservado o sigilo das comunicações, as mensagens privadas do autor da herança difundidas ou armazenadas em ambiente virtual não podem ser acessadas por seus herdeiros. § 1º O compartilhamento de senhas, ou de outras formas para acesso a contas pessoais, serão equiparados a disposições negociais ou de última vontade, para fins de acesso dos sucessores do autor da herança. § 2º Por autorização judicial, o herdeiro poderá ter acesso às mensagens privadas do autor da herança, quando demonstrar que, por seu conteúdo, tem interesse próprio, pessoal ou econômico de conhecê-las. | |
| O art. 1.791-B do PLS 4/2025 disciplina o acesso às mensagens privadas do falecido no ambiente digital e estabelece que, como regra, tais comunicações permanecem sigilosas e inacessíveis aos herdeiros, salvo se houver disposição testamentária expressa ou autorização judicial que garanta a preservação do sigilo constitucional das comunicações. A norma ancora-se nos arts. 5º, X e XII, da Constituição, conferindo efetividade ao direito pós-morte à intimidade e à inviolabilidade da correspondência, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo o qual a memória do falecido merece igual respeito à pessoa em vida. Doutrina recente — exemplificada por Tartuce, ao sustentar que “a proteção da privacidade não se extingue com o óbito” — e decisões judiciais embrionárias convergem para essa mesma proteção continuada.8 O parágrafo primeiro equipara ao testamento qualquer ato inequívoco pelo qual o autor da herança tenha fornecido senhas ou outros meios de acesso a suas contas digitais, transformando esse compartilhamento em manifestação válida de última vontade e legitimando, por consequência, a consulta pelos sucessores. Já o parágrafo segundo admite exceção mediante ordem judicial sempre que o herdeiro demonstre interesse próprio, pessoal ou econômico, como na apuração de bens digitais, resolução de obrigações patrimoniais ou obtenção de prova indispensável ao inventário. Essa filtragem evita a violação gratuita da intimidade e submete o acesso extraordinário a controle jurisdicional rigoroso, preservando o equilíbrio entre privacidade e tutela patrimonial. Com isso, o artigo representa avanço normativo ao formalizar a tutela da privacidade digital pós-morte ao mesmo tempo em que fornece instrumentos proporcionais para solucionar impasses sucessórios envolvendo dados e arquivos virtuais. Ao condicionar o acesso a manifestação do falecido ou a juízo de necessidade e adequação proferido pelo magistrado, a proposta fecha lacuna legislativa e concilia valores constitucionais, garantindo coerência sistêmica ao Código Civil frente às demandas crescentes da sucessão de bens e informações digitais. | |
| Art. 1.791-C. Cabe ao inventariante, ou a qualquer herdeiro, comunicar ao juízo do inventário, ou fazer constar da escritura de inventário extrajudicial, a existência de bens de titularidade digital do sucedido, informando, também, os elementos de identificação da entidade controladora da operação da plataforma. § 1º Sendo extrajudicial o inventário, não serão praticados atos de disposição dos bens digitais até a lavratura da escritura de partilha, permitindo-se ao inventariante nomeado o acesso às informações necessárias em poder da entidade controladora. § 2º A escritura ou o formal de partilha constituem título hábil à regularização da titularidade dos bens digitais junto às respectivas entidades controladoras das plataformas. |
| Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. § 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. § 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. § 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade. | Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública ou termo judicial. § 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. § 2º É ineficaz a cessão, feita pelo coerdeiro, tendo por objeto bem ou direito destacados da universalidade e considerados singularmente, a não ser que todos os herdeiros sejam cessionários ou, não o sendo, tenham participado todos do instrumento de cessão, concordando com ela. § 3º É válida a promessa de alienação, por qualquer herdeiro, de bem integrante do acervo hereditário, mesmo pendente a indivisibilidade, mas somente será eficaz se o bem vier a ser atribuído, por partilha, ao cedente. |
| O caput do artigo proposto estabelece que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão do coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública ou termo judicial. A cessão de direitos hereditários já é uma prática reconhecida no sistema jurídico brasileiro10. Contudo, a norma visa reforçar a necessidade de formalização dessa cessão, garantindo segurança jurídica para as partes envolvidas. Carlos Roberto Gonçalves explica que a cessão de direitos hereditários se dá quando um ou mais herdeiros decidem transferir, de forma integral ou parcial, sua parte na herança para outra pessoa. Essa transferência pode ocorrer tanto antes quanto depois da divisão formal dos bens (partilha).11 A exigência de escritura pública ou termo judicial visa assegurar a formalidade e a publicidade do ato, evitando litígios futuros. Enquanto a escritura pública, definida como ato notarial realizado em cartório e dotado de fé pública, garante a autenticidade e a presunção de veracidade do documento, o termo judicial, por sua vez, é um documento que emerge do processo judicial, sendo validado por juiz competente. De acordo com Arnoldo Wald12, a escritura pública confere segurança jurídica ao ato, especialmente em questões patrimoniais, enquanto Maria Helena Diniz13 ressalta que o termo judicial é particularmente importante em situações em que a intervenção do Judiciário é necessária para dirimir dúvidas ou resolver conflitos entre herdeiros, garantindo a equidade na cessão de direitos hereditários. O parágrafo primeiro do artigo propõe que os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer não se presumem abrangidos pela cessão feita anteriormente. Esse dispositivo protege herdeiros substitutos ou aqueles que têm direito ao acréscimo de parte da herança, estabelecendo que uma cessão anterior não prejudica tais direitos. Flávia Pereira aponta que “o direito de acrescer é um mecanismo que visa manter a coesão do patrimônio hereditário, evitando fragmentações injustas”14. | |
| O parágrafo segundo trata da ineficácia da cessão feita pelo coerdeiro que tenha por objeto bem ou direito destacados da universalidade e considerados singularmente, a não ser que todos os herdeiros sejam cessionários ou tenham concordado com a cessão. Essa norma visa evitar que um herdeiro venda ou ceda um bem específico da herança sem o consenso dos demais. O artigo 1.793 do CC/2002 já trata da indivisibilidade da herança até a partilha. A nova proposta reforça essa indivisibilidade, estabelecendo a ineficácia de cessões que prejudiquem a universalidade do acervo hereditário. A manutenção da herança como um todo indivisível até o momento da partilha tem o objetivo de prevenir que o patrimônio seja gasto de forma irresponsável ou dividido de maneira inadequada15. A necessidade de consenso entre os herdeiros para a cessão de um bem singular reforça esse princípio. O parágrafo terceiro dispõe sobre a validade da promessa de alienação de um bem integrante do acervo hereditário, mesmo pendente a indivisibilidade. Contudo, essa alienação só será eficaz se o bem vier a ser atribuído, por partilha, ao cedente. Essa disposição equilibra a liberdade contratual dos herdeiros com a proteção da integridade do acervo hereditário. Joaquim Leitão Neto argumenta que “a promessa de cessão de direitos hereditários, quando feita de boa-fé e com respeito à partilha futura, não viola os princípios do direito sucessório”.16 | |
| Art. 1.795. O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até cento e oitenta dias após a transmissão. | Art. 1.795. O coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço atualizado monetariamente, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até cento e oitenta dias após a transmissão. Parágrafo único. O prazo para o exercício do direito de preferência previsto no caput é decadencial de cento e oitenta dias, a contar do registro da cessão ou da sua ciência, o que ocorrer primeiro. |
| O artigo 1.795 do CC/2002 versa sobre o direito de preferência do coerdeiro na hipótese de cessão de quota hereditária a estranho, garantindo a possibilidade de o coerdeiro adquirir essa quota nas mesmas condições oferecidas ao terceiro, desde que o faça no prazo estipulado. A reforma proposta para o artigo mantém a essência desse direito, mas introduz modificações relevantes, especialmente quanto à atualização monetária do preço e à decadencialidade do prazo. A preferência hereditária, conforme o texto atual, visa preservar a unidade familiar e evitar a entrada de terceiros estranhos na comunhão hereditária, preservando assim o vínculo entre os coerdeiros. Essa preferência é um reflexo do princípio da solidariedade familiar, que norteia as relações jurídicas no âmbito do direito sucessório brasileiro.17 A proposta de alteração introduz a exigência de atualização monetária do preço a ser depositado pelo coerdeiro, o que se mostra uma evolução importante. A atualização monetária visa garantir que o valor pago pelo coerdeiro reflita o real valor de mercado no momento da cessão, evitando que o cedente seja prejudicado pela desvalorização monetária18. Outro ponto de destaque na proposta é a fixação do prazo decadencial de cento e oitenta dias para o exercício do direito de preferência, a contar do registro da cessão ou da ciência do coerdeiro, o que ocorrer primeiro. Essa alteração visa proporcionar maior segurança jurídica, delimitando com clareza o início do prazo para o exercício do direito, de forma a evitar litígios sobre o momento em que o prazo começa a correr³. A decadência, por sua natureza, extingue o direito pelo simples decurso do tempo, o que reforça a importância do registro da cessão como marco temporal claro e objetivo para o início da contagem do prazo19. Em síntese, as alterações propostas para o artigo 1.795 do Código Civil buscam aprimorar o mecanismo de preferência do coerdeiro, trazendo maior segurança jurídica e equidade nas relações patrimoniais entre os herdeiros. A introdução da atualização monetária e a fixação do prazo decadencial são medidas que, além de modernizarem o dispositivo, alinham-se com os princípios de justiça e segurança que permeiam o direito sucessório, vez que, a atualização do preço é tecnicamente adequada e equitativa, e a decadência de 180 dias já é tratada doutrinariamente como prazo de natureza potestativa, e a proposta alinha-se a isso, trazendo mais segurança ao estabelecer um marco objetivo de contagem do prazo. | |
| Art. 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. | Art. 1.796. No prazo fixado na lei processual, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, preferencialmente perante tabelionato de notas, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. § 1º Os valores referentes a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, fundo de participação PIS/PASEP, verbas trabalhistas, e benefícios previdenciários em geral, não recebidos em vida pelo autor da herança, serão pagos, em partes iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou àqueles designados em testamento ou codicilo e, na sua falta, aos herdeiros legítimos nominados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. § 2º A transferência de titularidade de bens móveis cujo valor não ultrapasse a 100 (cem) salários-mínimos poderá ser efetivada por alvará judicial ou termo de autorização para alienação de bens, perante tabelionato de notas, independentemente de inventário ou arrolamento. § 3º Havendo herdeiro ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial e o Juiz mandará ouvir, desde logo, o Ministério Público. § 4º Se não houver oposição do curador do incapaz nem conflito com o cônjuge ou convivente supérstite, e esse for o desejo de todos os herdeiros, será expedido alvará para que o inventário se processe nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo, com a participação do Ministério Público. |
| O artigo 1.796 do CC/2002, em sua redação original, estabelece que, dentro de trinta dias após a abertura da sucessão, deve ser iniciado o inventário do patrimônio hereditário. A proposta de alteração desse artigo introduz mudanças significativas que visam modernizar e tornar mais eficiente o processo de inventário e partilha de bens. A principal mudança é a preferência pela realização do inventário em tabelionato de notas, conforme previsto na nova redação. Essa alteração reflete uma tendência de desjudicialização de procedimentos, ou seja, a transferência de certas etapas do processo de inventário para a esfera extrajudicial, com o objetivo de simplificar e agilizar a tramitação, reduzindo a sobrecarga do Judiciário20. Realizar o inventário em um tabelionato de notas, quando possível, permite que as partes envolvidas resolvam as questões sucessórias de maneira mais rápida mantendo a segurança jurídica necessária. Importante evidenciar que, a preferência pela realização do inventário em tabelionato não retira a exigibilidade do cumprimento de requisitos pré-estabelecidos para que o inventário corra na via extrajudicial (consenso entre herdeiros/meeiro; capacidade civil; inexistência de testamento não registrado judicialmente, salvo hipóteses já admitidas pela praxe). A redação proposta também inclui o parágrafo primeiro, que disciplina a destinação de valores não percebidos em vida pelo falecido, tais como FGTS, PIS/Pasep, verbas trabalhistas e benefícios previdenciários, para pagamento direto aos dependentes habilitados ou aos beneficiários designados em testamento e, na falta destes, aos herdeiros legítimos, independentemente de inventário ou arrolamento. A medida simplifica o acesso a tais recursos, frequentemente essenciais à manutenção dos dependentes após o óbito do titular21. O parágrafo segundo do novo artigo permite a transferência de bens móveis de valor limitado a cem salários-mínimos por meio de alvará judicial ou termo de autorização, também sem necessidade de inventário ou arrolamento. Essa medida é especialmente útil em sucessões com poucos bens ou de menor valor, onde o inventário formal seria desproporcionalmente oneroso e demorado22. O parágrafo terceiro estabelece que, em casos onde há herdeiros ou interessados incapazes, o inventário deve ser processado judicialmente, com a imediata intervenção do Ministério Público. A intervenção do Ministério Público é essencial para garantir a proteção dos direitos dos incapazes, conforme estabelece o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê sua participação obrigatória em processos que envolvem interesses de menores, incapazes e ausentes. 23. Finalmente, o parágrafo quarto permite que, mesmo havendo herdeiros incapazes, o inventário possa ser processado extrajudicialmente, desde que não haja oposição do curador e que todos os herdeiros estejam de acordo. Essa flexibilização possibilita uma solução mais rápida, desde que respeitadas as condições que garantam a proteção dos interesses dos incapazes. Em resumo, a proposta de alteração do artigo 1.796 do Código Civil busca tornar o processo de inventário mais acessível, célere e adequado às necessidades de cada situação sucessória, sem comprometer a segurança e os direitos dos envolvidos. A preferência pela via extrajudicial e as previsões específicas para a destinação de certos bens e valores representam um avanço significativo na desburocratização do direito sucessório, promovendo maior justiça e eficiência na partilha de bens. | |
| Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II – ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III – ao testamenteiro; IV – a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. | Art. 1.797. (…). Parágrafo único. A ordem estabelecida nos incisos I a IV deste artigo poderá ser alterada pelo juiz, de acordo com as circunstâncias. |
| O artigo 1.797 do CC/2002 regula a administração da herança no período anterior à nomeação do inventariante, estabelecendo uma ordem de preferência. O dispositivo é fundamental para garantir a proteção e a adequada gestão do patrimônio do falecido durante a fase de inventário. A proposta de alteração introduz uma importante flexibilização ao permitir que o juiz altere a ordem estabelecida, conforme as circunstâncias do caso concreto. Na redação atual, a administração da herança cabe, primeiramente, ao cônjuge ou companheiro que vivia com o falecido na época da abertura da sucessão; na ausência deste, a responsabilidade recai sobre o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, observada a precedência do mais velho em caso de pluralidade de herdeiros; em seguida, a administração é atribuída ao testamenteiro e, na falta ou escusa dos anteriores, a uma pessoa de confiança do juiz24. O projeto de alteração, ao introduzir o parágrafo único, confere maior discricionariedade ao juiz para adaptar a ordem estabelecida aos casos concretos, considerando as circunstâncias específicas de cada sucessão. Essa mudança reconhece a diversidade das situações familiares e patrimoniais, permitindo uma gestão mais eficiente e justa da herança25. Juristas apontam que a fixação rígida da ordem sucessória para a administração dos bens pode, em alguns casos, resultar em dificuldades práticas ou em uma administração ineficaz, especialmente quando o cônjuge, herdeiro ou testamenteiro não possui condições adequadas para o exercício da função26. Assim, a possibilidade de o juiz alterar essa ordem é uma forma de garantir que a administração dos bens seja conduzida por quem esteja em melhores condições de zelar pelo patrimônio, visando à preservação dos interesses dos herdeiros e credores. Em suma, a introdução do parágrafo único no artigo 1.797 do Código Civil representa um avanço significativo na administração das heranças, permitindo uma atuação judicial mais ajustada às particularidades de cada caso, sempre com o objetivo de proteger os bens e os interesses dos envolvidos. | |
| Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. | Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, bem como os filhos do autor da herança gerados por técnica de reprodução humana assistida post mortem, nos termos e nas condições previstos nos parágrafos seguintes. § 1º Aos filhos gerados após a abertura da sucessão, se nascidos no prazo de até cinco anos a contar dessa data, é reconhecido direito sucessório. § 2º O direito à sucessão legítima dos filhos concebidos ou gerados por técnica de reprodução humana assistida, concluída após a morte, quer seja por meio do uso de gameta de pessoa falecida ou por transferência embrionária em genitor supérstite ou, ainda, por meio de gestação por substituição, depende da autorização expressa e inequívoca do autor da herança para o uso de seu material criopreservado, dada por escritura pública ou por testamento público, observado o disposto nos arts. 1.629-B e 1.629- Q. § 3º A autorização de que trata o § 2º é revogável a qualquer tempo. § 4º O juiz poderá nomear curador ao concepturo em caso de ausência de genitor supérstite ou conflito de interesses com o inventariante ou com os demais herdeiros, para resguardar os interesses sucessórios do futuro herdeiro, até o seu nascimento com vida. § 5º O curador ou o genitor sobrevivente podem requerer a reserva do quinhão hereditário pelo período a que se refere o § 1º. § 6º O limite temporal do § 1º deste artigo não repercute nos vínculos de filiação e de parentesco. |
| A modificação proposta ao artigo 1.798 do Código Civil brasileiro reflete uma adaptação necessária diante dos avanços na medicina reprodutiva, especialmente no que diz respeito às técnicas de reprodução humana assistida, como a fertilização in vitro e a gestação por substituição. A versão original do artigo limita-se a reconhecer como herdeiros aqueles já nascidos ou concebidos no momento da abertura da sucessão. No entanto, com o desenvolvimento dessas tecnologias, torna-se imprescindível atualizar a legislação para contemplar situações em que filhos são gerados após a morte do autor da herança, utilizando material genético previamente criopreservado27. A inclusão dos filhos gerados por técnicas de reprodução assistida post mortem na lista de herdeiros legitimados representa um avanço no reconhecimento dos direitos dessas crianças, garantindo-lhes proteção jurídica e o direito à herança. Ao estabelecer um prazo de cinco anos para o nascimento após a abertura da sucessão, a proposta busca equilibrar o direito sucessório com a segurança jurídica, evitando que heranças permaneçam indefinidamente abertas. A exigência de autorização expressa e inequívoca do autor da herança para o uso de seu material genético cria uma salvaguarda importante para evitar litígios futuros e garantir que a vontade do falecido seja respeitada. Essa autorização, que pode ser dada por escritura pública ou testamento, confere transparência ao processo e assegura que o uso do material criopreservado foi de fato autorizado pelo falecido. Outra consideração relevante é a figura do curador ao concepturo, que visa proteger os direitos do futuro herdeiro até seu nascimento com vida, sobretudo em casos em que possa haver conflitos de interesses entre o inventariante e os demais herdeiros. Isso demonstra uma preocupação em proteger o nascituro não apenas na esfera patrimonial, mas também em termos de integridade e bem-estar28. | |
| Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: I – os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão; II – as pessoas jurídicas; III – as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. | Art. 1.799. (…). I – a prole eventual, ainda não concebida ou ainda não assumida, pela pessoa ou pelas pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas essas ao abrir-se a sucessão, ou desde que iniciado o processo de reprodução humana assistida antes de abrir-se a sucessão; (…). Parágrafo único. Nos casos do inciso II, não estando ainda as pessoas jurídicas devidamente constituídas, com seus atos constitutivos registrados, a deixa testamentária será ineficaz. |
| O artigo 1.799 do CC/2002 disciplina a capacidade sucessória na sucessão testamentária, prevendo a possibilidade de chamamento à herança de filhos ainda não concebidos, pessoas jurídicas e fundações a serem constituídas conforme determinação do testador. A proposta de alteração legislativa introduz modificações que buscam atualizar e esclarecer as normas pertinentes, especialmente em relação ao avanço das técnicas de reprodução humana assistida e à constituição de pessoas jurídicas. O inciso I do artigo atual permite que o testador chame a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas vivas ao tempo da abertura da sucessão. A proposta de alteração amplia essa possibilidade, incluindo não apenas os filhos ainda não concebidos, mas também aqueles que ainda não foram assumidos pelas pessoas indicadas pelo testador. Além disso, a redação proposta incorpora expressamente a situação de filhos concebidos por meio de reprodução humana assistida, desde que o processo tenha sido iniciado antes da abertura da sucessão29. Essa inclusão é de grande relevância, pois alinha o direito sucessório aos avanços da medicina reprodutiva, reconhecendo a existência de filhos que, embora ainda não concebidos naturalmente, são fruto de técnicas como a fertilização in vitro, cujo processo pode iniciar antes da morte do testador. Tal previsão busca assegurar os direitos dos nascituros concebidos dessa forma, garantindo-lhes a participação na herança, respeitados os requisitos legais30. O inciso II mantém a possibilidade de chamamento à herança de pessoas jurídicas, mas a proposta de inclusão de um parágrafo único adiciona uma condição à eficácia da deixa testamentária: a necessidade de que as pessoas jurídicas estejam devidamente constituídas, com seus atos constitutivos registrados. Caso contrário, a deixa será considerada ineficaz. Essa alteração visa a garantir que a deixa testamentária tenha um destinatário certo e juridicamente válido, evitando problemas que possam surgir da tentativa de beneficiar entidades ainda não formalizadas31. A doutrina já destacava a importância de que as pessoas jurídicas, para serem beneficiárias de testamento, estejam plenamente constituídas, uma vez que a inexistência jurídica no momento da abertura da sucessão poderia gerar dúvidas quanto à destinação dos bens e comprometer a eficácia da disposição testamentária32. A proposta legislativa, ao exigir o registro dos atos constitutivos, reforça a necessidade de segurança jurídica e clareza na disposição dos bens testamentários. Em resumo, as alterações propostas para o artigo 1.799 do Código Civil demonstram um esforço de modernização e adequação das normas sucessórias às novas realidades sociais e tecnológicas. A inclusão da prole eventual concebida por reprodução assistida e a exigência de constituição das pessoas jurídicas beneficiárias são medidas que visam a assegurar a eficácia das disposições testamentárias e a proteção dos interesses dos herdeiros e legatários. | |
| Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. § 1º Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e, sucessivamente, às pessoas indicadas no art. 1.775. § 2º Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que couber. | Art. 1.800. (…). § 1º Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá, sucessivamente, à pessoa cujo filho ainda não concebido o testador esperava ter por herdeiro, aos avós e tios do herdeiro eventual e, na falta de todos esses, à pessoa indicada pelo juiz. (…) § 3º Nascendo com vida o herdeiro esperado, efetivando-se sua adoção ou reconhecendo-se o correspondente vínculo de socioafetividade, ser lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e |
| § 3º Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. § 4º Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. | rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. § 4º Se, decorridos dois anos da abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, ou estabelecida a filiação, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. |
| A modificação proposta ao artigo 1.800 do CC/2002 tem como objetivo adaptar as disposições sobre curatela e sucessão aos avanços e mudanças nas estruturas familiares contemporâneas, particularmente em relação a socioafetividade. No artigo original, a curatela dos bens destinados a um herdeiro esperado que ainda não foi concebido é atribuída a uma pessoa designada pelo testador, ou, na falta de designação, às pessoas indicadas no artigo 1.775 do Código Civil, que, referente ao tema, estabelece uma ordem de preferência para a nomeação do curador: em primeiro lugar, o pai ou a mãe; na ausência destes, caberá ao juiz designar quem exercerá a função, observando sempre o interesse e a proteção da pessoa interditada. A proposta de modificação amplia a possibilidade de curatela, incluindo avós e tios do herdeiro eventual, e, na ausência desses, aí sim, seria a possibilidade de outra pessoa indicada pelo juiz. Essa alteração é importante para garantir que, na falta de um curador claramente designado, os bens do herdeiro esperado sejam administrados por alguém com uma ligação próxima, potencialmente mais comprometido com os interesses do nascituro33. A inclusão do vínculo de socioafetividade no parágrafo terceiro representa um avanço significativo na legislação, pois reconhece que o direito sucessório pode ser atribuído não apenas com base em laços biológicos ou legais, mas também na base de relações afetivas consolidadas. O parágrafo quarto, por sua vez, estabelece que, se após dois anos da abertura da sucessão não houver concepção ou estabelecimento de filiação, os bens reservados serão destinados aos herdeiros legítimos, salvo disposição em contrário do testador. O critério objetivo mantém a segurança jurídica ao definir um prazo para a expectativa de herdeiros não concebidos, evitando indefinições que possam comprometer a liquidez e a destinação da herança34. As mudanças propostas ao artigo 1.800 do CC/2002 reforçam a adaptação da legislação aos novos paradigmas familiares, assegurando que os direitos sucessórios sejam respeitados e protegidos dentro de um contexto mais amplo e inclusivo. Essas alterações visam garantir que os interesses dos herdeiros, sejam eles biológicos, adotivos ou socioafetivos, sejam devidamente resguardados, sempre em consonância com os princípios de justiça e equidade. | |
| Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários: I – a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos; II – as testemunhas do testamento; III – o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos; IV – o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. | Art. 1.801. (…). I – a pessoa que, a rogo, escreveu ou realizou a gravação do testamento, nem o seu cônjuge ou convivente, ou os seus ascendentes e irmãos; (…) III – Revogado; IV – o delegatário perante quem se fizer lavrar ou aprovar o testamento; V – os pais nas hipóteses de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1.857 deste Código; V – o apoiador do testador, de que trata o art. 1.783-A deste Código. |
| A inclusão da expressão “ou realizou a gravação do testamento” amplia as formas de elaboração do testamento particular, abarcando não apenas quem o redige, mas também quem o registra por meio audiovisual. Essa atualização é especialmente relevante diante da crescente utilização de recursos tecnológicos na formalização da vontade testamentária. A modificação busca assegurar a imparcialidade do ato, vedando que qualquer pessoa responsável pela documentação da vontade do testador, seja por escrito ou por gravação, possa ser beneficiária direta do testamento. A revogação do inciso do artigo 1.801, que vedava ao concubino a condição de herdeiro ou legatário salvo sob determinadas circunstâncias, representa um avanço significativo na forma como o ordenamento jurídico brasileiro passa a tratar as relações afetivas fora do casamento e da união estável. Tal modificação deve ser compreendida à luz dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade afetiva e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), afastando o tratamento discriminatório historicamente conferido ao concubinato. A alteração de “tabelião, civil ou militar” para “delegatário” amplia o escopo da restrição, abrangendo outros profissionais que tenham atribuições delegadas pelo poder público e que possam estar envolvidos na lavratura ou aprovação do testamento. Essa mudança visa garantir que qualquer agente público envolvido no processo testamentário não possa ser beneficiário do testamento, reforçando a imparcialidade e a ética no exercício de suas funções. A inclusão dos pais nas hipóteses previstas nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 1.857 do Código Civil representa um reforço na proteção dos interesses patrimoniais de filhos juridicamente incapazes. A modificação impede que os genitores, ao instituírem herdeiros em favor de seus filhos, se beneficiem direta ou indiretamente dos bens que, por disposição testamentária, devem ser destinados exclusivamente à prole. Trata-se, portanto, de medida que resguarda a destinação efetiva do patrimônio ao herdeiro incapaz, assegurando que os recursos sejam administrados ou utilizados em seu favor, sem desvios motivados por interesses pessoais dos pais. Além disso, a inclusão do apoiador do testador, nos termos do artigo 1.783-A, que trata da tomada de decisão apoiada, amplia a proteção às pessoas com deficiência ou em condição de vulnerabilidade. Ao vedar que o apoiador seja beneficiado no testamento, a norma busca evitar conflitos de interesse, preservando a autenticidade e a liberdade da manifestação de vontade do testador. Essa mudança harmoniza-se com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e com o modelo de capacidade legal baseado no apoio, e não na substituição, conforme já consagrado pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). | |
| Art. 1.803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. | Art. 1.803. Revogado. |
| Segundo Carlos Roberto Gonçalves, o dispositivo presente no artigo 1.803 “reflete a tentativa do legislador de conceder algum amparo ao filho do concubino, ao reconhecer que, em determinadas situações, ele deveria ser contemplado na sucessão testamentária, desde que fosse também filho do testador”35. A reforma confirma o que é previsto na Constituição Federal de 1988, artigo 227, parágrafo sexto, ou seja, a proibição discriminação relativa à filiação, enfatizando o princípio da igualdade entre filhos.36 Com a retirada desse dispositivo, o ordenamento jurídico brasileiro reforça o princípio da igualdade e elimina a necessidade de distinções entre filhos conforme a origem de suas relações parentais. | |
| Art. 1.805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita; quando tácita, há de resultar tão-somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. § 1º Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os | Art. 1.805. A aceitação da herança pode ser expressa ou tácita. § 1º A aceitação é havida como expressa quando em documento escrito, em formato físico ou digital, o herdeiro declara aceitar a herança ou assume o título ou a condição de herdeiro. |
| meramente conservatórios, ou os de administração e guarda provisória. § 2º Não importa igualmente aceitação a cessão gratuita, pura e simples, da herança, aos demais co-herdeiros. | § 2º O requerimento de abertura do inventário, a simples manifestação nos autos e os atos de mera administração ou conservação dos bens hereditários, incluindo a ocupação, a habitação e proposição de medidas judiciais em defesa do patrimônio, praticados pelo eventual herdeiro, não implicam aceitação tácita da herança. § 3º Não importa igualmente aceitação tácita a cessão da herança, quando feita gratuitamente em benefício de todos aqueles a quem ela caberia se o cedente a repudiasse. § 4º Importa, porém, aceitação tácita a cessão ou alienação da herança em favor de apenas algum ou alguns dos coerdeiros. |
| O artigo 1.805 do CC/2002 disciplina a forma como a aceitação da herança pode se manifestar, seja de modo expresso ou tácito. A proposta de alteração legislativa visa aprimorar a clareza e a segurança jurídica na manifestação da vontade do herdeiro, adequando-se às novas tecnologias e às práticas sociais contemporâneas. A aceitação da herança é um ato jurídico que depende apenas da vontade do herdeiro, não necessitando da anuência de terceiros. Além disso, a aceitação não pode ser parcial, condicional ou temporária, e expressa a decisão do herdeiro de receber a herança37. A nova redação do caput mantém a distinção entre aceitação expressa e tácita, consolidando a jurisprudência e a doutrina sobre o tema. O parágrafo primeiro evidencia a inclusão da possibilidade de declaração escrita em formato digital moderniza a legislação, acompanhando os avanços tecnológicos e as práticas sociais. A previsão de que a assunção do título ou da condição de herdeiro configura aceitação expressa reforça a segurança jurídica. O parágrafo segundo do projeto esclarece que atos de mera administração ou conservação dos bens hereditários, incluindo a ocupação, a habitação e a proposição de medidas judiciais em defesa do patrimônio, não implicam aceitação tácita da herança, evitando interpretações equivocadas e protegendo o herdeiro de aceitar a herança inadvertidamente. A alteração na redação do parágrafo 3º busca maior clareza, estabelecendo que a cessão gratuita da herança em benefício de todos os coerdeiros não implica aceitação tácita, reforçando a liberdade do herdeiro em dispor de seus direitos sucessórios. A inclusão do parágrafo 4º define que a cessão ou alienação da herança em favor de apenas alguns dos coerdeiros configura aceitação tácita, em consonância com a indivisibilidade da aceitação da herança. | |
| Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. § 1º O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. § 2º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. | Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. § 1º A renúncia não abrange bens e direitos desconhecidos pelo herdeiro na data do ato de repúdio. § 2º O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. § 3º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Se chamado a suceder em direitos |
| sucessórios diversos, ainda que sob o mesmo título, pode aceitar uns e repudiar outros. § 4º O herdeiro necessário que também é chamado à sucessão por testamento pode renunciar quanto à quota disponível e aceitar quanto à legítima ou vice-versa. § 5º É ineficaz a renúncia de todos os direitos sucessórios, quando o renunciante, na data de abertura da sucessão, não possuir outros bens ou renda suficiente para a própria subsistência. § 6º Na hipótese do parágrafo anterior, o renunciante interessado, no prazo de 180 dias, pedirá ao juiz que fixe os limites e a extensão da renúncia, de modo a assegurar a sua subsistência. | |
| O artigo 1.808 estabelece que não se pode aceitar ou renunciar à herança parcialmente, sob condição ou a termo. Isso significa que a aceitação ou renúncia deve ser integral, para garantir a clareza e a segurança jurídica no processo de sucessão. Os parágrafos originais permitiam ao herdeiro aceitar legados enquanto renuncia à herança, e a liberdade de aceitar ou renunciar diferentes quinhões hereditários, dependendo das circunstâncias38. O parágrafo primeiro estabelece que a renúncia feita por um herdeiro não abrange bens ou direitos que lhe eram desconhecidos no momento do ato de renúncia. Trata-se de uma regra que visa proteger o herdeiro contra os efeitos de uma renúncia feita sem pleno conhecimento do acervo hereditário. A norma assegura que a manifestação de vontade seja informada e consciente, preservando o princípio da autonomia da vontade em sua dimensão substancial. Essa previsão é particularmente relevante em contextos em que o inventário do patrimônio do autor da herança é complexo ou não totalmente conhecido no momento da renúncia. Ao impedir que o herdeiro renunciante perca direitos sobre bens ocultos ou posteriormente descobertos, o dispositivo previne situações de injustiça e desequilíbrio patrimonial, promovendo maior segurança jurídica e respeito à boa-fé objetiva. A adição do parágrafo quarto permite que o herdeiro necessário, ao ser chamado à sucessão por testamento, possa renunciar à quota disponível e aceitar a legítima, ou vice-versa. Isso introduz um nível de escolha para o herdeiro, permitindo-lhe decidir com base em suas necessidades ou em uma estratégia sucessória específica. O parágrafo quinto e sexto introduz uma importante salvaguarda ao prever que o herdeiro não poderá renunciar integralmente à herança se, no momento da abertura da sucessão, não dispuser de outros meios de subsistência. A norma tem por objetivo proteger o herdeiro de decisões precipitadas ou realizadas sob vulnerabilidade econômica, evitando que ele se coloque em situação de desamparo ao abdicar de patrimônio que poderia garantir sua sobrevivência. Para compatibilizar o direito à renúncia com a proteção da dignidade do herdeiro, o dispositivo estabelece que, diante dessa circunstância, poderá o herdeiro, no prazo de 180 dias, requerer ao juízo competente que determine os limites e a extensão da renúncia. Essa previsão confere ao juiz poder de controle e modulação da eficácia da renúncia, com base em critérios de razoabilidade e necessidade, de modo a assegurar um mínimo existencial ao renunciante. Essa inovação normativa se alinha aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da função social do patrimônio, reforçando a atuação do Poder Judiciário como instância garantidora dos direitos fundamentais, inclusive no âmbito das relações privadas. Ao mesmo tempo, preserva-se a autonomia patrimonial do herdeiro, mas condicionada ao resguardo de sua integridade existencial. Essas modificações propostas ao artigo 1.808 buscam garantir uma maior flexibilidade e | |
| justiça no processo sucessório, permitindo que os herdeiros tomem decisões mais informadas e protegendo-os contra escolhas que possam comprometer sua subsistência ou que possam ser feitas sem pleno conhecimento de seus direitos. | |
| Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. | Art. 1.812. É irrevogável o ato de renúncia da herança. |
| O artigo 1.812 do CC/2002, em sua redação original, estabelece que tanto a aceitação quanto a renúncia da herança são atos irrevogáveis. A proposta de alteração deste artigo simplifica a redação, mantendo apenas a irrevogabilidade da renúncia à herança. A renúncia da herança é um ato que, uma vez realizado, não pode ser desfeito. Este princípio de irrevogabilidade visa garantir a segurança jurídica, evitando que o processo sucessório se torne instável devido a mudanças de decisão por parte dos herdeiros. A doutrina aponta que, ao renunciar, o herdeiro abdica de todos os direitos sobre o patrimônio deixado pelo falecido, permitindo que a herança seja redistribuída entre os demais herdeiros ou destinada conforme outras disposições legais.39 A proposta de nova redação do artigo 1.812, ao destacar exclusivamente a irrevogabilidade da renúncia, elimina qualquer ambiguidade que poderia existir em relação à aceitação da herança. Isso é importante porque, diferentemente da renúncia, a aceitação da herança, mesmo que tacitamente realizada, é um ato que, em alguns casos, pode ser questionado se for demonstrado que o herdeiro aceitou a herança sob erro ou coação.40 O foco na irrevogabilidade da renúncia também reforça a ideia de que o herdeiro deve estar plenamente consciente das consequências de sua decisão ao renunciar à herança. Essa decisão é definitiva e pode impactar tanto o patrimônio pessoal do renunciante quanto a configuração do acervo hereditário para os demais herdeiros. A legislação brasileira busca, assim, proteger o processo sucessório de incertezas, promovendo a estabilidade e a previsibilidade nas transmissões patrimoniais.41 Importante reforçar expressamente a indivisibilidade da renúncia, bem como. a vedação de renúncia parcial/condicionada/temporal. Em suma, a alteração proposta para o artigo 1.812 do Código Civil reafirma a importância do princípio da irrevogabilidade da renúncia da herança, destacando-o de maneira clara e objetiva. Essa mudança contribui para a segurança jurídica no direito sucessório, assegurando que as decisões tomadas pelos herdeiros sejam finais e irrevogáveis, preservando a ordem e a justiça na partilha dos bens. | |
| Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. § 1º A habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias seguintes ao conhecimento do fato. § 2º Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. | Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles requerer habilitação no inventário, para satisfação de seu crédito à conta do quinhão que caberia ao renunciante. (…). § 3º Tratando-se de inventário extrajudicial, a renúncia será ineficaz em relação aos credores do renunciante, que poderão dirigir o seu crédito contra os coerdeiros beneficiados pelo repúdio. |
| O artigo 1.813 do CC/2002 estabelece que, quando um herdeiro renuncia à herança de forma que prejudique seus credores, estes têm o direito de requerer habilitação no inventário, visando a satisfação de seus créditos a partir do quinhão que caberia ao renunciante. Essa disposição reflete a preocupação do legislador em proteger os direitos dos credores, garantindo que a renúncia não possa ser utilizada como um meio de frustrar o cumprimento de obrigações financeiras. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, essa norma busca equilibrar os interesses dos herdeiros e dos credores, evitando que a renúncia à herança se torne um instrumento de fraudes contra os credores.42 | |
| Por sua vez, Maria Berenice Dias enfatiza que o parágrafo 3º, que trata da ineficácia da renúncia em relação aos credores em inventário extrajudicial, assegura que estes possam direcionar seus créditos contra os coerdeiros beneficiados pela renúncia, garantindo, assim, uma proteção adicional ao patrimônio credor. 43 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no recurso especial REsp 1.572.557/PR, reforça essa proteção ao credor, destacando que a renúncia à herança não exime o renunciante de suas obrigações financeiras, permitindo que os credores busquem seus direitos em relação aos coerdeiros que se beneficiaram da renúncia.44 | |
| Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I – que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II – que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; III – que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. | Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que: I – tiverem sido autores, coautores ou partícipes de crime doloso, ato infracional, ou tentativa destes, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, convivente, ascendente ou descendente; II – tiverem sido destituídos da autoridade parental da pessoa de cuja sucessão se tratar; (…). IV – tiverem deixado de prestar assistência material ou incorrido em abandono afetivo voluntário e injustificado contra o autor da herança. |
| A proposta de modificação do artigo 1.814 do Código Civil amplia as hipóteses de exclusão de herdeiros e legatários da sucessão, refletindo uma preocupação crescente com a proteção dos direitos fundamentais e a moralidade nas relações familiares45. A alteração do inciso I expande as causas de exclusão para incluir, além do homicídio doloso, qualquer crime doloso, ato infracional ou tentativa desses contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, convivente, ascendente ou descendente. Essa ampliação é significativa porque não se limita apenas ao homicídio, mas a qualquer ato criminoso intencional que demonstre uma grave violação da relação familiar e da confiança entre os membros da família. A introdução da exclusão para aqueles que foram destituídos da autoridade parental também representa uma mudança importante. A destituição da autoridade parental geralmente ocorre em casos em que os pais falharam gravemente em seus deveres para com os filhos, e essa falha é considerada suficiente para justificar sua exclusão da sucessão. Isso protege os interesses dos filhos e assegura que aqueles que não cumpriram com suas obrigações paternais ou maternais não sejam beneficiados pela herança. A adição do inciso IV, que exclui da sucessão aqueles que deixaram de prestar assistência material ou que incorreram em abandono afetivo voluntário e injustificado contra o autor da herança, é uma resposta à crescente valorização do afeto e do cuidado no âmbito das relações familiares. O abandono afetivo, quando voluntário e injustificado, é visto como uma violação grave dos deveres familiares e, portanto, justifica a exclusão do herdeiro ou legatário. Esse inciso busca garantir que apenas aqueles que mantiveram uma relação de cuidado e respeito com o autor da herança sejam | |
| beneficiados46. Essas modificações no artigo 1.814 estão em sintonia com a evolução do entendimento sobre as relações familiares, buscando proteger o patrimônio do autor da herança de ser transferido para aqueles que, por suas ações, demonstraram desrespeito ou falta de cuidado com a pessoa que construíra aquele patrimônio. A proposta reflete um esforço para alinhar a legislação às expectativas éticas e morais da sociedade contemporânea47. | |
| Art. 1.815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. § 1º O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão. § 2º Na hipótese do inciso I do art. 1.814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. | Art. 1.815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença, em ação proposta por qualquer herdeiro sucessível do autor da herança ou pelo Ministério Público, nos crimes de ação penal pública incondicionada. § 1º Sendo a ação proposta pelo Ministério Público, os demais herdeiros devem ser cientificados da demanda para que declarem se concordam com ou não com a propositura da ação. § 2º Caso discordem e a ação seja julgada procedente, o quinhão do indigno, não havendo direito de representação (art. 1.816), será apenas dos herdeiros que com ela concordaram. Se todos discordarem, a quota do renunciante será revertida em favor de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz. § 3º A não manifestação no prazo decadencial de 30 dias implica concordância. § 4º O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se no prazo decadencial de quatro anos, contados da abertura da sucessão. |
| As mudanças propostas ao artigo 1.815 buscam garantir que o processo de exclusão por indignidade seja mais justo, transparente e rápido, protegendo os interesses legítimos dos herdeiros e assegurando que a vontade do autor da herança seja respeitada, ao mesmo tempo em que reforça os princípios de moralidade e justiça nas relações sucessórias48. A mudança amplifica quem pode propor a ação de exclusão, permitindo que qualquer herdeiro sucessível ou o Ministério Público, nos casos de crimes de ação penal pública incondicionada, tomem a iniciativa. Essa ampliação de legitimidade reflete a importância de assegurar que a indignidade não seja tolerada, mesmo que nenhum herdeiro tome a iniciativa de agir. Uma novidade significativa é a exigência de que, se a ação for proposta pelo Ministério Público, os demais herdeiros sejam notificados e expressem sua concordância ou discordância. Se discordarem e a ação for procedente, o quinhão do indigno será distribuído apenas entre os herdeiros que concordaram com a exclusão. Caso todos discordem, a quota será revertida para um estabelecimento de beneficência. Isso adiciona uma camada de justiça, garantindo que a vontade | |
| dos herdeiros seja considerada e que a exclusão não beneficie aqueles que não apoiaram a ação. O projeto introduz um prazo decadencial de 30 dias para os herdeiros se manifestarem sobre a proposta de exclusão, e se não houver manifestação, presume-se a concordância. Esse mecanismo é crucial para garantir celeridade e evitar que o processo fique indefinidamente em aberto. O projeto ainda consolida o prazo para demandar exclusão, ao reafirma o prazo de quatro anos, um ponto importante para garantir a segurança jurídica e evitar litígios prolongados que possam prejudicar a liquidação da herança49. | |
| Art. 1.816. São pessoais os efeitos da exclusão; os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. | Art. 1.816. São pessoais os efeitos da indignidade; os descendentes do herdeiro indigno sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. § 1º O indigno não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. § 2º O indigno também perde a condição de beneficiário de seguro de vida ou dependente em benefício previdenciário da vítima do ato de indignidade. § 3º O terceiro beneficiado pelo ato de indignidade e que com ele tenha compactuado perde os direitos patrimoniais a qualquer título a que teria direito. |
| As alterações propostas no artigo 1.816 reforçam a punição para aqueles que cometem atos de indignidade, ampliando as consequências para além da herança e garantindo que nenhum benefício, seja sucessório ou previdenciário, seja obtido por meio de atos imorais ou ilegais. Essas mudanças refletem uma postura mais rigorosa e justa, assegurando que a herança seja protegida de influências negativas e seja transmitida de forma ética e correta50. O projeto mantém a exclusão do indigno em relação ao usufruto e administração dos bens, mas a separação do parágrafo em um parágrafo primeiro reforça a ideia de que essa é uma consequência direta da indignidade. Isso reafirma que o indigno perde qualquer direito de influenciar ou se beneficiar dos bens da herança, assegurando que os bens destinados aos sucessores não sejam administrados ou usufruídos por alguém que tenha cometido atos reprováveis. O projeto introduz a perda do direito do indigno de ser beneficiário de seguro de vida ou dependente em benefícios previdenciários da vítima do ato de indignidade. Isso é uma extensão significativa das consequências da indignidade, pois abrange também outros benefícios patrimoniais que poderiam ser devidos ao indigno fora do âmbito estritamente sucessório. Essa mudança amplia a punição para assegurar que o indigno não receba qualquer benefício que derive da vítima. A adição do parágrafo terceiro estabelece que qualquer terceiro que tenha compactuado com o indigno no ato de indignidade também perde os direitos patrimoniais que teria em relação ao patrimônio. Isso visa desincentivar conluios ou ações em conjunto que busquem beneficiar pessoas por meio de atos de indignidade, garantindo que todos os envolvidos sejam devidamente punidos51. | |
| Art. 1.817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé, e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de exclusão; mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. | Art. 1.817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé, e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de indignidade; mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe por perdas e danos. Parágrafo único. O indigno é obrigado a restituir os frutos e os rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação destes. |
| A modificação proposta ao artigo 1.817 do CC/2002 mantém a essência do texto original, mas faz ajustes na terminologia e no escopo das obrigações do herdeiro ou legatário excluído por indignidade. As mudanças propostas no artigo 1.817 reforçam a proteção dos herdeiros e dos terceiros envolvidos nas transações, assegurando que a justiça seja feita sem comprometer a segurança jurídica. A coerência na terminologia e o equilíbrio entre punição e indenização refletem uma preocupação em garantir que o direito sucessório seja aplicado de forma justa e consistente52. A manutenção da validade das alienações e dos atos de administração realizados antes da sentença de indignidade protege terceiros de boa-fé e preserva a segurança jurídica nas transações realizadas. Essa cláusula é crucial para garantir que, mesmo em casos onde um herdeiro seja posteriormente considerado indigno, as transações realizadas de boa-fé com terceiros não sejam desfeitas, evitando incertezas e litígios que possam prejudicar o mercado e as relações comerciais. O parágrafo único reafirma que o indigno deve restituir os frutos e rendimentos obtidos dos bens da herança, mas tem direito a ser indenizado pelas despesas de conservação. Essa disposição busca equilibrar a punição pela indignidade com a justiça, assegurando que, embora o indigno perca os direitos sobre os rendimentos da herança, ele seja compensado pelas despesas que efetivamente contribuiu para a manutenção dos bens, evitando, assim, o enriquecimento ilícito dos demais mesmo com o reconhecimento da indignidade. Esse equilíbrio é essencial para garantir que a exclusão por indignidade seja justa, punindo o comportamento imoral sem criar um ônus excessivo ou desproporcional53. | |
| Art. 1.818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. | Art. 1.818. Aquele que incorreu em atos que determinem a indignidade será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. |
| A modificação do artigo 1.818 reforça a importância da reabilitação expressa e assegura que o testador tenha total controle sobre quem deve ser beneficiado pela sua herança, mesmo em casos de causa de indignidade. Ao uniformizar a linguagem e focar na necessidade de uma manifestação | |
| clara e inequívoca da vontade do testador, a mudança promove maior segurança jurídica e respeito à autonomia testamentária54. A mudança preserva a necessidade de reabilitação expressa para que o indigno possa suceder. Isso significa que o testador precisa manifestar claramente sua intenção de perdoar os atos de indignidade, seja em testamento ou em outro documento autêntico, como uma escritura pública. A exigência de uma reabilitação expressa garante que não haja dúvidas sobre a vontade do testador e que essa vontade seja respeitada e cumprida. O parágrafo único mantém a possibilidade de o indigno suceder se, ao tempo do testamento, o testador já conhecia a causa da indignidade. Isso preserva a autonomia do testador em decidir se, apesar do comportamento indigno, deseja beneficiar o herdeiro ou legatário. No entanto, essa disposição também limita a sucessão ao que está expressamente previsto no testamento, protegendo, assim, os demais herdeiros e o patrimônio55. | |
| Art. 1.822-A. declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem; mas, decorridos cinco anos da publicação do primeiro edital, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. § 1º Após a declaração de vacância, os bens deverão ser destinados à prestação de serviços públicos de saúde, de educação ou de assistência social ou serão objeto de concessão de direito real de uso a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais ou educativos, no interesse do Município, do Distrito Federal ou da União. § 2º Na hipótese de venda dos bens, os valores deverão ser revertidos em favor da infraestrutura dos serviços públicos de saúde, de educação ou de assistência social, vedada a utilização dos recursos para pagamento de folha de pessoal. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.822-A no Código Civil demonstra uma preocupação com a responsabilidade social e com a destinação adequada dos bens que não encontram herdeiros legítimos. Ao direcionar esses bens para áreas que carecem de recursos, como saúde, educação e assistência social, a legislação promove uma redistribuição de riqueza que pode contribuir para a redução de desigualdades e para o fortalecimento dos serviços públicos. Além disso, ao prever a possibilidade de concessão de uso para entidades filantrópicas, assistenciais ou educativas, a lei reconhece a importância do terceiro setor na promoção do bem-estar social e na complementação das atividades estatais. O artigo 1.822-A introduz a regra de que a declaração de vacância da herança não prejudica herdeiros que eventualmente se habilitem, mas define que, passados cinco anos da publicação do primeiro edital, os bens arrecadados se incorporarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, dependendo da localização, ou ao domínio da União, caso estejam em território federal. | |
| A inclusão do artigo 1.822-A é, portanto, uma medida que reforça o compromisso do Estado com a função social da propriedade e com a redistribuição justa dos recursos, assegurando que bens sem herdeiros não sejam desperdiçados, mas sim empregados em prol do interesse público e do bem comum. | |
| Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. | Art. 1.824. (…). § 1º O prazo de prescrição da pretensão de petição de herança tem como termo inicial a abertura da sucessão, § 2º O prazo previsto no § 1º não se interrompe nem se suspende com a propositura de ação de investigação de paternidade, de declaração de paternidade socioafetiva ou com o nascimento do filho havido após aquela data com o emprego de técnica de procriação assistida. |
| O artigo 1.824 permite ao herdeiro entrar com uma ação de petição de herança para reivindicar seu direito sucessório, buscando a restituição total ou parcial da herança que esteja em posse de outra pessoa, seja ela um herdeiro ou alguém sem título. Essa ação é uma ferramenta essencial para garantir que o herdeiro tenha acesso ao patrimônio que lhe é devido56. O parágrafo primeiro estabelece que o prazo de prescrição da ação de petição de herança começa a contar a partir da abertura da sucessão, ou seja, do momento da morte do autor da herança. Isso é importante para dar clareza e segurança jurídica, garantindo que os herdeiros saibam exatamente quando o prazo começa a correr, evitando dúvidas ou litígios sobre a temporalidade da ação. O parágrafo segundo estabelece que o prazo de prescrição não se interrompe nem se suspende pela propositura de ação de investigação de paternidade, de declaração de paternidade socioafetiva, ou pelo nascimento de filho por técnica de procriação assistida após a abertura da sucessão. Este parágrafo é crucial para evitar que questões relacionadas à filiação prolonguem indefinidamente o prazo para a petição de herança, criando incertezas e potencialmente prejudicando outros herdeiros que já tiveram seus direitos reconhecidos57. A exclusão dessas possibilidades de suspensão ou interrupção protege a segurança jurídica no processo sucessório, evitando que heranças fiquem indefinidamente pendentes devido a litígios prolongados sobre filiação. Isso também reflete um equilíbrio entre o direito à herança e a necessidade de resolver as questões sucessórias de maneira célere e definitiva. | |
| Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III – ao cônjuge sobrevivente; IV – aos colaterais. | Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I – aos descendentes; II – aos ascendentes; III – ao cônjuge ou ao convivente sobrevivente; IV – aos colaterais até o quarto grau. |
| O artigo 1.829 do CC/2002 regula a ordem de sucessão legítima, determinando como se dá a transmissão dos bens de uma pessoa falecida, em caso de ausência de testamento. Esse dispositivo assegura que a sucessão siga uma ordem de parentesco, respeitando o princípio da proteção à família e àqueles que mantinham um vínculo direto com o falecido, bem como, garante ao cônjuge o direito de ser herdeiro em concorrência com descendentes e ascendentes58. O projeto desloca o cônjuge/companheiro para a 3ª classe, herdando apenas na falta de descendentes e ascendentes, e sem concorrência com estes. É exatamente essa a diretriz indicada na justificativa do projeto: “alterações na ordem da vocação hereditária (art. 1.829), para que cônjuges e companheiros permaneçam como herdeiros legítimos da terceira classe, mas sem direito à concorrência sucessória”. A mudança elimina as conhecidas disputas sobre concorrência do cônjuge em razão do regime de bens (ex.: comunhão parcial e a restrição aos “bens particulares”), tema que gerou enunciados e uniformizações no STJ (Enunciado 270/CJF e fixação de que, na comunhão parcial, a concorrência ocorria só sobre os bens particulares do falecido). Com o novo texto, essa discussão deixa de existir, porque não há mais concorrência. Ainda, ocorre a equiparação expressa do convivente ao cônjuge. O texto passa a listar “cônjuge ou convivente sobrevivente” na 3ª posição, consolidando a isonomia sucessória entre casamento e união estável, direção já firmada pelo STF ao reputar inconstitucional diferenciar regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. 59. Essas alterações refletem uma evolução no direito sucessório, ajustando a lei para contemplar as diferentes configurações familiares contemporâneas e promovendo a justiça nas relações patrimoniais pós-morte, alinhando-se ao princípio da solidariedade familiar. | |
| Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. | Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge ou ao convivente sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados de fato, judicial ou extrajudicialmente. |
| O artigo 1.830 do Código Civil, em sua versão original, limita o direito sucessório do cônjuge sobrevivente, condicionando-o à ausência de separação judicial ou de fato por mais de dois anos, salvo em casos onde a separação ocorreu por culpa exclusiva do falecido. A nova redação proposta amplia essa regra para incluir também os conviventes, refletindo a evolução do reconhecimento legal das uniões estáveis. A principal mudança é a eliminação do prazo de dois anos e a inclusão dos conviventes como beneficiários. Assim, tanto cônjuges quanto conviventes perdem o direito à herança se estiverem separados, seja judicialmente, extrajudicialmente ou de fato, no momento do falecimento. Isso visa a garantir que apenas aqueles que mantinham uma convivência efetiva e contínua com o falecido tenham direito à sucessão60. Essa alteração alinha-se à tendência de equiparação entre cônjuges e conviventes nos direitos sucessórios, reconhecendo que a união estável merece a mesma proteção que o casamento. Ao simplificar as condições para o direito sucessório, a nova redação busca maior justiça e coerência na distribuição dos bens, evitando que relações interrompidas ou inativas sejam contempladas de forma indevida61. | |
| Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na | Art. 1.831. Ao cônjuge ou ao convivente sobrevivente que residia com o autor da herança ao tempo de sua morte, será assegurado, |
| herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. | qualquer que seja o regime de bens e sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel que era destinado à moradia da família, desde que seja o único bem a inventariar. § 1º Se ao tempo da morte, viviam juntamente com o casal descendentes incapazes ou com deficiência, bem como ascendentes vulneráveis ou, ainda, as pessoas referidas no art. 1.831-A caput e seus parágrafos deste Código, o direito de habitação há de ser compartilhado por todos. § 2º Cessa o direito quando qualquer um dos titulares do direito à habitação tiver renda ou patrimônio suficiente para manter sua respectiva moradia, ou quando constituir nova família. |
| A modificação proposta ao artigo 1.831 do CC/2002 amplia a proteção do direito real de habitação, estendendo-o ao convivente sobrevivente e introduzindo novas condições para o seu exercício. Essa mudança reflete uma adaptação da legislação às novas configurações familiares e à necessidade de proteger os direitos daqueles que conviviam com o falecido em circunstâncias de vulnerabilidade62. A principal mudança na proposta é a inclusão do convivente sobrevivente, equiparando-o ao cônjuge em termos de direito ao bem de família. Essa inclusão reflete o reconhecimento das uniões estáveis como entidades familiares que merecem a mesma proteção legal que o casamento. Ao incluir o convivente, a legislação busca garantir que, independentemente da formalização da relação, o parceiro sobrevivente tenha o direito de permanecer na residência familiar. O parágrafo primeiro introduz a possibilidade de compartilhamento do direito de habitação com descendentes incapazes, pessoas com deficiência, ascendentes vulneráveis, ou os que demonstrarem o convívio familiar comum por prova documental. Essa mudança visa proteger indivíduos em situação de vulnerabilidade que coabitavam com o falecido, assegurando que o direito de habitação seja exercido de forma coletiva quando necessário, e evitando que essas pessoas fiquem desamparadas após o falecimento do provedor. O parágrafo segundo estabelece que o direito de habitação cessa quando qualquer um dos titulares tiver renda ou patrimônio suficiente para manter sua própria moradia, ou quando constituir nova família. Isso cria um mecanismo de equilíbrio, garantindo que o direito de habitação seja mantido apenas enquanto necessário para garantir a proteção e a moradia dos sobreviventes, sem criar uma situação de privilégio injustificado63. A modificação proposta ao artigo 1.831 representa uma evolução significativa na proteção dos direitos dos sobreviventes em um contexto sucessório, especialmente em um mundo onde as configurações familiares são cada vez mais diversas. Ao garantir o direito de habitação tanto ao cônjuge quanto ao convivente, e ao proteger indivíduos vulneráveis que coabitavam com o falecido, a legislação promove justiça e equidade, assegurando que o lar familiar continue sendo um lugar de proteção e segurança para os sobreviventes. | |
| Art. 1.831-A. Terão direito de habitação sobre o imóvel de moradia do autor da herança, as pessoas remanescentes da família parental, | |
| podendo habilitar-se para esse direito os que demonstrarem o convívio familiar comum por prova documental, conforme anotações feitas na forma do § 1º do art. 10 deste Código. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.831-A no Código Civil introduz um novo direito para as pessoas remanescentes da família parental, garantindo-lhes o direito de habitação sobre o imóvel que servia como moradia do falecido. Esse novo dispositivo visa proteger os membros da família que, embora não sejam necessariamente cônjuges ou conviventes, dependiam do imóvel como sua residência habitual. | |
| Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. | Art. 1.832. O herdeiro com quem comprovadamente o autor da herança conviveu, e que não mediu esforços para praticar atos de zelo e de cuidado em seu favor, durante os últimos tempos de sua vida, se concorrer à herança com outros herdeiros, com quem disputa o volume do acervo ou a forma de partilhá-lo: I – terá direito de ter imediatamente, antes da partilha, destacado do montemor e disponibilizado para sua posse e uso imediato, o valor correspondente a 10% (dez por cento) de sua quota hereditária; II – se forem mais de um os herdeiros nas condições previstas no caput deste artigo, igual direito lhes será garantido, nos termos do §1º; III – se a herança não comportar as soluções previstas nos §§ 1º e 2º e ela consistir apenas em único imóvel de morada do autor da herança, terão as pessoas apontadas no caput deste artigo direito de ali manterem-se, com exclusividade, a título de direito real de habitação. |
| A modificação proposta ao artigo 1.832 do CC/2002 representa uma mudança substancial no tratamento dos direitos sucessórios, focando no reconhecimento e valorização dos cuidados prestados ao autor da herança nos últimos tempos de sua vida. Essa proposta reflete uma tentativa de incorporar a ideia de justiça distributiva, reconhecendo o esforço e o zelo de herdeiros específicos, que foram além de suas obrigações comuns64. A proposta altera significativamente o foco do artigo, deslocando-o do cônjuge para qualquer herdeiro que tenha convivido com o autor da herança e tenha demonstrado um cuidado especial nos últimos tempos da vida do falecido. Essa mudança reflete uma valorização do vínculo afetivo e do cuidado efetivo, ao invés de se ater estritamente às relações de parentesco. Assim, observa-se como direitos do Herdeiro Cuidador: 1. O inciso I estabelece que o herdeiro cuidador tem direito a receber imediatamente, antes da partilha, um valor correspondente a 10% de sua quota hereditária. Essa antecipação serve como reconhecimento pelo esforço e cuidado despendidos, oferecendo uma compensação direta e imediata. 2. O inciso II assegura que, se houver mais de um herdeiro que preencha as condições descritas, todos terão direito à mesma compensação, distribuída conforme o parágrafo primeiro. Isso promove justiça entre os herdeiros que contribuíram de maneira | |
| significativa para o bem-estar do falecido. 3. O inciso III garante que, se a herança consistir apenas em um único imóvel de moradia do falecido, o herdeiro cuidador tem o direito de manter-se na propriedade a título de direito real de habitação. Essa cláusula assegura que o herdeiro que dedicou cuidados ao falecido não seja desamparado após sua morte, especialmente em relação à moradia65. A mudança proposta ao artigo 1.832 introduz um conceito mais humanizado e equitativo no direito sucessório, reconhecendo que os laços afetivos e o cuidado podem justificar uma distribuição diferenciada da herança. Ao priorizar o herdeiro que demonstrou zelo e dedicação, a proposta busca uma justiça material, indo além da simples equidade formal baseada em parentesco. | |
| Art. 1.835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau | Art. 1.835. Na linha descendente, os filhos sucedem por direito próprio, e os outros descendentes, por direito próprio ou por representação, conforme se achem ou não no mesmo grau. |
| O artigo 1.835 do CC/2002 trata da ordem de sucessão na linha descendente, estabelecendo como os filhos e demais descendentes herdam os bens deixados pelo falecido. Na redação original, os filhos sucedem “por cabeça” e os outros descendentes, “por cabeça ou por estirpe”, conforme o grau de parentesco66. A nova redação substitui os termos “por cabeça” e “por estirpe” por “por direito próprio” e “por representação”, respectivamente. Essa mudança visa tornar a linguagem mais clara e acessível, facilitando a compreensão das regras sucessórias tanto para operadores do direito quanto para o público em geral. Pela nova formulação, os filhos herdam por direito próprio, recebendo partes iguais da herança. Já os demais descendentes podem herdar por direito próprio ou por representação, dependendo se estão no mesmo grau de parentesco que os filhos ou se representam um ascendente já falecido67. Temos como exemplo de ocorrência de representação quando, um neto recebe a parte que caberia ao seu pai, já falecido, assegurando que a linha sucessória seja mantida de forma justa e proporcional68. Essa alteração não modifica a essência das regras de sucessão, mas aprimora sua redação, alinhando-a com a terminologia jurídica mais atual e promovendo maior precisão conceitual. Além disso, harmoniza o texto legal com a doutrina majoritária, que já utiliza esses termos para explicar os mecanismos de transmissão hereditária69. | |
| Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. § 1º Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. § 2º Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. | Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes. § 1º Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. § 2º Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, a herança deverá ser dividida em tantas linhas quantos sejam os ascendentes chamados à sucessão. |
| A nova redação proposta elimina a concorrência do cônjuge com os ascendentes, deixando a herança exclusivamente para os ascendentes na falta de descendentes. Portanto, o cônjuge | |
| sobrevivente não participa da sucessão quando há ascendentes, preservando a herança integralmente dentro da linha de ascendência70 71. Substancialmente, assim como no artigo anterior, retirando a concorrência do cônjuge, não ocorre modificação no conteúdo, vez que, essa alteração não modifica a essência das regras de sucessão de ascendente, mas aprimora sua redação, alinhando-a com a terminologia jurídica mais atual e promovendo maior precisão conceitual. | |
| Art. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. | Art. 1.837. Revogado. |
| O artigo 1.837 do Código Civil originalmente estabelecia as regras de preferência para a concorrência do cônjuge sobrevivente com os ascendentes na herança, determinando que, ao cônjuge, caberia um terço da herança se concorresse com ascendente em primeiro grau, e a metade, se houvesse apenas um ascendente ou se este fosse de grau maior. A proposta de revogação desse artigo reflete uma mudança na abordagem sucessória, eliminando a regra específica de concorrência do cônjuge com os ascendentes. Com a revogação, o legislador parece buscar uma simplificação das regras sucessórias, removendo a complexidade adicional que essas disposições introduziam72. | |
| Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. | Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou ao convivente sobrevivente. |
| A redação proposta amplia a disposição do convivente sobrevivente como destinatário da herança. Essa alteração reflete o reconhecimento legal da união estável, equiparando-a ao casamento no que diz respeito aos direitos sucessórios. Com isso, tanto cônjuges quanto conviventes passam a ter garantido o direito à sucessão integral na ausência de descendentes e ascendentes, reforçando a proteção jurídica dessas formas de união familiar73. Essa mudança visa garantir que o sobrevivente, seja cônjuge ou convivente, seja amparado na partilha de bens, reforçando a justiça e a equidade na sucessão46. | |
| Art. 1.839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no art. 1.830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. | Art. 1.839. Se não houver cônjuge ou convivente sobrevivente, nas condições estabelecidas no art. 1.830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. |
| O projeto promove tão somente a inclusão do convivente sobrevivente na nova legislação, buscando garantir que a pessoa com quem o falecido mantinha uma união estável e reconhecida tenha os mesmos direitos sucessórios que um cônjuge teria47. | |
| Art. 1.841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. | Art. 1.841. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. |
| A modificação proposta ao artigo 1.841 do CC/2002 altera substancialmente a ordem de sucessão na ausência de irmãos, estabelecendo uma nova regra para a distribuição da herança entre parentes colaterais. Essa mudança busca simplificar e clarificar o processo sucessório, estabelecendo uma nova prioridade na ausência de herdeiros diretos. A proposta retira o direito de irmãos germanos (bilaterais) herdarem o dobro e substitui completamente o conteúdo do artigo, estabelecendo que, na falta de irmãos, herdarão os filhos dos irmãos (sobrinhos do falecido) e, na ausência destes, os tios. Assim, ocorre a extinção da distinção entre irmãos bilaterais e unilaterais na sucessão (a regra de meias cotas desaparece). | |
| Essa modificação tem como objetivo reorganizar a ordem de sucessão entre os colaterais, priorizando os descendentes diretos dos irmãos (sobrinhos) antes de se considerar os tios, que são parentes de grau mais distante74. | |
| Art. 1.842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão, em partes iguais, os unilaterais. | Art. 1.842. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por direito próprio. |
| A proposta de modificação sugere que, caso os herdeiros sejam apenas os filhos de irmãos falecidos (ou seja, sobrinhos), eles herdarão por direito próprio. Em vez de dividir a herança entre irmãos vivos e falecidos, a herança seria dividida diretamente entre os sobrinhos por direito próprio, e não por representação75. Assim, se não há irmãos vivos, os sobrinhos não representam ninguém: são chamados por direito próprio como colaterais de 3º grau. | |
| Art. 1.843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. § 1º Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. § 2º Se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. § 3º Se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. | Art. 1.843. Se concorrerem apenas os tios, herdarão por direito próprio e, na sua falta, de igual modo, os colaterais até o quarto grau. (…). |
| O art. 1.843 estabelece que, não havendo irmãos nem filhos de irmãos (sobrinhos) já tratados nos arts. 1.841 e 1.842, os tios do falecido herdarão por direito próprio (por cabeça); na ausência de tios, serão chamados os demais colaterais até o quarto grau, igualmente por direito próprio. Desta forma, toda a classe de quarto grau herda por cabeça, e não por representação. Na prática, o art. 1.843 chama os colaterais de 4º grau (p.ex., primos, tios-avós, sobrinhos-netos), todos por cabeça. | |
| Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. | Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes. |
| A modificação proposta reflete uma mudança significativa na proteção patrimonial do cônjuge, que, ao ser excluído da categoria de herdeiro necessário, perde o direito à legítima, ou seja, aquela porção da herança que não pode ser disposta livremente pelo testador. Com essa alteração, o cônjuge deixa de ter garantido o mínimo de 50% da herança, ficando sua participação na sucessão condicionada ao que for disposto em testamento ou às regras gerais da sucessão legítima76. Em consequência, a participação sucessória do cônjuge passa a depender (i) do que o testador dispuser em testamento ou (ii) do chamamento pela sucessão legítima, na terceira classe, sem concorrência com descendentes ou ascendentes, solução expressamente anunciada na justificativa do projeto, que também esclarece a exclusão do cônjuge/companheiro do rol de herdeiros necessários. Importante destacar que, quando houver meação, esta decorre do regime de bens (conjugalidade) e não do direito sucessório; portanto, não se confunde com herança nem com legítima. | |
| Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. | Art. 1.846. (…). Parágrafo único. O testador, se quiser, poderá destinar até um quarto da legítima a |
| descendentes e ascendentes que sejam considerados vulneráveis ou hipossuficientes. | |
| O artigo 1.846 do CC/2002 trata da reserva da legítima, que é a parte da herança destinada obrigatoriamente aos herdeiros necessários, entendido como herdeiros necessários no projeto, conforme artigo anterior, os descendentes e os ascendentes. Esse dispositivo garante que metade dos bens do falecido seja assegurada a esses herdeiros, protegendo, assim, o direito deles de receber uma porção mínima da herança, independentemente da vontade expressa do falecido em testamento77. A legítima busca evitar que esses herdeiros, muitas vezes financeiramente dependentes ou com vínculos familiares próximos ao falecido, fiquem desamparados após o falecimento deste78. Com a proposta de alteração, o artigo mantém a proteção da legítima, mas inclui um parágrafo único que confere maior flexibilidade ao testador. Esse parágrafo permite que até um quarto da legítima seja direcionado, por vontade do testador, para descendentes e ascendentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Essa mudança representa um avanço no sentido de personalizar a divisão da legítima, respeitando o desejo do falecido de amparar familiares em condições de necessidade79. Ao autorizar a destinação parcial da legítima a herdeiros vulneráveis, o legislador leva em consideração as novas dinâmicas familiares e a importância de garantir segurança para aqueles que mais dependem do suporte familiar. Assim, o parágrafo único permite que o testador exerça um papel protetivo, fortalecendo o princípio da solidariedade familiar, ao mesmo tempo que assegura a justa divisão da herança entre todos os herdeiros necessários80. | |
| Art. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima. § 1º Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. § 2º Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão sub-rogados nos ônus dos primeiros. | Art. 1.848. Pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima. § 1º Com autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, mediante sub-rogação, ou levantados os gravames. § 2º Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa, salvo se a conversão for determinada em dinheiro. § 3º Pode o testador nomear curador especial aos bens da legítima dos filhos com menos de dezoito anos de idade. |
| A proposta flexibiliza as regras sobre as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, permitindo que o testador as estabeleça sobre os bens da legítima. Isso oferece mais liberdade ao testador para proteger os bens que considera importantes, mas também pode limitar a flexibilidade dos herdeiros na administração desses bens. A nova redação permite a alienação dos bens gravados com autorização judicial e havendo justa causa, o que é um avanço em relação à rigidez anterior. A sub-rogação, ou substituição dos bens gravados, também é permitida, o que proporciona maior flexibilidade e proteção dos interesses dos herdeiros. A mudança mantém a proibição da conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa, exceto se a conversão for determinada em dinheiro. Isso pode garantir que os bens | |
| permaneçam na mesma forma e função estabelecida pelo testador, mas também permite a flexibilidade financeira necessária em certos contextos. A possibilidade de nomear um curador especial para os bens da legítima dos filhos menores de 18 anos é uma adição importante, garantindo que os bens sejam geridos adequadamente e protegidos até que os herdeiros atinjam a maioridade. Isso reflete uma preocupação com a proteção dos interesses dos herdeiros menores81. | |
| Art. 1.850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. | Art. 1.850. Para excluir da herança o cônjuge, o convivente, ou os herdeiros colaterais, basta que o testador o faça expressamente ou disponha de seu patrimônio sem os contemplar. § 1º Sem prejuízo do direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 deste Código, o juiz instituirá usufruto sobre determinados bens da herança para garantir a subsistência do cônjuge ou convivente sobrevivente que comprovar insuficiência de recursos ou de patrimônio. § 2º Cessa o usufruto quando o usufrutuário tiver renda ou patrimônio suficiente para manter sua subsistência ou quando constituir nova família. |
| A proposta de modificação do artigo 1.850 do Código Civil brasileiro introduz importantes alterações na forma como os herdeiros podem ser excluídos da sucessão e como o cônjuge ou convivente sobrevivente pode ser protegido. No texto original, a exclusão de herdeiros colaterais era permitida apenas por meio da omissão no testamento. A nova proposta amplia essa possibilidade para incluir não apenas os herdeiros colaterais, mas também o cônjuge e o convivente, que, no projeto, não são herdeiros necessários, desde que o testador manifeste essa exclusão de forma expressa ou por omissão em relação a esses indivíduos82. A mudança também introduz novas disposições para garantir a subsistência do cônjuge ou convivente sobrevivente. Caso o cônjuge ou convivente prove insuficiência de recursos, o juiz pode instituir um usufruto sobre determinados bens da herança, garantindo assim que a pessoa não fique desamparada. Esse usufruto é uma medida temporária e pode ser cessado se o beneficiário passar a ter recursos suficientes para sua manutenção ou se constituir uma nova família. O direito real de habitação, que permite ao sobrevivente permanecer na residência familiar, não é prejudicado por essa disposição83. Essas mudanças visam assegurar que o cônjuge ou convivente sobrevivente tenha uma proteção adequada, equilibrando a autonomia do testador com a necessidade de garantir a manutenção digna dos sobreviventes. Além disso, a proposta oferece ao testador uma maior flexibilidade na disposição de seus bens, ao mesmo tempo que introduz mecanismos para proteger os direitos dos herdeiros e garantir justiça na administração da herança. | |
| Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. § 1º A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. | Art. 1.857. Toda pessoa capaz, pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. § 1º O testador pode individualizar os bens da legítima dos herdeiros necessários, bem como |
| § 2º São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. | partilhá-los entre eles, respeitado o limite e a proporção legal. § 2º São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, inclusive as que tenham por objeto situações existenciais, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. § 3º Os pais, no exercício da autoridade parental, podem instituir, por testamento público, herdeiros ou legatários aos filhos absolutamente incapazes, para o caso de eles falecerem nesse estado, ficando sem efeito a disposição logo que cesse a incapacidade. § 4º O disposto no § 1º se aplica a todos os filhos, sem distinção de idade, que não estiverem em condições de expressar sua vontade de forma livre e consciente, no momento do ato, ficando sem efeito a disposição logo que cesse a limitação volitiva. |
| O texto original estabelece que qualquer pessoa capaz pode dispor de seus bens por testamento, mas com restrições sobre a inclusão da legítima dos herdeiros necessários e limitações quanto às disposições não patrimoniais. A nova redação amplia essas disposições, permitindo ao testador individualizar e partilhar os bens da legítima entre os herdeiros necessários, desde que respeitado o limite e a proporção legal estabelecida. Essa mudança representa uma flexibilização importante, pois confere ao testador a possibilidade de especificar e distribuir diretamente os bens da legítima, uma prática que antes era restrita, garantindo que a disposição do patrimônio se ajuste mais precisamente às vontades do testador, sem comprometer a parte mínima garantida aos herdeiros necessários84. Além disso, a proposta amplia a validade das disposições testamentárias de caráter não patrimonial, incluindo aquelas que abordam situações existenciais. Isso possibilita que o testador expresse no testamento não apenas a distribuição de bens, mas também outras disposições importantes relacionadas a aspectos da vida e da dignidade dos herdeiros, mesmo que o testamento se restrinja a esses aspectos não patrimoniais. Outra adição relevante é a permissão para que os pais, no exercício da autoridade parental, instituam herdeiros ou legatários aos filhos absolutamente incapazes, caso estes venham a falecer enquanto ainda são incapazes. Essa disposição pode ser ajustada conforme a capacidade dos filhos, tornando-a sem efeito assim que cesse a incapacidade. Essa alteração visa garantir que a proteção dos filhos incapazes seja mantida até que eles alcancem a capacidade plena, ajustando-se às mudanças nas condições dos herdeiros85. A nova redação também inclui que o disposto sobre a individualização e partilha dos bens da legítima se aplica a todos os filhos, sem distinção de idade, que não estiverem em condições de expressar sua vontade de forma livre e consciente no momento do testamento. Isso assegura que mesmo aqueles que não podem manifestar sua vontade por motivos de idade ou outras limitações sejam protegidos, e que a disposição seja ajustada quando essas limitações cessarem. | |
| Art. 1.859. Extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. | Art. 1.859. Extingue-se em cinco anos o direito de requerer a invalidade, por nulidade ou anulabilidade, do testamento ou de disposição testamentária, contado o prazo da data do seu registro. |
| Em sua redação original, este artigo estabelece que o direito de impugnar a validade de um testamento se extingue em cinco anos, contados a partir da data do seu registro. A nova redação proposta amplia esse dispositivo, passando a abranger tanto a nulidade quanto a anulabilidade do testamento ou de qualquer disposição testamentária. Essa alteração é significativa porque detalha com maior precisão as hipóteses em que o testamento pode ser contestado. Anteriormente, o texto mencionava apenas a validade do testamento, o que poderia gerar dúvidas sobre se o prazo de cinco anos se aplicava igualmente aos casos de nulidade absoluta (que tornam o ato nulo) e de anulabilidade (que permitem a anulação do ato, mas não o tornam nulo de pleno direito)86. Com a nova redação, fica claro que o prazo de cinco anos se aplica tanto às ações que visam declarar o testamento nulo quanto àquelas que buscam anulá-lo, trazendo mais segurança jurídica e uniformidade na interpretação e aplicação do direito sucessório. Isso assegura que todas as disposições testamentárias, sejam elas questionadas por nulidade ou anulabilidade, estejam sujeitas ao mesmo prazo de prescrição, contido a partir do registro do testamento87. | |
| Art. 1.859-A. Não podem ser testemunhas em testamentos: I – as pessoas com menos de dezesseis anos de idade; II – aqueles que não estiverem em condições de expressar sua vontade de forma livre e consciente, no momento do ato; III – o herdeiro ou legatário instituído, seus ascendentes e descendentes, irmãos, colaterais até o quarto grau, cônjuge ou convivente; IV – o amigo íntimo ou o inimigo de qualquer herdeiro ou legatário instituído; V – os que mantenham vínculo de subordinação ou prestem serviços ao herdeiro ou legatário instituído. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.859-A no Código Civil brasileiro introduz novas regras sobre quem pode servir como testemunha em testamentos, visando assegurar a integridade e a imparcialidade do processo testamentário. O projeto estabelece uma série de restrições para os testemunhas, refletindo uma preocupação com a clareza e a legitimidade das disposições testamentárias. De acordo com a proposta, não poderão ser testemunhas em testamentos pessoas com menos de dezesseis anos, indivíduos que não estejam em condições de expressar sua vontade de forma livre e consciente no momento do ato, e aqueles que tenham um vínculo direto com os herdeiros ou legatários instituídos. Especificamente, são excluídos da função de testemunha os herdeiros ou legatários instituídos, seus ascendentes e descendentes, irmãos, colaterais até o quarto grau, cônjuges ou conviventes, bem como amigos íntimos ou inimigos dos herdeiros ou legatários instituídos. Além disso, aqueles que mantenham vínculo de subordinação ou prestem serviços ao herdeiro ou legatário instituído também são impedidos de atuar como testemunhas. Essas restrições têm o objetivo de garantir que as testemunhas sejam imparciais e neutras, evitando possíveis conflitos de interesse e garantindo que o testamento reflita a verdadeira vontade do testador sem influências externas. A exclusão de pessoas próximas aos herdeiros ou legatários instituídos, bem como de indivíduos em condições vulneráveis ou com possíveis vínculos de interesse, ajuda a prevenir situações em que a validade do testamento possa ser questionada devido a possíveis pressões ou interesses conflitantes. A mudança propõe uma abordagem mais rigorosa para assegurar que o processo testamentário seja conduzido de forma justa e transparente, evitando a influência de partes | |
| interessadas na elaboração e execução do testamento. Isso reflete uma preocupação com a proteção dos direitos dos testadores e a preservação da integridade do processo sucessório88. | |
| Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de dezesseis anos. | Art. 1.860. Além dos absolutamente incapazes, não podem testar os que não estiverem em condições de expressar sua vontade de forma livre e consciente, no momento do ato. Parágrafo único. À pessoa com deficiência, que assim a solicitar, será assegurada a utilização de tecnologia assistiva de sua escolha para manifestar sua última vontade, por testamento ou codicilo. |
| A redação original restringe a capacidade de testar às pessoas que possuem pleno discernimento no momento do ato, além de permitir que maiores de 16 anos façam testamento. A nova redação proposta traz uma atualização significativa, especificando que além dos absolutamente incapazes, aqueles que não conseguem expressar sua vontade de forma livre e consciente também não podem testar. A mudança mais inovadora está no parágrafo único, que assegura às pessoas com deficiência o direito de utilizar tecnologias assistivas de sua escolha para manifestar sua última vontade. Essa mudança está em consonância com os princípios estabelecidos pela Lei nº 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que promove a igualdade de condições para o exercício de direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência89. Essa atualização reflete uma abordagem mais inclusiva e moderna, alinhada com os princípios de igualdade e dignidade, permitindo que todos, independentemente de suas limitações, possam expressar suas vontades de forma segura e respeitada. | |
| Art. 1.862. São testamentos ordinários: I – o público; II – o cerrado; III – o particular. | Art. 1.862. (…). Parágrafo único. Os testamentos ordinários podem ser escritos, digitados, filmados ou gravados, em língua nacional ou estrangeira, em Braille ou Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), pelo próprio testador, ou por outrem, a seu rogo. |
| O artigo 1.862 do CC/2002 estabelece os tipos de testamentos ordinários: público, cerrado e particular. Esses formatos garantem ao testador diferentes formas de expressar sua última vontade, permitindo-lhe optar pelo tipo mais adequado às suas circunstâncias90. A nova proposta de redação traz uma importante atualização ao adicionar um parágrafo único que amplia as possibilidades de manifestação do testamento. Segundo o parágrafo, o testamento ordinário pode ser registrado não só por escrito, mas também de maneira digitalizada, por meio de gravações de áudio ou vídeo. Além disso, permite o uso de línguas estrangeiras, de formatos inclusivos, como o Braille, e da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), atendendo às necessidades de pessoas com deficiência ou com outras formas de expressão e comunicação91. | |
| Essa inclusão moderniza o direito sucessório e o torna mais inclusivo, adaptando-o à diversidade da sociedade atual e garantindo que todos, independentemente de limitações físicas ou de comunicação, possam manifestar sua última vontade de maneira acessível e respeitosa92. | |
| Art. 1.863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. | Art. 1.863. É proibido o testamento conjuntivo, simultâneo ou correspectivo. Parágrafo único. Admite-se o testamento conjuntivo recíproco entre cônjuges e conviventes, qualquer que seja o regime de bens, sem perda da sua revogabilidade por qualquer dos testadores, nos limites de sua disposição. |
| O artigo 1.863, na sua redação original, proíbe qualquer forma de testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. A nova redação proposta introduz uma exceção significativa, permitindo o testamento conjuntivo recíproco entre cônjuges e conviventes, independentemente do regime de bens. Essa alteração reconhece a realidade das relações familiares contemporâneas, onde cônjuges e conviventes podem desejar manifestar suas últimas vontades de forma coordenada, beneficiando um ao outro. A novidade é que, mesmo permitindo essa forma de testamento, cada testador mantém a liberdade de revogar sua parte, garantindo, assim, a autonomia individual de cada um dentro do pacto sucessório93. | |
| Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público: I – ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos; II – lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial; III – ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. | Art. 1.864. (…). I – ser escrito e, também, gravado em sistema digital de som e imagem por tabelião ou por seu substituto legal, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos, ao tempo da manifestação da vontade; II – o testamento escrito, depois de lavrado o instrumento, deve ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador ou pelo testador ao oficial. Em seguida à leitura, o instrumento será assinado pelo testador e pelo tabelião que deverá, obrigatoriamente, realizar a gravação do ato em sistema digital de som e imagem; III – a gravação em sistema digital de som e imagem será exibida pelo tabelião ao testador que confirmará, por escrito, o teor das declarações. § 1º A certidão do testamento público, enquanto vivo o testador, só poderá ser fornecida a requerimento deste ou por ordem judicial. § 2º Caberá ao tabelião fornecer todos os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistida disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o direito de testar. |
| A proposta de modificação do artigo 1.864 do CC/2002 brasileiro visa modernizar o processo de elaboração e registro de testamentos públicos, incorporando tecnologia digital e melhorando a acessibilidade para pessoas com deficiência. As mudanças propostas introduzem novos requisitos e procedimentos para a formalização de testamentos, refletindo uma adaptação às novas | |
| tecnologias e às necessidades de inclusão. De acordo com a proposta, o testamento público deve ser escrito e também gravado em sistema digital de som e imagem por um tabelião ou seu substituto legal, conforme as declarações do testador. Esta medida permite que as manifestações de vontade do testador sejam registradas de maneira mais detalhada e acessível, utilizando gravações audiovisuais para complementar a documentação escrita. A gravação, que deve ser feita simultaneamente à redação do testamento, adiciona uma camada de segurança e precisão ao processo, ajudando a prevenir disputas sobre a autenticidade e o conteúdo do testamento94. Após a lavratura do testamento escrito, o tabelião deve ler o documento em voz alta para o testador e, em seguida, realizar a gravação do ato em sistema digital de som e imagem. Essa gravação será exibida ao testador, que confirmará por escrito o teor das declarações. Essa nova exigência visa garantir que o testador esteja plenamente ciente e de acordo com o conteúdo registrado, proporcionando um mecanismo adicional para assegurar a validade e a integridade do testamento. Além disso, a proposta estabelece que a certidão do testamento público só pode ser fornecida ao testador ou por ordem judicial enquanto o testador estiver vivo. Isso reforça a confidencialidade e a proteção das intenções do testador durante sua vida, evitando que informações sensíveis sejam divulgadas prematuramente. O artigo também introduz a obrigação de que o tabelião forneça recursos de acessibilidade e tecnologia assistida para garantir que pessoas com deficiência possam exercer plenamente seu direito de testar. Essa inclusão é um avanço significativo na promoção da igualdade e na garantia de que todos os indivíduos tenham a oportunidade de deixar suas disposições testamentárias, independentemente de suas condições físicas ou sensoriais95. | |
| Art. 1.864-A. Os hospitais, as clínicas, os asilos, as casas de repouso ou os donos da residência em que esteja pessoa que não possa se movimentar, ambular ou deslocar-se, não podem impedir o ingresso de oficiais que venham praticar atos notariais em suas dependências, cabendo ao tabelião, quando solicitado, identificar-se perante o estabelecimento, ou perante os donos da casa, declarando com precisão quem os contatou e solicitou sua presença. § 1º O estabelecimento fará constar por escrito, no prontuário do paciente, a ocorrência e dará ao oficial declaração, subscrita por médico, quanto à solicitação do tabelião e quanto a eventual causa de proibição de o paciente receber visitas. § 2º Se entender necessário, o tabelião solicitará a presença do médico que atende o declarante ou, na sua falta, trará médico de sua própria confiança para acompanhá-lo. § 3º Se a gravação a que alude o art. 1.864, a juízo do tabelião, expuser o declarante à especial | |
| constrangimento, será feita apenas para captar sua voz. § 4º A gravação de som e imagem será realizada se o declarante, informado pelo tabelião, expressamente a consentir ou tratar-se de caso em que a gravação completa não possa ser dispensada, como nos casos dos arts. 1.866, 1.867 e 1.869. § 5º Ao lavrar o ato notarial solicitado, o tabelião declinará na escritura todos os dados que permitam identificar quem o contatou e solicitou os seus serviços, o momento, o lugar e a forma como a manifestação de vontade foi colhida e a impressão que lhe causou o paciente, bem como alguma observação que o médico assistente tenha feito, a respeito do estado de saúde mental e da lucidez do declarante, bem como as razões pelas quais a gravação de imagem foi ou não realizada. § 6º Se o tabelião notar alguma irregularidade que faça supor estar o idoso ou o paciente em condições de subjugação moral ou física, por parte de familiares, de cuidadores ou dos administradores do lugar onde se encontram internados, dará notícias desse fato às autoridades competentes. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.864-A no Código Civil brasileiro introduz medidas importantes para garantir a proteção dos direitos das pessoas incapazes de se movimentar ou deslocar-se, especialmente em contextos hospitalares ou institucionais. Este artigo estabelece diretrizes para o ingresso de oficiais notariais em locais como hospitais, clínicas, asilos e casas de repouso, assegurando que essas pessoas possam exercer sua vontade e fazer disposições legais mesmo quando se encontram em condições de fragilidade. De acordo com a proposta, os estabelecimentos de saúde e similares não podem impedir a entrada de oficiais que venham realizar atos notariais, garantindo assim que os direitos dos pacientes sejam respeitados. O tabelião deve se identificar perante o estabelecimento e informar precisamente quem o contatou e solicitou sua presença, visando assegurar transparência e garantir que o oficial esteja devidamente autorizado a realizar o ato notarial. O artigo também prevê que o estabelecimento registre a ocorrência no prontuário do paciente e forneça uma declaração assinada por um médico sobre a solicitação do tabelião e sobre qualquer possível causa para a restrição de visitas. Se necessário, o tabelião pode solicitar a presença do médico que atende o paciente ou levar um médico de sua confiança para acompanhar o ato, o que reforça a segurança e a validade dos atos realizados em tais circunstâncias96. Uma inovação relevante é a possibilidade de gravar o testamento apenas em áudio se a gravação completa em vídeo expuser o declarante a constrangimento, garantindo a proteção da privacidade e dignidade do paciente. A gravação de som e imagem será realizada somente se o declarante consentir expressamente ou quando a gravação completa for indispensável, como em casos específicos previstos nos artigos mencionados. Além disso, o tabelião deve registrar na escritura todos os dados relevantes sobre o contato e a solicitação de seus serviços, o momento e local da manifestação de vontade, bem como a impressão sobre o estado de saúde mental e lucidez do declarante. Caso o tabelião perceba alguma | |
| irregularidade que sugira subjugação moral ou física do paciente, ele deve comunicar o fato às autoridades competentes, garantindo que possíveis abusos sejam investigados97. | |
| Art. 1.865. Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. | Art. 1.865. Se o testador não souber ler ou assinar, o testamento público será obrigatoriamente realizado mediante gravação em sistema digital de som e imagem e a assinatura será lançada na escritura pública pelo sistema digital. |
| Silvana do Monte de Andrade (2018) destaca que a utilização de tecnologias digitais em atos notariais, como no caso dos testamentos, representa um avanço importante no direito sucessório, permitindo que pessoas com limitações sejam incluídas no processo de disposição de bens e assegurando que sua vontade seja efetivamente respeitada.98 Jurisprudências relacionadas a esse tema têm mostrado a importância da utilização de tecnologias para a formalização de testamentos. No caso do REsp 1.712.175/RS, o Superior Tribunal de Justiça reforçou a validade de testamentos realizados com recursos tecnológicos, desde que observados os requisitos legais e garantida a manifestação da vontade do testador.99 Assim, o artigo 1.865 promove uma inclusão significativa no direito sucessório, garantindo que todos, independentemente de suas limitações, possam dispor de seus bens de maneira clara e legítima. | |
| Art. 1.866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. | Art. 1.866. O testamento público da pessoa surda ou com deficiência auditiva, total ou parcial, será obrigatoriamente gravado em sistema digital de som e imagem. § 1º Se souber ler, lerá o seu testamento, diante do tabelião. Não sabendo ou não podendo se expressar, designará quem o leia em seu lugar, podendo indicar um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para simultaneamente lhe dar conhecimento do conteúdo. § 2º O tabelião deverá, obrigatoriamente, realizar a gravação do ato em sistema digital de som e imagem. |
| A proposta de modificação visa adaptar o processo de elaboração de testamentos para garantir que pessoas surdas ou com deficiência auditiva, seja total ou parcial, possam exercer plenamente o direito de testar. A nova redação introduz requisitos adicionais para a gravação e a comunicação durante a realização do testamento, refletindo uma preocupação com a inclusão e acessibilidade. Segundo a proposta, o testamento público de uma pessoa surda ou com deficiência auditiva deve ser gravado obrigatoriamente em sistema digital de som e imagem. Esta medida visa assegurar que o processo seja documentado de forma completa e transparente, capturando não apenas a declaração verbal do testador, mas também qualquer interação relevante durante o procedimento. A gravação digital serve para proteger a integridade do testamento e garantir que as intenções do testador sejam claramente registradas e compreendidas. Se o testador surdo souber ler, ele deve ler o testamento em voz alta na presença do tabelião e das testemunhas. No entanto, se não souber ler ou não puder expressar-se verbalmente, ele pode designar alguém para ler o testamento em seu lugar. Além disso, o testador pode indicar um | |
| intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para fornecer simultaneamente a interpretação do conteúdo do testamento, garantindo que a comunicação seja clara e compreendida. Essa inclusão do intérprete tem como objetivo proporcionar um meio eficaz de comunicação e assegurar que o testador compreenda completamente o conteúdo e as implicações de seu testamento100. O tabelião, por sua vez, tem a obrigação de realizar a gravação do ato em sistema digital de som e imagem, registrando todas as etapas do processo, incluindo a leitura do testamento, a presença do intérprete, e qualquer outra interação relevante. Isso reforça a transparência e a conformidade com os requisitos legais, além de garantir que o testamento seja registrado de maneira completa e precisa. | |
| Art. 1.867. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido, em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. | Art. 1.867. A pessoa com deficiência visual poderá testar por qualquer forma, com a gravação obrigatória do ato em sistema digital de som e imagem. Parágrafo único. Em se tratando de testamento público, o testador com deficiência visual pode solicitar cópia do seu testamento em formato acessível, incluindo Braille, áudio, fonte ampliada e arquivo digital acessível. |
| A proposta busca modernizar e tornar mais inclusivo o processo de elaboração de testamentos para pessoas com deficiência visual. A nova redação reflete uma preocupação com a acessibilidade e a proteção dos direitos dos testadores que possuem deficiência visual, permitindo lhes testar por qualquer forma, desde que o ato seja gravado em sistema digital de som e imagem. De acordo com a proposta, pessoas com deficiência visual poderão realizar testamentos em qualquer forma permitida pela legislação, desde que o ato seja gravado em sistema digital de som e imagem. A gravação digital é uma medida crucial para assegurar a transparência e a precisão na documentação do testamento, permitindo que as intenções do testador sejam registradas de forma completa e clara. Essa abordagem também garante que o testamento possa ser revisado e autenticado posteriormente, se necessário101. Adicionalmente, a proposta permite que, em se tratando de testamento público, o testador com deficiência visual solicite uma cópia do testamento em formatos acessíveis, como Braille, áudio, fonte ampliada e arquivo digital acessível. Essa inclusão é uma inovação significativa, pois proporciona aos testadores com deficiência visual o acesso ao conteúdo do seu testamento de maneira que atenda às suas necessidades específicas. Oferecer cópias em formatos acessíveis não apenas facilita o entendimento do testamento pelo próprio testador, mas também assegura que ele possa acompanhar e verificar o conteúdo das disposições testamentárias de forma independente. Essas mudanças refletem um avanço na promoção da igualdade e na proteção dos direitos das pessoas com deficiência visual, garantindo que elas possam exercer plenamente seus direitos testamentários sem enfrentar barreiras relacionadas à sua condição. A inclusão de formatos acessíveis para a cópia do testamento demonstra um compromisso com a acessibilidade e a justiça no processo sucessório102. | |
| Art. 1.868. O testamento escrito pelo testador, ou por outra pessoa, a seu rogo, e por aquele assinado, será válido se aprovado pelo tabelião | Art. 1.868. O testamento escrito ou gravado em sistema digital de som e imagem pelo testador, será válido se aprovado pelo tabelião ou seu |
| ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades: I – que o testador o entregue ao tabelião em presença de duas testemunhas; II – que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado; III – que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença de duas testemunhas, e o leia, em seguida, ao testador e testemunhas; IV – que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Parágrafo único. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que seu subscritor numere e autentique, com a sua assinatura, todas as páginas. | substituto legal, observadas as seguintes formalidades: I – que o testador entregue a declaração escrita em documento físico ou o arquivo digital de som e imagem ao tabelião diante de pelo menos duas testemunhas; (…). IV – que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pela testemunha e pelo testador ou por outra pessoa, a seu rogo. Parágrafo único. Quando digitado o testamento cerrado, o subscritor deve numerar e autenticar, com a sua assinatura, todas as páginas; quando gravado em sistema digital de som e imagem, deve o testador verbalizar, com a própria voz, antes de encerrar a gravação, ser aquele o seu testamento. |
| A proposta de modificação do artigo 1.868 do CC/2002 visa modernizar e adaptar as formalidades para a validade do testamento, incorporando o uso de tecnologias digitais e proporcionando maior flexibilidade para a elaboração e aprovação do testamento. Essa mudança reflete um esforço para tornar o processo testamentário mais acessível e alinhado com as práticas tecnológicas contemporâneas. De acordo com a proposta, o testamento escrito ou gravado em sistema digital de som e imagem pelo testador será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, respeitando uma série de formalidades. Inicialmente, o testador deve entregar a declaração escrita em documento físico ou o arquivo digital de som e imagem ao tabelião na presença de pelo menos duas testemunhas. Esta etapa assegura que o testamento seja apresentado e registrado corretamente, conforme as exigências legais103. O tabelião deve então proceder com a aprovação do testamento, lavrando o auto de aprovação na presença das testemunhas. Após a elaboração do auto, o tabelião o lerá ao testador e às testemunhas, garantindo que todos compreendam o conteúdo e as formalidades do ato. O auto de aprovação deve ser assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador, ou por outra pessoa designada a seu rogo, garantindo a validade e a autenticidade do testamento. Uma inovação importante na proposta é a formalização do testamento gravado em sistema digital de som e imagem. Quando o testamento é gravado, o testador deve verbalizar, com sua própria voz, antes de encerrar a gravação, que aquele é o seu testamento. Essa prática assegura que a intenção do testador seja clara e registrada de forma inequívoca, mesmo quando a gravação é utilizada em vez de um documento escrito. Adicionalmente, a proposta mantém a exigência de que, quando o testamento é digitado, o subscritor deve numerar e autenticar todas as páginas com sua assinatura. Isso garante que o documento seja completo e que nenhuma página seja adicionada ou alterada após a assinatura104. | |
| Art. 1.869. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando, sob sua fé, que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas; passando a cerrar e coser o instrumento aprovado. | Art. 1.869. O tabelião deve começar o auto de aprovação declarando, sob sua fé, que o testador lhe entregou a declaração escrita em documento físico ou o arquivo digital de som e imagem para ser aprovado diante das testemunhas; passando a lacrar o invólucro em que inserido o arquivo digital. |
103 SALLES, Diana Nacur Nagem Lima. Direito notarial e registral. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.
104 GUÉRCIO NETO, Arthur Del; GUÉRCIO, Lucas Barelli Del. Teoria geral do direito notarial e registral. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023.
| Parágrafo único. Se não houver espaço na última folha do testamento, para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando a circunstância no auto. | Parágrafo único. É permitido ao testador inserir no mesmo invólucro em que colocado o instrumento ou o arquivo digital do testamento, outros dispositivos eletrônicos que tenham sido dispostos em favor de herdeiros ou legatários, cabendo ao tabelião mencioná-los no auto de aprovação. |
| A proposta de modificação do artigo 1.869 do CC/2002 introduz mudanças significativas na forma como o tabelião deve proceder com a aprovação e o registro dos testamentos, especialmente quando gravados em formato digital. Essa atualização reflete a crescente integração da tecnologia no processo notarial e busca adaptar o procedimento às novas práticas digitais. De acordo com a proposta, o tabelião deve iniciar o auto de aprovação declarando, sob sua fé, que recebeu do testador a declaração escrita em documento físico ou o arquivo digital de som e imagem para ser aprovado na presença das testemunhas. Essa declaração formaliza o recebimento e a autenticidade do testamento, seja ele em formato físico ou digital. Após essa etapa, o tabelião deve lacrar o invólucro em que o arquivo digital está inserido, garantindo que o conteúdo permaneça protegido e intacto até o momento de sua execução. Uma inovação importante introduzida pela proposta é a permissão para que o testador insira, no mesmo invólucro do testamento ou do arquivo digital, outros dispositivos eletrônicos que possam ter sido dispostos em favor de herdeiros ou legatários. Isso pode incluir, por exemplo, dispositivos de armazenamento com informações adicionais ou instruções relacionadas à herança. O tabelião deve mencionar esses dispositivos adicionais no auto de aprovação, assegurando que todas as partes relevantes sejam registradas e reconhecidas formalmente. Essas mudanças visam facilitar o manejo dos testamentos digitais e garantir que o processo de aprovação seja tão seguro e transparente quanto o dos testamentos físicos. A inclusão de dispositivos eletrônicos adicionais também permite uma maior flexibilidade na gestão dos bens e das disposições testamentárias105. | |
| Art. 1.870. Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. | Art. 1.870. Revogado. |
| O artigo 1.870 do CC/2002 atualmente permite que o tabelião, caso tenha escrito o testamento a pedido do testador, também possa aprová-lo. Essa disposição visava agilizar o processo testamentário, permitindo que o tabelião exercesse dupla função em situações específicas106. A proposta de revogação desse artigo elimina essa possibilidade, evitando que o tabelião tenha um papel duplo na elaboração e aprovação do testamento. Essa mudança visa reforçar a imparcialidade e transparência no processo testamentário, assegurando que o documento passe por uma avaliação independente e preservando a segurança jurídica da manifestação de última vontade do testador107. | |
| Art. 1.871. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador, ou por outrem, a seu rogo. | Art. 1.871. O testamento pode ser manuscrito, gravado ou digitado em língua nacional ou estrangeira, em Braille ou arquivo digital acessível, pelo próprio testador, ou por outrem, a seu rogo. |
| A proposta de alteração do artigo 1.871 busca expandir e modernizar as formas permitidas para a elaboração de testamentos, incorporando novas tecnologias e métodos de escrita que | |
105 ANDRADE, Anna Carolina Pessoa de Aquino et al. Direito notarial e registral: questões atuais e controvertidas. Organizado por Fernanda de Almeida Abud Castro, Ariádina dos Santos de Souza. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2022.
106 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
107 LOUREIRO, Francisco José Cahali. Direito Civil: Sucessões, Comentários ao Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.
| atendem a diferentes necessidades e circunstâncias dos testadores. Na versão proposta, o artigo estabelece que o testamento pode ser manuscrito, gravado ou digitado, em língua nacional ou estrangeira, e também em Braille ou em arquivo digital acessível. Essas opções visam acomodar uma ampla gama de preferências e necessidades, refletindo um compromisso com a acessibilidade e a inclusão no processo testamentário108. A permissão para que o testamento seja escrito em Braille é uma inovação significativa, pois garante que pessoas com deficiência visual possam elaborar testamentos de forma independente e acessível. Esta medida promove a equidade ao assegurar que todos, independentemente de suas habilidades visuais, tenham a possibilidade de dispor de seus bens conforme suas vontades. A inclusão de arquivos digitais acessíveis na lista de formatos permitidos é outra atualização importante. Com o avanço das tecnologias digitais e a crescente utilização de meios eletrônicos para armazenamento e comunicação, permitir que testamentos sejam feitos em formato digital acessível reflete a adaptação às novas práticas e facilita a gestão dos documentos testamentários. Isso também possibilita que os testamentos sejam elaborados e armazenados de maneira segura e conveniente, alinhando-se às necessidades contemporâneas. Além disso, a proposta mantém a flexibilidade quanto ao idioma do testamento, permitindo que seja redigido tanto em língua nacional quanto em linguas estrangeiras. Essa flexibilidade é crucial para atender às necessidades de testadores que falam diferentes idiomas e que podem ter passagens por diversos países ao longo da vida. Assim, as modificações visam tornar o processo testamentário mais inclusivo e alinhado com as práticas modernas, garantindo que todos tenham a capacidade de dispor de seus bens de forma que respeite suas necessidades e preferências pessoais109. | |
| Art. 1.872. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. | Art. 1.872. Quem não saiba ou não possa ler e escrever, só pode dispor de seus bens em testamento cerrado gravado em arquivo digital de áudio visual. |
| A modificação proposta ao artigo 1.872 do CC/2002, que originalmente estabelecia a impossibilidade de testar em testamento cerrado para aqueles que não saibam ou não possam ler, reflete uma adaptação significativa ao avanço das tecnologias digitais e à necessidade de inclusão de pessoas com limitações de leitura ou escrita no processo sucessório. O novo texto permite que indivíduos que não sabem ou não podem ler e escrever possam dispor de seus bens por meio de um testamento cerrado gravado em arquivo digital de áudio e vídeo110. Essa mudança representa uma evolução importante no direito sucessório, pois reconhece as possibilidades trazidas pela tecnologia para assegurar a autonomia de pessoas com limitações de leitura e escrita. Ao permitir o uso de meios audiovisuais para a manifestação de última vontade, o legislador amplia o acesso ao direito de testar, garantindo que mais pessoas possam dispor de seus bens de acordo com seus desejos, independentemente de suas limitações físicas ou educacionais111. Assim, a proposta de alteração do artigo 1.872 não apenas moderniza o Código Civil, mas também promove a inclusão, ao garantir que pessoas com dificuldades de leitura e escrita possam participar plenamente do processo sucessório, utilizando ferramentas que lhes permitam expressar sua vontade de forma clara e segura. | |
108 SILVA, Larissa Mickaelly Silva. A era digital e seus reflexos no direito hereditário. Cuiabá, MT, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade FASIPE Cuiabá. Cuiabá, MT, 2024, 60p.
109 GOMES, Fernanda Raissa Souza. Herança digital: o direito de sucessão dos herdeiros sobre bens digitais e a modalidade do testamento digital. Goiânia, 2021. Monografia (Graduação em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, 2021, 57p.
110 SILVA, Ana Karoline Angeline da; CARVALHO, Igor de Oliveira; MARINHO, Túllio da Silva. Herança digital: as barreiras enfrentadas para inclusão do patrimônio imaterial na sucessão. Facit Business and Technology Journal, v. 3, n. 46, 2023.
111 ROMANOWSKI, Jocemir; NINGELISKI, Adriane de Oliveira. Testamento digital: desafios e possibilidades no direito brasileiro. Academia de Direito, v. 6, p. 565-588, 2024.
| Art. 1.873. Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo, e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, escreva, na face externa do papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. | Art. 1.873. As pessoas com deficiência visual ou auditiva podem fazer testamento cerrado por escrito ou por gravação em sistema digital de som e imagem, sendo-lhes facultada a utilização de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), braille ou qualquer tecnologia assistiva de sua escolha. |
| Enquanto o texto original impunha ao surdo-mudo a obrigação de redigir e assinar de próprio punho o testamento cerrado, a proposta de alteração do CC/2002 amplia as opções, permitindo que pessoas com deficiência visual ou auditiva possam fazer uso de tecnologias assistivas, como a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Braille, ou gravações em sistemas digitais de som e imagem, para a elaboração de seus testamentos. Essa mudança é emblemática, pois alinha o Código Civil com os princípios de inclusão e acessibilidade, conforme estabelecido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. Ao facultar o uso de tecnologias assistivas, o legislador reconhece a importância de garantir que todas as pessoas, independentemente de suas limitações sensoriais, possam exercer plenamente seu direito de testar, de maneira segura e conforme suas capacidades112. A adoção de tecnologias digitais, como gravações em som e imagem, oferece uma nova camada de proteção ao testador com deficiência, assegurando que sua vontade seja expressa de maneira clara e sem equívocos. Além disso, o uso de Libras ou Braille como meios para a confecção do testamento cerrado promove a inclusão de pessoas com deficiência, permitindo que elas utilizem os meios de comunicação mais adequados às suas necessidades. | |
| Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. § 1º Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever. § 2º Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão. | Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, ou pode ser gravado em sistema digital de som e imagem. (…). § 2º Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido diante de pelo menos duas testemunhas, que o subscreverão. § 3º Se realizado por sistema digital de som e imagem, deve haver nitidez e clareza na gravação das imagens e sons, bem como declarar a data da gravação, sendo esses os requisitos essenciais à sua validade, além da intervenção simultânea de duas testemunhas identificadas nas imagens. § 4º O testamento deverá ser gravado em formato compatível com os programas computadorizados de leitura existentes na data da celebração do ato, contendo a declaração do testador de que no vídeo consta o seu testamento, bem como sua qualificação completa e a das testemunhas. |
| A modificação proposta ao artigo 1.876 do CC/2002 é uma resposta direta à evolução | |
112OLIVEIRA, Letícia Silva. Testamento vital: limitações e liberdade individual no ordenamento jurídico brasileiro. Anápolis, 2020. Monografia (Graduação em Direito) – UniEvangélica. Anápolis, GO, 2020, 52f.
| tecnológica e à necessidade de adaptar as formas de testamento às novas realidades digitais. O texto original permitia que o testamento particular fosse escrito de próprio punho ou por processo mecânico, impondo requisitos específicos para sua validade, como a leitura e assinatura na presença de três testemunhas. A nova redação introduz a possibilidade de o testamento particular ser gravado em sistema digital de som e imagem, ampliando significativamente as formas de expressão da última vontade do testador, bem como, reduz a duas as testemunhas do ato. Essa alteração reflete uma modernização essencial, reconhecendo que a tecnologia pode proporcionar meios seguros e eficazes para a manifestação da vontade testamentária. Ao permitir gravações audiovisuais, o legislador está buscando assegurar que o testamento particular possa ser feito de forma acessível e conveniente, sem comprometer a segurança jurídica. Os parágrafos terceiro e quarto da proposta estabelecem requisitos claros para a validade do testamento gravado digitalmente, como a nitidez das imagens e sons, a declaração da data de gravação, a presença simultânea de duas testemunhas, e a compatibilidade do formato digital com os programas de leitura existentes na data da celebração do ato. Esses requisitos são fundamentais para garantir que o testamento digital seja tão confiável quanto os métodos tradicionais, protegendo a autenticidade e a integridade da manifestação de última vontade do testador. A adoção de testamentos digitais, conforme proposto, também atende a uma necessidade crescente de inclusão, permitindo que pessoas com dificuldades de escrita ou que não têm acesso fácil a métodos tradicionais possam dispor de seus bens de maneira legítima. Além disso, ao exigir que a gravação seja clara e que as testemunhas sejam identificadas no vídeo, a proposta busca evitar fraudes e garantir que o processo seja transparente e verificável113. | |
| Art. 1.878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou, ao menos, sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Parágrafo único. Se faltarem testemunhas, por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade. | Art. 1.878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, e se reconhecerem as próprias assinaturas, ou quando, por programa de gravação, reconhecerem as suas imagens e falas, assim como as do testador, o testamento será confirmado. Parágrafo único. Se faltarem as testemunhas, por morte ou ausência, o testamento poderá ser confirmado, se, a partir dos demais elementos de prova, não houver dúvida fundamentada sobre a autenticidade da assinatura, das imagens ou sobre a higidez das declarações manifestadas pelo testador. |
| A modificação proposta ao artigo 1.878 do CC/2002 amplia as formas de confirmação de um testamento, adaptando a legislação às novas possibilidades tecnológicas. O texto original exigia que as testemunhas reconhecessem suas assinaturas e confirmassem a disposição do testamento, mas a nova redação inclui a possibilidade de validação também por meio de gravações digitais, onde as testemunhas possam reconhecer suas imagens e falas, bem como as do testador. Essa alteração é significativa porque reconhece que as tecnologias de gravação de som e imagem podem oferecer um nível adicional de segurança na validação de testamentos. Ao permitir que as testemunhas confirmem o testamento não apenas por suas assinaturas, mas também por suas imagens e declarações gravadas, a lei se adapta à realidade moderna, onde documentos digitais são cada vez mais comuns114. O parágrafo único da proposta também reflete uma mudança importante ao permitir que, na ausência das testemunhas, o testamento possa ser confirmado com base em outros elementos de prova, desde que não haja dúvida fundamentada sobre a autenticidade das assinaturas, das | |
113 ROSA, Alana Rafaela da. Herança digital: uma visão contemporânea do direito sucessório à luz dos direitos de personalidade. Santa Cruz do Sul, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, 2023, 64f. 114 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v. 7: direito das sucessões. 15. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.
| imagens, ou da higidez das declarações do testador. Isso dá ao juiz mais flexibilidade para avaliar a validade do testamento, utilizando todos os meios de prova disponíveis para garantir que a última vontade do testador seja respeitada115. | |
| Art. 1.879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz. | Art. 1.879. Em circunstâncias excepcionais declaradas pelo testador, o testamento particular escrito e assinado de próprio punho ou em meio digital, ou gravado em qualquer programa ou dispositivo audiovisual pelo testador, sem testemunhas ou demais formalidades, poderá ser confirmado, se, a partir dos demais elementos de prova, não houver dúvida fundamentada sobre a autenticidade da assinatura, das imagens ou sobre a higidez das declarações manifestadas pelo testador. Parágrafo único. Perde a eficácia o testamento particular excepcional, se o testador não morrer no prazo de noventa dias, contados da cessação das circunstâncias excepcionais declaradas na cédula ou no dispositivo eletrônico. |
| O artigo retrata o que a doutrina tem chamado de testamento hológrafo simplificado, ou seja, refere ao testamento particular em situações excepcionais ou de urgência. A modificação proposta ao artigo 1.879 do CC/2002 expande significativamente as possibilidades de validação de testamentos feitos em circunstâncias excepcionais, incluindo a utilização de meios digitais e audiovisuais. O texto original permitia que, em situações excepcionais, um testamento particular escrito de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, pudesse ser confirmado pelo juiz. A nova redação amplia essa possibilidade para incluir testamentos elaborados em meio digital ou gravados em dispositivos audiovisuais, ainda que desprovidos de testemunhas ou outras formalidades, desde que, a partir dos demais elementos de prova, não haja dúvida sobre sua autenticidade ou a higidez das declarações do testador. Essa alteração reflete uma adaptação às novas tecnologias e à necessidade de assegurar que, mesmo em situações extremas, como emergências ou crises, a última vontade do testador possa ser respeitada e validada. A inclusão de meios digitais e audiovisuais como formas válidas de testamento é um reconhecimento de que a forma como as pessoas registram suas vontades está mudando, especialmente em contextos em que a rapidez e a flexibilidade são essenciais. O parágrafo único introduz uma limitação temporal para a eficácia do testamento particular excepcional, estabelecendo que ele perde sua validade se o testador não falecer dentro de noventa dias após a cessação das circunstâncias excepcionais116. Essa cláusula busca garantir que o testamento excepcional não seja utilizado indefinidamente, mantendo sua natureza de provisório e emergencial. | |
| Art. 1.880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. | Art. 1.880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira ou em Braille, contanto que as testemunhas o compreendam. Parágrafo único. O testamento particular em sistema digital de som e imagem poderá ser gravado em língua estrangeira ou em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), compreensível das testemunhas. |
115 CARVALHO, Lucas Borges de. Soberania digital: legitimidade e eficácia da aplicação da lei na internet. Revista brasileira de direito, v. 14, n. 2, p. 213-235, 2018.
116OLIVEIRA, Letícia Silva. Testamento vital: limitações e liberdade individual no ordenamento jurídico brasileiro. Anápolis, 2020. Monografia (Graduação em Direito) – UniEvangélica. Anápolis, GO, 2020, 52f.
| A modificação proposta ao artigo 1.880 do CC/2002 visa ampliar as possibilidades de expressão testamentária, reconhecendo a diversidade linguística e as necessidades de acessibilidade. O texto original permite que o testamento particular seja escrito em língua estrangeira, desde que as testemunhas compreendam o idioma. A nova redação expande essa possibilidade para incluir testamentos escritos em Braille e gravações em sistemas digitais de som e imagem, que podem ser realizadas em língua estrangeira ou em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), desde que compreensíveis pelas testemunhas. Essa mudança reflete uma adaptação do direito sucessório às realidades contemporâneas, onde a diversidade linguística e as necessidades de acessibilidade são cada vez mais reconhecidas. A inclusão do Braille como forma válida de redigir um testamento particular assegura que pessoas com deficiência visual tenham o direito de expressar sua vontade testamentária de maneira segura e independente. Da mesma forma, a possibilidade de gravação em LIBRAS ou em língua estrangeira oferece uma flexibilidade maior, permitindo que testadores que utilizam essas formas de comunicação possam registrar sua última vontade de forma clara e compreensível. O parágrafo único introduz a possibilidade de gravação digital em som e imagem, permitindo que o testamento seja realizado em um formato acessível para pessoas que utilizam LIBRAS ou outro idioma. Isso garante que as testemunhas possam compreender o conteúdo do testamento, mesmo quando ele é realizado em uma língua ou forma de comunicação não tradicional, assegurando que a vontade do testador seja respeitada117. | |
| Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou jóias, de pouco valor, de seu uso pessoal. | Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, em formato físico ou digital, ou ainda mediante gravação em programa audiovisual, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias, de pouco valor, de seu uso pessoal. § 1º Considera-se de pouca monta ou de pouco valor a disposição que não exceder a 10% (dez por cento) do monte mor partilhável . § 2º Tratando-se de bens digitais, tais como vídeos, fotos, livros, senhas de redes sociais, e outros elementos armazenados exclusivamente na rede mundial de computadores, em nuvem, o codicilo em vídeo dispensa a assinatura para sua validade. |
| A modificação proposta ao artigo 1.881 do CC/2002 amplia as formas de expressão do codicilo, permitindo que as disposições especiais sobre enterro, esmolas, e legados de pequeno valor possam ser realizadas não apenas por escrito, mas também em formato digital ou por meio de gravações audiovisuais. O texto original exigia que tais disposições fossem feitas por escrito, datadas e assinadas, enquanto a nova redação reconhece a validade de formatos digitais e gravações, adaptando o direito às realidades tecnológicas contemporâneas. Essa mudança é significativa porque reconhece a importância crescente dos meios digitais na vida cotidiana e a necessidade de o direito sucessório se adaptar a essa nova realidade. Ao permitir que disposições sobre itens de valor pessoal e sentimental sejam feitas por meio de gravações ou em formato digital, o legislador facilita o processo para o testador, que pode escolher o meio mais conveniente e acessível para expressar sua última vontade. O parágrafo primeiro introduz um critério objetivo para definir o que é considerado de “pouca | |
117 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil 7: Sucessões. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2016.
| monta” ou “pouco valor”, estabelecendo que essas disposições não devem exceder 10% do monte mor partilhável. Isso fornece uma diretriz clara para evitar que bens de valor significativo sejam tratados de maneira informal, protegendo tanto os herdeiros quanto o próprio patrimônio do testador. O parágrafo segundo trata especificamente de bens digitais, como vídeos, fotos, livros, e senhas de redes sociais, que são cada vez mais relevantes na era digital. A dispensa da assinatura para a validade de um codicilo em vídeo relativo a bens digitais reflete uma flexibilidade necessária para lidar com a natureza intangível e frequentemente informal desses bens. Essa mudança assegura que os desejos do testador em relação a seus bens digitais sejam respeitados, mesmo que esses bens não sejam tangíveis ou físicos. Assim, a proposta de alteração do artigo 1.881 moderniza o Código Civil ao reconhecer a validade de novas formas de expressão testamentária e ao regular de forma mais específica as disposições sobre bens de pouca monta e bens digitais. Isso não só facilita o processo para o testador, mas também assegura que sua vontade seja respeitada de maneira eficiente e juridicamente segura118. | |
| Art. 1.886. São testamentos especiais: I – o marítimo; II – o aeronáutico; III – o militar. | Art. 1.886. Revogado. |
| O artigo 1.886 do CC/2002, originalmente, classificava três tipos de testamentos como especiais: o marítimo, o aeronáutico e o militar. Esses testamentos foram concebidos para situações específicas onde, por circunstâncias extremas, não era possível realizar um testamento comum119. A proposta de revogação desse artigo reflete a evolução das condições tecnológicas e sociais. Com os avanços na comunicação e no acesso a serviços notariais, mesmo em emergências, os motivos que justificavam a existência desses testamentos especiais se tornaram menos relevantes. Hoje, é possível registrar as últimas vontades de maneira segura e eficiente, independentemente das circunstâncias, o que torna esses tipos de testamentos desnecessários120. A revogação simplifica o direito sucessório, garantindo que todos os testamentos sigam um procedimento uniforme, aumentando a segurança jurídica e reduzindo a chance de litígios121. Em resumo, a mudança busca atualizar a legislação, eliminando procedimentos que não são mais adequados ao contexto moderno. | |
| Art. 1.887. Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados neste Código. | Art. 1.887. Revogado. |
| O artigo 1.887 do CC/2002, em sua redação original, previa a inadmissibilidade de testamentos especiais que não estivessem expressamente contemplados na legislação. Com a nova redação, o dispositivo foi simplesmente revogado, o que suscita importantes considerações sobre a evolução do direito sucessório e a liberdade de testar. A doutrina tradicionalmente se posicionava de forma crítica em relação aos testamentos especiais, por entender que a sua rigidez formal limitava a autonomia da vontade do testador.122 Maria Helena Diniz, por exemplo, argumenta que a restrição a formas específicas de testamento poderia prejudicar, em situações excepcionais, a manifestação da vontade do falecido, especialmente em casos de iminente perigo de vida.123 | |
118 GAGLIANO, Pablo Stolze; OLIVEIRA, Carlos E. Comentários à “lei da pandemia”(Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020-RJET): análise detalhada das questões de direito civil e direito processual civil. Direito UNIFACS–Debate Virtual-Qualis A2 em Direito, n. 241, 2020.
119 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 120 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: Sucessões. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
121 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019. 122 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 7.
123 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 6.
| É importante destacar, contudo, que a revogação do dispositivo não significa a ausência de requisitos formais para a validade do testamento. O Código Civil ainda exige a observância de formalidades essenciais, como a presença de testemunhas e a assinatura do testador, a fim de garantir a autenticidade do ato e evitar fraudes.124 Em suma, a revogação do art. 1.887 do CC/2002 representa um passo importante na modernização do direito sucessório brasileiro, ao conferir maior liberdade e autonomia ao testador na disposição de seus bens após a morte. Espera-se que essa alteração legislativa contribua para a efetivação da vontade do falecido, assegurando a justiça e a equidade nas relações sucessórias. | |
| Art. 1.888. Quem estiver em viagem, a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo. | Art. 1.888. Revogado. |
| A revogação do artigo 1.888 reflete a evolução dos procedimentos sucessórios diante das mudanças tecnológicas e sociais. O testamento marítimo, historicamente concebido para proteger os direitos dos testadores que se encontravam em viagens longas, com dificuldade de acesso a tabeliães, tornou-se obsoleto em um contexto moderno de comunicação instantânea e globalizada125. O avanço dos meios digitais e o fácil acesso a serviços notariais tornaram as condições originais para esse tipo de testamento menos necessárias. A revogação contribui para a simplificação do direito sucessório, permitindo maior uniformidade nos procedimentos de disposição patrimonial. | |
| Art. 1.889. Quem estiver em viagem, a bordo de aeronave militar ou comercial, pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. | Art. 1.889. Revogado. |
| Semelhante ao testamento marítimo, o testamento aeronáutico visava oferecer uma solução para indivíduos em viagens de longa distância, sem acesso imediato a tabeliães. Contudo, a revogação deste artigo segue a mesma lógica da revogação do artigo anterior, refletindo o avanço das tecnologias e a simplificação legislativa126. O fácil acesso a meios eletrônicos e a possibilidade de realização de testamentos de outras formas, mesmo durante viagens, tornaram essa norma redundante. Assim, sua revogação alinha o Código Civil às práticas modernas de sucessão. | |
| Art. 1.890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. | Art. 1.890. Revogado. |
| A revogação do artigo 1.890 complementa a revogação dos artigos anteriores, eliminando a necessidade de procedimentos específicos para a guarda e entrega de testamentos marítimos ou aeronáuticos. Como os avanços em comunicação e registro facilitam a formalização de testamentos, a entrega física do documento por comandantes a autoridades administrativas também perdeu relevância prática127. O novo enfoque do direito sucessório brasileiro busca simplificação, reduzindo normas que não mais refletem a realidade contemporânea. | |
124 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: sucessões. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2020.
125 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Sucessões. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 126 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. 127 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
| Art. 1.891. Caducará o testamento marítimo, ou aeronáutico, se o testador não morrer na viagem, nem nos noventa dias subseqüentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento. | Art. 1.891. Revogado. |
| Este artigo estabelecia um prazo de validade para os testamentos marítimos e aeronáuticos, o que fazia sentido em um contexto de viagens prolongadas e risco à vida. Com a revogação, extingue-se também a necessidade de se observar a caducidade vinculada ao término da viagem. A mudança busca, assim como as demais revogações, uniformizar o direito sucessório, deixando de lado especificidades que não se aplicam mais à maioria dos casos na sociedade moderna128. | |
| Art. 1.892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. | Art. 1.892. Revogado. |
| A revogação do artigo 1.892 é reflexo da revogação dos artigos anteriores, eliminando a restrição de validade do testamento marítimo em situações em que o testador pudesse utilizar meios ordinários para testar. A regra original foi criada para evitar o uso inadequado de testamentos especiais quando o acesso aos serviços notariais era possível. No entanto, com as facilidades trazidas pelos novos meios de comunicação e a simplificação do processo de testamento, essa norma já não se justifica mais, promovendo a homogeneização dos procedimentos sucessórios. | |
| Art. 1.893. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do País ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante duas, ou três testemunhas, se o testador não puder, ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. § 1º Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. § 2º Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde, ou pelo diretor do estabelecimento. § 3º Se o testador for o oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. | Art. 1.893. Revogado. |
| O artigo 1.893 do CC/2002 trata dos testamentos militares, uma modalidade especial de testamento que considerava as circunstâncias extraordinárias em que os membros das Forças Armadas, em campanha ou em emergências, poderiam estar; permitindo que, os militares em condições de guerra, com comunicações interrompidas ou em situações extremas, pudessem formalizar seu testamento na ausência de um tabelião ou seu substituto legal, com o testemunho de duas ou três pessoas. Essa norma buscava garantir a última vontade do testador, mesmo em circunstâncias adversas e urgentes, proporcionando segurança jurídica aos herdeiros e ao próprio | |
128 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Sucessões. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
| testador129. A revogação proposta do artigo 1.893 reflete a evolução das tecnologias de comunicação e o maior acesso a meios seguros130. A manutenção de normas especiais e exceções pode, muitas vezes, gerar insegurança jurídica, principalmente quando as condições para a aplicação dessas normas são raras ou ultrapassadas. A revogação do artigo, nesse sentido, busca racionalizar o direito sucessório, integrando os militares no regime comum de testamentos. Isso não significa, contudo, que os direitos dos militares estejam sendo enfraquecidos, mas sim que o ordenamento jurídico deve ser adaptado às novas realidades e necessidades131 132. | |
| Art. 1.894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date e assine por extenso, e o apresente aberto ou cerrado, na presença de duas testemunhas ao auditor, ou ao oficial de patente, que lhe faça as vezes neste mister. Parágrafo único. O auditor, ou o oficial a quem o testamento se apresente notará, em qualquer parte dele, lugar, dia, mês e ano, em que lhe for apresentado, nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. | Art. 1.894. Revogado. |
| A proposta de revogação do artigo 1.894, que permitia a realização de testamento militar redigido pelo próprio testador em situações excepcionais, reflete o movimento de simplificação do direito sucessório e a diminuição da relevância de testamentos específicos. Originalmente, este dispositivo visava facilitar a formalização de disposições testamentárias em cenários de guerra ou emergências militares, mas o avanço das comunicações e a maior facilidade de acesso a meios de registro de testamentos tornaram desnecessária a manutenção de normas tão específicas133. | |
| Art. 1.895. Caduca o testamento militar, desde que, depois dele, o testador esteja, noventa dias seguidos, em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. | Art. 1.895. Revogado. |
| A proposta de revogação do artigo 1.895 segue a mesma linha das revogações anteriores, eliminando normas sobre testamentos militares que se tornaram obsoletas, em razão das tecnologias existentes. | |
| Art. 1.896. As pessoas designadas no art. 1.893, estando empenhadas em combate, ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Parágrafo único. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. | Art. 1.896. Revogado. |
| O testamento militar oral era uma solução extrema para situações em que o militar, impossibilitado de redigir sua última vontade, pudesse confiar verbalmente sua disposição a duas testemunhas. A revogação do artigo 1.896 elimina uma modalidade de testamento que não encontra mais aplicação prática. | |
129 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. 130 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Sucessões. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 131 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 132 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Sucessões. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
133 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
| A formalização de disposições de última vontade pode ser feita de forma mais eficiente através de outros tipos de testamento, como o testamento particular, que pode ser realizado sem a necessidade de tabelião e, inclusive, em situações urgentes134. A revogação também visa evitar potenciais litígios decorrentes da insegurança jurídica associada a testamentos orais, que poderiam ser facilmente contestados. | |
| Art. 1.909. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Parágrafo único. Extingue-se em quatro anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. | Art. 1.909. Revogado. |
| O artigo 1.909 do CC/2002 tratava da possibilidade de anulação das disposições testamentárias quando estas fossem resultado de erro, dolo ou coação. A anulação de um testamento ou de parte dele, nos termos desse artigo, poderia ser requerida dentro de um prazo de quatro anos a partir do momento em que o interessado tomasse conhecimento do vício135. A revogação desse dispositivo reflete um movimento de modernização do direito sucessório, no sentido de simplificar o tratamento das disposições testamentárias. Com o desenvolvimento das práticas jurídicas, mecanismos de proteção contra fraudes, como a análise criteriosa de testemunhas e a formalização dos atos de testamento, tornaram-se mais robustos, tornando desnecessárias normas específicas para vícios de consentimento como dolo ou coação, que já são amplamente regulados em outros dispositivos legais136. Assim, a revogação do artigo reflete um refinamento que visa evitar repetição de temas na legislação. | |
| Art. 1.912. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão. | Art. 1.912. (…). Parágrafo único. Podem ser objeto de legado bens corpóreos e incorpóreos, inclusive aqueles de natureza existencial. |
| A modificação proposta ao artigo 1.912 do CC/2002 expande o conceito de legado, permitindo que bens corpóreos e incorpóreos, inclusive aqueles de natureza existencial, possam ser objeto de legado. O texto original declarava a ineficácia do legado de coisa certa que não pertencesse ao testador no momento da abertura da sucessão. A inclusão do parágrafo único, que permite a disposição de bens de natureza existencial, como direitos de personalidade ou criações intelectuais, representa uma ampliação significativa do escopo dos legados no direito sucessório. Essa mudança reflete uma adaptação às novas realidades e demandas da sociedade contemporânea, onde os bens incorpóreos, como direitos autorais, patentes, marcas, e outros direitos de natureza existencial, têm adquirido grande relevância. Ao permitir que esses bens sejam legados, o Código Civil reconhece a importância crescente desses ativos na vida das pessoas e a necessidade de regulamentar sua transmissão por via testamentária. O conceito de “bens de natureza existencial” inclui elementos que estão intimamente ligados à identidade e à dignidade da pessoa, como o direito ao nome, à imagem, à privacidade, e às criações intelectuais. Ao permitir que esses bens sejam objeto de legado, a proposta de alteração assegura que o testador possa dispor de aspectos de sua personalidade e de suas criações de maneira que reflita seus valores e desejos, garantindo que sua vontade seja plenamente respeitada137. | |
134 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Sucessões. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
135 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Sucessões. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 136 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. 137 MARANGONI, Beatriz Morete da Paixão. Herança digital e direitos personalíssimos: uma análise do Instagram no contexto jurídico brasileiro. São Paulo, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2023, 44f.
| Art. 1.918-A. O legado de bens digitais pode abranger dados de acesso a qualquer aplicação da internet de natureza econômica, perfis de redes sociais, canais de transmissão de vídeos, bem como dados pessoais expressamente mencionados pelo testador no instrumento ou arquivo do testamento. § 1º É possível a nomeação de administrador aos bens digitais, sob a forma de administrador digital, por decisão judicial, negócio jurídico entre vivos, testamento ou codicilo. § 2º Se houver administrador digital, nomeado pelo autor da herança ou por decisão judicial, ficam os bens digitais submetidos à sua administração imediata até que se ultime a partilha, com a obrigação de prestação de contas. | |
| A inclusão do artigo 1.918-A no Código Civil é uma resposta direta às transformações digitais que têm redefinido a natureza do patrimônio das pessoas. Esse novo artigo permite que bens digitais, como dados de acesso a aplicações na internet de natureza econômica, perfis de redes sociais, canais de transmissão de vídeos, e outros dados pessoais expressamente mencionados pelo testador, sejam objeto de legado. Essa mudança é crucial porque reconhece que, na era digital, uma parte significativa do patrimônio de uma pessoa pode estar na forma de bens digitais, que têm valor econômico, afetivo, e até mesmo social. Dados de acesso a contas bancárias online, carteiras de criptomoedas, perfis em redes sociais com seguidores significativos, ou canais de transmissão de vídeos monetizados, são exemplos de bens que, até agora, não estavam claramente cobertos pela legislação sucessória. O parágrafo primeiro do novo artigo permite a nomeação de um “administrador digital”, que pode ser designado por decisão judicial, negócio jurídico entre vivos, testamento ou codicilo, para gerenciar esses bens até que a partilha seja realizada. Essa figura do administrador digital é essencial para garantir que os bens digitais sejam devidamente geridos e preservados após a morte do testador, especialmente em casos em que o valor econômico ou a complexidade técnica desses bens exige uma gestão especializada. O parágrafo segundo estabelece que, na presença de um administrador digital, os bens digitais ficam sob sua administração imediata, com a obrigação de prestação de contas até que a partilha seja ultimada. Isso assegura que os bens digitais sejam protegidos e geridos de maneira transparente e eficaz, evitando a perda de valor ou acesso a esses bens devido à falta de gerenciamento adequado durante o processo de sucessão138. | |
| Art. 1.939. Caducará o legado: I – se, depois do testamento, o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía; II – se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada; nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador; III – se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento; | Art. 1.939. Será ineficaz o legado: (…). IV – se o legatário for excluído da sucessão por sentença transitada em julgado, sendo vedado o cumprimento do legado enquanto pendente a ação; (…). |
138 GAGLIANO, Pablo Stolze; OLIVEIRA, Carlos E. Comentários à “lei da pandemia”(Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020-RJET): análise detalhada das questões de direito civil e direito processual civil. Direito UNIFACS–Debate Virtual-Qualis A2 em Direito, n. 241, 2020.
| IV – se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do art. 1.815; V – se o legatário falecer antes do testador. | |
| A modificação proposta ao artigo 1.939 do CC/2002, que trata da caducidade dos legados, introduz uma importante alteração no inciso IV. O texto original declarava que o legado caducaria se o legatário fosse excluído da sucessão nos termos do artigo 1.815. A nova redação propõe que o legado será ineficaz se o legatário for excluído da sucessão por sentença transitada em julgado, além de proibir o cumprimento do legado enquanto a ação de exclusão estiver pendente. Essa mudança reflete uma preocupação com a segurança jurídica e a proteção dos direitos dos herdeiros e do próprio testador. Ao condicionar a ineficácia do legado à existência de uma sentença transitada em julgado, o legislador assegura que o legado só será considerado nulo após a conclusão definitiva do processo judicial. Isso evita que o legado seja impugnado prematuramente, garantindo que o direito do legatário seja respeitado até que a exclusão seja formalmente confirmada. A proibição do cumprimento do legado enquanto a ação de exclusão estiver pendente também é uma medida prudente para evitar a distribuição de bens a um legatário que possa, eventualmente, ser excluído da sucessão. Isso protege o patrimônio do testador e os interesses dos demais herdeiros, assegurando que os bens só sejam entregues ao legatário após a confirmação de que ele tem direito legítimo sobre eles139. | |
| Art. 1.946. Legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pessoas, a parte da que faltar acresce aos co-legatários. Parágrafo único. Se não houver conjunção entre os co-legatários, ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi legada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as quotas dos que faltarem, à medida que eles forem faltando. | Art. 1.946. O legado de usufruto pode abranger a totalidade dos bens hereditários. § 1º Legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pessoas, a parte da que faltar acresce aos colegatários. § 2º Se não houver conjunção entre os colegatários, ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi legada certa parte do usufruto, consolidar-se ão na propriedade as quotas dos que faltarem, à medida que eles forem faltando. |
| A sugestão de modificação do artigo 1.946 do CC/2002 reflete uma tentativa de aprimorar a clareza e a aplicabilidade das disposições sobre o legado de usufruto, um tema relevante no campo do direito das sucessões. A proposta de alteração visa adaptar e detalhar melhor as condições para o legado de usufruto conjunto, buscando maior precisão e eficiência na aplicação das normas. O artigo original estabelece que, quando o usufruto é legado a duas ou mais pessoas, a parte correspondente àquela que faltar será automaticamente acrescida aos co-legatários. Além disso, prevê que, se não houver conjunção entre os co-legatários ou se apenas uma parte do usufruto foi legada a cada um, as quotas dos que faltarem se consolidarão na propriedade à medida que eles forem faltando. A proposta de modificação, por sua vez, sugere que o legado de usufruto possa abranger a totalidade dos bens hereditários, o que permite um alcance mais amplo e menos restritivo para a aplicação do usufruto. Essa mudança, ao permitir que o usufruto seja legável sobre todos os bens do espólio, pode simplificar a administração e a divisão dos bens hereditários, garantindo que o usufruto não se limite a uma parte específica dos bens. O parágrafo único do artigo original, que trata da consolidação das quotas dos que faltam, é mantido com a inclusão de novos parágrafos para esclarecer e detalhar essas disposições. O parágrafo primeiro evidencia que, se um testador deixar um único usufruto (ex: usufruto de um imóvel) a mais de uma pessoa em conjunto (ex: três irmãos), e uma delas vier a falecer ou renunciar, a parte dela não se extingue, mas é incorporada automaticamente pelos outros usufrutuários (colegatários). | |
139 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil 7: Sucessões. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2016.
| Já o parágrafo segundo, evidencia que não há direito de acrescer quando um deles faltar (por falecimento ou renúncia), assim, a parte que ele detinha no usufruto se extingue e se consolida automaticamente com a nua-propriedade (ou seja, volta ao domínio pleno do proprietário); isso ocorre quando não conjuntos os colegatários, ou seja, quando o testador deixou usufrutos individualizados, mesmo que a coisa seja a mesma; e também, quando o usufruto conjunto for somente de parte da coisa, ou seja, os colegatários recebem apenas uma parte do usufruto, e não o usufruto total. Considerando essas mudanças, a proposta pode contribuir para uma melhor aplicação das regras sobre usufruto, reduzindo ambiguidades e potencialmente evitando disputas legais entre os herdeiros. A modificação busca também garantir que a administração dos bens do espólio seja mais eficiente e menos complexa140. | |
| Art. 1.951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário. | Art. 1.951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, pessoa natural ou jurídica, resolvendo-se o direito dessa por sua morte, extinção, implemento de condição ou advento de termo, em favor de outrem, que também pode ser pessoa jurídica ou natural, já nascida ou concebida, ou ainda pessoas não concebidas, determinadas ou determináveis. |
| A proposta de alteração do artigo 1.951 do CC/2002 visa modernizar e expandir as possibilidades relacionadas ao fideicomisso, uma figura jurídica que permite ao testador estabelecer condições para a sucessão de bens. A versão original do artigo estabelece que o testador pode designar herdeiros ou legatários, transferindo a herança ou o legado ao fiduciário, com a condição de que o direito deste se resolva em favor de outrem, chamado fideicomissário, por ocasião de sua morte, após um certo tempo ou sob uma determinada condição. O fideicomisso ocorre quando o fiduciário recebe a herança ou o legado em um primeiro momento (logo após a morte do testador); após determinado evento (ex: sua morte, o cumprimento de uma condição ou a chegada de um prazo), esse patrimônio será transmitido ao fideicomissário (a segunda pessoa indicada pelo testador). A sugestão de modificação amplia a definição do fiduciário e do fideicomissário, possibilitando que o fiduciário seja tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, e que o fideicomissário também possa ser uma pessoa física ou jurídica, já nascida ou concebida, ou até mesmo pessoas não concebidas, determinadas ou determináveis. Essas mudanças visam atualizar a norma para contemplar a evolução das entidades jurídicas e as novas realidades sociais, refletindo uma abordagem mais inclusiva e flexível141. | |
| Art. 1.952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Parágrafo único. Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. | Art. 1.952. O fideicomisso consiste em negócio jurídico por meio do qual o testador, na qualidade de instituidor, ou fideicomitente, transfere, fiduciariamente, bens ou direitos, sob condição resolutiva, a um ou mais fiduciários, que assumirão os deveres de gestão, conservação e ampliação desses bens, nos termos previstos no ato de instituição e com o propósito específico de transmiti-los, sob condição ou termo, a um ou |
140 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito Civil: Direito das Sucessões. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024.
141 SILVA, Luís Fillipi Medeiros Costa. Planejamento sucessório a partir da constituição de uma holding familiar: uma análise comparativa dos custos no estado do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2024, 79f.
| mais beneficiários finais que se qualificam fideicomissários. Parágrafo único. (…). | |
| A proposta de alteração do artigo 1.952 do CC/2002 introduz mudanças significativas na estrutura e aplicação do fideicomisso, uma figura jurídica importante no direito das sucessões. A versão original do artigo estabelece que a substituição fideicomissária é permitida apenas em favor de pessoas não concebidas no momento da morte do testador. Além disso, se o fideicomissário já estiver nascido na data do falecimento do testador, ele adquire a propriedade dos bens fideicometidos, enquanto o direito do fiduciário se converte em usufruto. A nova redação do artigo 1.952 redefine o conceito de fideicomisso, apresentando-o como um negócio jurídico em que o testador, na qualidade de instituidor ou fideicomitente, transfere bens ou direitos ao fiduciário, sob uma condição resolutiva. O fiduciário assume a responsabilidade pela gestão, conservação e ampliação desses bens, com o objetivo de transmiti-los posteriormente a um ou mais beneficiários finais, os fideicomissários, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, já nascidas, concebidas ou até mesmo não concebidas, de acordo com as condições estabelecidas142. A proposta de modificação tem várias implicações importantes. Primeiro, ao detalhar claramente as funções dos fiduciários e fideicomissários, a nova redação proporciona uma visão mais precisa das responsabilidades envolvidas no fideicomisso. Isso ajuda a evitar ambiguidades e garante que todas as partes compreendam suas obrigações e direitos. Além disso, a atualização do conceito de fideicomisso reflete uma adaptação às práticas e necessidades contemporâneas, permitindo uma aplicação mais flexível e alinhada com as realidades atuais. O novo texto possibilita uma maior personalização do planejamento sucessório, adequando se melhor às intenções do testador e às condições do momento presente143. | |
| Art. 1.952-A. Podem ser objeto do fideicomisso quaisquer bens e direitos, incluindo bens digitais. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.952-A no Código Civil, que dispõe que “podem ser objeto do fideicomisso quaisquer bens e direitos, incluindo bens digitais,” marca uma atualização importante na legislação sobre o fideicomisso. Esta mudança é uma resposta às novas realidades tecnológicas e à crescente relevância dos ativos digitais no patrimônio das pessoas. Com a inclusão de bens digitais no fideicomisso, a legislação passa a reconhecer que ativos como criptomoedas, contas em redes sociais, e documentos armazenados em nuvem podem ser parte do planejamento sucessório. Esta adaptação é essencial para garantir que o fideicomisso continue relevante e eficaz, refletindo a importância crescente desses ativos na vida financeira e pessoal 144. A principal vantagem dessa inclusão é a adaptação à realidade contemporânea, onde os ativos digitais desempenham um papel significativo. Reconhecer esses bens no fideicomisso permite que testadores incluam todas as suas propriedades, sejam materiais, imateriais ou digitais, em seus planos sucessórios, garantindo que possam ser geridos e transmitidos de acordo com suas vontades. Por outro lado, a integração de bens digitais no fideicomisso pode adicionar complexidade ao planejamento sucessório. Testadores precisarão considerar como garantir que seus fiduciários | |
142 SILVA, Luís Fillipi Medeiros Costa. Planejamento sucessório a partir da constituição de uma holding familiar: uma análise comparativa dos custos no estado do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2024, 79f.
143 MARQUES, João Paulo F. Remédio. Fideicomisso irregular, litisconsórcio necessário e redução de contrato promessa de partilha–A propósito de um caso concreto. JURISMAT, n. 16, p. 37-37, 2023. 144 VIEIRA, Cláudia Stein. Futuro do planejamento sucessório no Brasil: pela reforma do fideicomisso e pela vinda do contrato fiduciário. São Paulo, 2020. Tese de Doutorado (Direito Civil) – Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, 2020, 317f.
| tenham acesso e possam gerir esses bens digitais e como assegurar que os fideicomissários possam usufruir deles conforme pretendido145. | |
| Art. 1.952-B. A disposição testamentária que institui o fideicomisso deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: I – a qualificação precisa do fiduciário e do fideicomissário ou os elementos que permitam a determinação dos beneficiários finais, caso não se encontrem perfeitamente identificados pelo testador; II – o prazo de vigência, podendo ser vitalício, se o fiduciário ou qualquer dos fideicomissários for pessoa natural, ou por até 20 (vinte) anos, se todos os fideicomissários e o fiduciário forem pessoas jurídicas com prazo indeterminado de existência; III – o propósito a que se destina o patrimônio objeto do fideicomisso; IV – as condições ou termos a que estiver sujeito o fideicomisso; V – a identificação dos bens e direitos componentes do patrimônio objeto do fideicomisso, bem como a indicação do modo como outros bens e direitos poderão ser incorporados; VI – a extensão dos poderes e deveres do fiduciário na gestão do fideicomisso, em especial especificando se há ou não autorização para alienar bens do acervo em fideicomisso, gravar ou onerar os bens do patrimônio correspondente, comprar novos ativos e realizar investimentos, em todos os casos especificando as situações em que esses atos são permitidos e o modo como devem ser conduzidos; VII – os critérios de remuneração do fiduciário, se houver; VIII – a destinação dos frutos e rendimentos do patrimônio em fideicomisso; IX – as hipóteses e as formas de substituição do fiduciário; X – as hipóteses de sua extinção, antes de cumprida a sua finalidade ou do advento do termo ou do implemento da condição a que estiver sujeito; XI – previsão sobre a possibilidade de o fiduciário contratar, por sua conta e risco, terceiros para exercer a gestão do patrimônio objeto do fideicomisso, inalteradas as suas responsabilidades legais e contratuais. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.952-B no Código Civil estabelece requisitos detalhados para a disposição testamentária que cria um fideicomisso, visando assegurar que a estrutura e a | |
145 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito Civil: Direito das Sucessões. Editora Foco, 2024.
| administração desse instituto sejam claras e eficazes. A nova redação determina que a disposição testamentária deve incluir, no mínimo, vários elementos essenciais. Primeiramente, é necessário fornecer uma qualificação precisa do fiduciário e do fideicomissário, ou elementos que possibilitem a identificação dos beneficiários finais caso não estejam totalmente identificados. O prazo de vigência do fideicomisso pode ser vitalício se o fiduciário ou qualquer dos fideicomissários for uma pessoa natural, ou de até 20 anos se todos forem pessoas jurídicas com prazo indeterminado de existência. A disposição também deve especificar o propósito a que se destina o patrimônio objeto do fideicomisso, assim como as condições ou termos a que o fideicomisso está sujeito. Além disso, é fundamental identificar claramente os bens e direitos que compõem o patrimônio do fideicomisso e indicar como novos bens poderão ser incorporados. Os poderes e deveres do fiduciário na gestão do fideicomisso devem ser detalhados, incluindo a autorização para alienar, gravar ou onerar os bens, bem como a compra de novos ativos e a realização de investimentos, com especificação das situações permitidas e dos procedimentos a seguir. Outros aspectos importantes incluem a definição dos critérios de remuneração do fiduciário, se houver, e a destinação dos frutos e rendimentos do patrimônio em fideicomisso. A disposição deve prever também as hipóteses e formas de substituição do fiduciário, bem como as condições de sua extinção antes do cumprimento da finalidade ou do advento do termo ou condição. Finalmente, deve haver uma previsão sobre a possibilidade de o fiduciário contratar terceiros para a gestão do patrimônio, mantendo suas responsabilidades legais e contratuais. Esses requisitos visam garantir uma gestão mais transparente e organizada do fideicomisso, prevenindo ambiguidades e disputas. A clareza sobre os poderes do fiduciário, as condições de substituição e a extinção do fideicomisso contribui para uma administração eficaz dos bens, especialmente em contextos complexos146. | |
| Art. 1.952-C. Os bens e direitos objeto do fideicomisso serão administrados ou conservados pelo fiduciário de acordo com o disposto neste Código e no testamento. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.952-C no Código Civil estabelece que a legislação ou o testamento irá determinar a forma de administração ou conservados dos bens pelo fiduciário. Essa alteração tem o objetivo de garantir que a administração e a conservação dos bens fideicometidos sejam realizadas em conformidade com as diretrizes legais e as instruções especificadas pelo testador. Com a inclusão deste artigo, o fiduciário fica obrigado a seguir as normas estabelecidas tanto no Código Civil quanto nas disposições testamentárias para gerir os bens e direitos do fideicomisso. Essa abordagem visa assegurar que a administração dos ativos esteja alinhada com as intenções do testador e com as regras jurídicas aplicáveis, proporcionando maior segurança jurídica para todas as partes envolvidas. Essa mudança traz várias considerações importantes. Primeiramente, a exigência de conformidade com o Código Civil e com o testamento proporciona uma base clara para a gestão dos bens fideicometidos, evitando ambiguidades e possíveis disputas. Isso facilita a compreensão das responsabilidades do fiduciário e assegura que o fideicomisso seja administrado de acordo com as condições estabelecidas pelo testador. E, além disso, ao garantir que a administração e conservação dos bens sejam realizadas conforme as intenções do testador e as regras legais, o artigo protege os direitos dos beneficiários. Isso assegura que os ativos sejam adequadamente geridos até que sejam transmitidos aos fideicomissários147. | |
| Art. 1.952-D. Deve o fiduciário exercer todas as ações atinentes à defesa dos bens e direitos | |
146 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil. 40.ed. São Paulo: SaraivaJur, v.1, 2023.
147 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil. 40.ed. São Paulo: SaraivaJur, v.1, 2023.
| objeto do fideicomisso, inclusive face do fideicomissário. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.952-D visa assegurar que o fiduciário não apenas administre, mas também defenda de maneira eficaz os bens e direitos que compõem o fideicomisso, garantindo que seus interesses sejam protegidos em todas as circunstâncias. Com a inclusão deste artigo, o fiduciário passa a ter a responsabilidade explícita de tomar todas as medidas necessárias para a proteção legal dos bens e direitos do fideicomisso. Isso inclui a atuação em ações judiciais e administrativas para preservar os ativos e defender os interesses do fideicomisso, mesmo que isso envolva confrontar o fideicomissário ou outras partes envolvidas. Essa mudança é significativa porque reforça o papel ativo do fiduciário na proteção dos bens fideicometidos, assegurando que ele não se limite apenas à administração passiva, mas também atue de forma proativa para evitar ou remediar qualquer situação que possa prejudicar o fideicomisso. Com isso, busca-se garantir que os direitos e interesses relacionados ao fideicomisso sejam devidamente defendidos e que o patrimônio seja protegido contra possíveis danos ou disputas. Essa responsabilidade adicional contribui para uma gestão mais robusta e defensiva do fideicomisso, proporcionando maior segurança para todas as partes envolvidas e garantindo que os bens sejam preservados de acordo com as intenções do testador148. | |
| Art. 1.952-E. O fiduciário será pessoalmente responsável pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, der causa; respondendo também pelos prejuízos causados por atos que violem as cláusulas previstas no ato de instituição do fideicomisso. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.952-E no Código Civil visa assegurar que o fiduciário desempenhe suas funções com a devida diligência e responsabilidade, responsabilizando-o por qualquer dano que possa resultar de sua conduta imprópria ou de ações que não estejam em conformidade com as disposições do fideicomisso. Com a inclusão deste artigo, o fiduciário é claramente responsabilizado por qualquer prejuízo que cause por dolo ou culpa. Isso significa que, se o fiduciário agir de maneira intencionalmente prejudicial ou negligente, ele será pessoalmente responsabilizado pelos danos resultantes. Além disso, a nova norma estabelece que o fiduciário também é responsável pelos danos causados por atos que violem as cláusulas estabelecidas no ato de instituição do fideicomisso, reforçando a importância de aderir rigorosamente às condições especificadas pelo testador. Essa mudança tem implicações importantes para a gestão do fideicomisso. Ela enfatiza a necessidade de um padrão elevado de cuidado e conformidade por parte do fiduciário, assegurando que os bens e direitos do fideicomisso sejam administrados de maneira adequada e conforme as instruções estabelecidas. Ao tornar o fiduciário pessoalmente responsável por danos causados por suas ações impróprias ou pelo descumprimento das cláusulas do fideicomisso, a norma busca proteger os interesses dos fideicomissários e garantir que o patrimônio seja gerido com a devida responsabilidade e diligência149. | |
| Art. 1.952-F. O fiduciário poderá ser substituído, por decisão judicial: I – quando houver conflito de interesses com relação aos interesses do fideicomissário ou com os propósitos estabelecidos pelo testador no instrumento de instituição de fideicomisso; II – quando por dolo ou culpa, causar prejuízo ao patrimônio fideicometido por sua administração; | |
148 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil. 40.ed. São Paulo: SaraivaJur, v.1, 2023.
149 Idem.
| III – por morte ou incapacidade superveniente ou quando se tornar impedido de administrar o fideicomisso ou descumprir as obrigações impostas pelo contrato ou pela lei na administração do patrimônio fideicometido. § 1º A ação de destituição de fiduciário poderá ser intentada pelo fideicomissário, seus sucessores ou qualquer interessado. § 2º Não mencionando o testador quem deva substituir o fiduciário designará o juiz um substituto. | |
| Esse artigo visa garantir que o fiduciário, responsável pela administração e conservação dos bens fideicometidos, possa ser substituído judicialmente nas seguintes situações: se surgir um conflito de interesses que comprometa a imparcialidade do fiduciário em relação aos interesses do fideicomissário ou aos propósitos estabelecidos pelo testador; se o fiduciário causar prejuízo ao patrimônio fideicometido por ações dolosas ou negligentes; ou se ocorrer a morte, incapacidade superveniente ou outro impedimento que torne impossível a continuidade da administração adequada do fideicomisso. A inclusão desses critérios para a substituição do fiduciário é um avanço importante para assegurar que a administração dos bens do fideicomisso seja sempre feita de maneira eficaz e em estrita conformidade com as intenções do testador. A possibilidade de substituição por decisão judicial garante que os interesses dos fideicomissários e os propósitos do testador sejam protegidos, mesmo diante de problemas relacionados ao desempenho ou à conduta do fiduciário. O artigo também define a legitimidade para proposição da ação de destituição do fiduciário, determinando que ela pode ser proposta pelo fideicomissário, seus sucessores ou qualquer interessado, o que amplia as possibilidades de intervenção quando a administração do fideicomisso não estiver sendo realizada de forma adequada. Além disso, se o testador não especificar um substituto para o fiduciário, o juiz terá a responsabilidade de designar um novo fiduciário, garantindo que o fideicomisso continue a ser gerido de acordo com as disposições do testador150. | |
| Art. 1.953. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados, e a prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário. | Art. 1.953. O fiduciário tem a propriedade resolúvel da herança ou do legado, nos limites previstos no ato de instituição do fideicomisso. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário no testamento, o fiduciário é obrigado a trazer ao inventário dos bens gravados e a prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário. |
| Essa alteração visa esclarecer e detalhar as obrigações do fiduciário em relação à propriedade e administração dos bens fideicometidos. A mudança redefine a natureza da propriedade do fiduciário como “resolúvel” e limitada pelos termos do fideicomisso, o que significa que a propriedade do fiduciário é temporária e condicionada ao cumprimento das disposições estabelecidas no ato de instituição do fideicomisso. Essa propriedade pode ser revertida conforme os termos estabelecidos, geralmente quando o fideicomissário adquirir os direitos sobre os bens. Além disso, o parágrafo único reforça que, salvo disposição em contrário no testamento, o fiduciário deve incluir os bens fideicometidos no inventário e prestar caução para garantir a restituição dos bens caso o fideicomissário o exija. Essa medida assegura que o fiduciário mantenha um registro claro e atualizado dos bens e esteja financeiramente preparado para restituí-los, protegendo assim os interesses do fideicomissário. A nova redação do artigo proporciona uma definição mais precisa da propriedade do fiduciário como “resolúvel”, que é uma propriedade temporária que se extingue quando as condições | |
150 SALLES, Diana Nacur Nagem Lima. Direito Civil: sucessões. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S/A, 2017, 232p.
| estabelecidas são cumpridas ou quando o fideicomissário adquire os direitos sobre os bens. Isso ajuda a clarificar o papel do fiduciário e os limites de sua propriedade sobre a herança ou legado. Ao exigir que o fiduciário traga os bens ao inventário e preste caução para a restituição, a mudança reforça a responsabilidade do fiduciário em relação à administração dos bens. Isso contribui para maior transparência e segurança jurídica, assegurando que os bens sejam adequadamente geridos e possam ser recuperados se necessário. A alteração protege os interesses do fideicomissário ao garantir que ele possa exigir a restituição dos bens e que o fiduciário esteja preparado para cumprir essa obrigação. Essa proteção é essencial para assegurar que o fideicomisso seja gerido conforme as intenções do testador e que os direitos do fideicomissário sejam respeitados151. Em resumo, a proposta deixa claro que o fiduciário não pode agir como se fosse o dono definitivo dos bens herdados ou legados: ele é apenas um detentor temporário, que deve cuidar desses bens com responsabilidade, garantir sua restituição e respeitar o destino futuro determinado pelo testador. | |
| Art. 1.953-A. Pode ser fideicomissário qualquer sujeito de direito, ente jurídico despersonalizado ou pessoa determinável, ainda que não concebida no momento da instituição do fideicomisso. Parágrafo único. Considera-se fideicomissário tanto a pessoa beneficiária da administração dos bens como aquela destinatária dos bens ao final do fideicomisso. | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.953-A no Código Civil amplia o conceito de fideicomissário, permitindo que qualquer sujeito de direito, ente jurídico despersonalizado ou pessoa determinável, mesmo que ainda não concebida no momento da instituição do fideicomisso, possa ser designado como tal. O parágrafo único do artigo estabelece que considera-se fideicomissário tanto a pessoa beneficiária da administração dos bens durante o fideicomisso quanto aquela que receberá os bens ao final do fideicomisso. Essa mudança visa oferecer uma maior flexibilidade na escolha dos beneficiários e na administração dos bens. A inclusão de pessoas determináveis e de entes jurídicos despersonalizados amplia o alcance do fideicomisso, permitindo que o testador contemple uma gama mais ampla de possíveis beneficiários e entidades, mesmo que ainda não estejam plenamente definidos no momento da instituição do fideicomisso. Essa flexibilidade é particularmente útil em planejamentos sucessórios que consideram futuros descendentes ou entidades que podem surgir com o tempo. O parágrafo único esclarece a função dos fideicomissários, distinguindo entre aqueles que são beneficiários da administração dos bens durante o período do fideicomisso e aqueles que receberão os bens ao término do fideicomisso. Essa clareza ajuda a definir melhor os papéis e direitos dos fideicomissários, facilitando a administração e a sucessão dos bens conforme as intenções do testador152. | |
| Art. 1.958. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último; nesse caso, a propriedade consolida-se no fiduciário, nos termos do art. 1.955. | Art. 1.958. Será ineficaz o fideicomisso se o fideicomissário, a quem o testador não houver designado substituto, morrer antes do fiduciário, ou antes de realizar-se o termo ou a condição resolutória do direito deste último. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a propriedade consolida-se em nome do fiduciário, nos termos do art. 1.955. |
151 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil. 40.ed. São Paulo: SaraivaJur, v.1, 2023.
152 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil. 40.ed. São Paulo: SaraivaJur, v.1, 2023.
| Essa modificação reflete uma tentativa de aprimorar a clareza e a precisão do dispositivo legal. A alteração propõe a ineficácia do fideicomisso na ausência de um substituto designado pelo testador, simplificando a situação onde o fideicomissário morre antes do fiduciário ou antes da condição resolutória ser cumprida. Essa abordagem evita a complexidade associada ao conceito de caducidade, que pode ser interpretado de diferentes maneiras. O parágrafo único esclarece que, nos casos de ineficácia do fideicomisso, a propriedade dos bens envolvidos se consolidará diretamente no fiduciário, conforme disposto no artigo 1.955. Isso proporciona uma solução mais direta e previsível para o destino dos bens, evitando litígios e incertezas que poderiam surgir da falta de uma regra clara sobre a sucessão da propriedade. A modificação proposta reflete uma tendência em revisões legais para promover maior previsibilidade e segurança jurídica. Ao esclarecer as condições em que o fideicomisso é considerado ineficaz e ao determinar claramente o destino da propriedade, a alteração contribui para um sistema jurídico mais eficiente e menos suscetível a disputas interpretativas. Essa mudança pode ser vista como uma resposta às demandas por maior clareza na legislação sucessória, alinhando-se com a prática de simplificar e modernizar o direito civil para atender melhor às necessidades dos cidadãos e reduzir a margem para disputas judiciais153. | |
| Art. 1.962. Além das causas mencionadas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes: I – ofensa física; II – injúria grave; III – relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto; IV – desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. | Art. 1.962. (…). I – ofensa à integridade física ou psicológica; (…). III – desamparo material e abandono afetivo voluntário e injustificado do ascendente pelo descendente. IV – Revogado. |
| Essa proposta de mudança reflete uma tentativa de modernizar e refinar os critérios para deserdação, buscando alinhá-los com uma compreensão mais ampla dos relacionamentos familiares e das dinâmicas contemporâneas. Primeiramente, a alteração do inciso I, que passa a incluir a “ofensa à integridade física ou psicológica” em vez de apenas “ofensa física”, amplia a proteção para englobar também danos emocionais e psicológicos. Isso reconhece a importância da integridade mental e emocional no contexto das relações familiares e reflete uma visão mais holística da deserdação. O inciso III da proposta substitui a menção a “relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto” por “desamparo material e abandono afetivo voluntário e injustificado do ascendente pelo descendente.” Essa mudança reflete uma abordagem mais moderna e abrangente, onde a deserdação é justificada não apenas por comportamentos específicos, mas também por atitudes mais amplas de desamparo e falta de cuidado afetivo. A revogação do inciso IV, que tratava do desamparo do ascendente em caso de alienação mental ou grave enfermidade, sugere que a legislação pode estar se movendo em direção a uma abordagem mais focada na responsabilização afetiva e material. Essas mudanças têm implicações significativas para a forma como a deserdação é interpretada e aplicada. Elas reconhecem a complexidade das relações familiares e a necessidade de considerar tanto aspectos materiais quanto emocionais na avaliação dos comportamentos que justificam a deserdação154. | |
| Art. 1.963. Além das causas enumeradas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes: I – ofensa física; | Art. 1.963. (…). I – ofensa à integridade física ou psicológica; (…). III – Revogado; |
153 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v. 7: direito das sucessões. 15. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.
154 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil. 40.ed. São Paulo: SaraivaJur, v.1, 2023.
| II – injúria grave; III – relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta; IV – desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. | IV – desamparo material e abandono afetivo voluntário e injustificado do filho ou neto. |
| Essa modificação sugere uma atualização na forma como as causas de deserdação são definidas, refletindo uma abordagem mais contemporânea e sensível às complexidades das relações familiares. Primeiramente, a mudança no inciso I, que amplia a definição de ofensa para incluir “integridade física ou psicológica”, é um avanço significativo. Isso reconhece que o dano psicológico pode ser tão prejudicial quanto o dano físico e reflete uma compreensão mais abrangente do impacto emocional na dinâmica familiar. A revogação do inciso III, que lidava com “relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou neta,” indica uma mudança na abordagem legislativa. Esse inciso, ao tratar de relações ilícitas, pode ser visto como um resquício de normas mais rígidas e tradicionalistas que não se alinham completamente com as relações familiares contemporâneas, onde a moralidade e as questões de relacionamento pessoal podem ser mais subjetivas e complexas. A alteração no inciso IV, que substitui o critério de “desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade” por “desamparo material e abandono afetivo voluntário e injustificado do filho ou neto”, reflete uma visão mais ampla e atualizada. Essa modificação busca focar não apenas na deficiência ou enfermidade, mas também no abandono material e afetivo, reconhecendo a importância do cuidado emocional e material contínuo para a deserdação ser justificada155. | |
| Art. 1.965. Ao herdeiro instituído, ou àquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Parágrafo único. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de quatro anos, a contar da data da abertura do testamento. | Art. 1.965. Ao herdeiro deserdado é permitido impugnar a causa alegada pelo testador. § 1º O direito de impugnar a causa da deserdação extingue-se no prazo decadencial de quatro anos, a contar da data do registro do testamento. § 2º São pessoais os efeitos da deserdação, sucedendo os descendentes do herdeiro deserdado por representação. § 3º O deserdado não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. |
| A sugestão de modificação ao artigo 1.965 do CC/2002 visa proporcionar maior proteção aos herdeiros deserdados, oferecendo a eles a possibilidade de impugnar a causa alegada pelo testador para a deserdação. No texto original, a responsabilidade de provar a veracidade da causa da deserdação recai sobre o herdeiro instituído ou sobre aquele que se beneficia da deserdação. Na modificação proposta, há uma inversão dessa lógica, garantindo ao herdeiro deserdado o direito de contestar os motivos alegados pelo testador, dentro de um prazo decadencial de quatro anos a contar do registro do testamento, ao invés da data de sua abertura. Além disso, a inclusão do parágrafo segundo especifica que os efeitos da deserdação são pessoais, permitindo que os descendentes do herdeiro deserdado sucedam por representação, o que reforça a ideia de que a sanção da deserdação não se estende além da pessoa diretamente afetada. O parágrafo terceiro, por sua vez, estabelece que o herdeiro deserdado não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens herdados por seus sucessores, nem à sucessão eventual | |
155 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v. 7: direito das sucessões. 15. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.
| desses bens, reforçando o alcance limitado de sua participação na herança156. Essas mudanças propostas, portanto, promovem um maior equilíbrio entre o direito do testador de dispor livremente de seu patrimônio e a proteção dos direitos fundamentais dos herdeiros necessários, assegurando lhes o direito de impugnar a deserdação e limitando os efeitos desta aos estritamente necessários para proteger a vontade legítima do testador. | |
| Art. 1.973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. | Art. 1.973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador que não tinha outros descendentes ou não os conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições patrimoniais, se esse descendente sobreviver ao testador. |
| A modificação proposta para o artigo 1.973 do CC/2002 busca ajustar a redação original para melhor refletir a intenção de proteger os direitos de descendentes sucessíveis que surgem após a elaboração do testamento. No texto original, o testamento é rompido em todas as suas disposições quando o testador, que não tinha ou não conhecia um descendente sucessível no momento da elaboração do testamento, vê o surgimento desse descendente, desde que ele sobreviva ao testador. A nova redação propõe uma mudança importante: o testamento será rompido apenas nas suas disposições patrimoniais, e não em todas as disposições. Ao limitar o rompimento às disposições patrimoniais, a modificação reconhece que outras disposições do testamento, como aquelas que se referem a disposições de última vontade de caráter não patrimonial, como a nomeação de tutores, legados de cunho pessoal, ou outras instruções, não precisam ser afetadas pelo surgimento de um novo descendente. Essa alteração é significativa porque busca proteger o equilíbrio entre a liberdade testamentária do testador e o direito sucessório dos descendentes157. | |
| Art. 1.974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. | Art. 1.974. Revogado. |
| O art. 1.974 do CC/2002, em sua redação original, tratava do rompimento do testamento quando feito em ignorância da existência de herdeiros necessários. Um exemplo para ilustrar essa situação seria de uma pessoa que, acreditando não ter herdeiros necessários (descendentes, ascendentes ou cônjuge), faz um testamento deixando todos os seus bens para um amigo. Se, posteriormente, for descoberto um filho, o testamento seria rompido para garantir a legítima desse herdeiro. Com a revogação do dispositivo, é possível que a jurisprudência passe a priorizar ainda mais a vontade do testador, buscando soluções que harmonizem a liberdade de testar com a proteção dos herdeiros necessários. | |
| Art. 1.977. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários. Parágrafo único. Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata, ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados, ou dando caução de prestá-los. | Art. 1.977. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou convivente em regime de comunhão universal ou parcial de bens, ou herdeiros necessários. Parágrafo único. (…). |
| A modificação proposta ao artigo 1.977 do CC/2002 visa esclarecer e ampliar os critérios que | |
156 OLIVEIRA, Ingrid Costa de. Afetividade e suas implicações no direito das sucessões: uma análise do abandono afetivo como causa de deserdação no brasil à luz do PL 3.145 de 2015. Santa Maria, RS, 2023. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, 2023, 60f.
157 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil. 40.ed. São Paulo: SaraivaJur, v.1, 2023.
| permitem ao testador conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança, ou de parte dela. A redação original estabelece que tal concessão é possível apenas na ausência de cônjuge ou herdeiros necessários. A nova redação, no entanto, especifica que o testamenteiro poderá exercer essas funções quando não houver cônjuge ou convivente em regime de comunhão universal ou parcial de bens, além da ausência de herdeiros necessários. Essa modificação amplia a proteção dos direitos patrimoniais dos cônjuges e companheiros, considerando os diferentes regimes de bens previstos no casamento e na união estável. No regime de comunhão universal ou parcial de bens, o patrimônio adquirido durante o relacionamento é considerado comum ao casal. Assim, ao incluir o convivente e os cônjuges nesses regimes de bens, a modificação assegura que a administração da herança pelo testamenteiro não prejudique o direito de quem, por lei, possui parte no patrimônio do falecido. A alteração é relevante para preservar o equilíbrio entre a autonomia do testador e os direitos dos cônjuges e conviventes, bem como dos herdeiros necessários158. | |
| Art. 1.984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges, e, em falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz. | Art. 1.984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete ao cônjuge, ou convivente sobrevivente e, na falta deste, a um herdeiro nomeado pelo juiz. |
| A modificação proposta ao artigo 1.984 do CC/2002 reflete uma tentativa de adaptar a legislação sucessória às novas configurações familiares reconhecidas pelo direito brasileiro. O texto original estabelece que, na ausência de um testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária deve ser realizada por um dos cônjuges e, na falta destes, por um herdeiro nomeado pelo juiz. A redação sugerida amplia essa disposição, garantindo que o convivente sobrevivente, assim como o cônjuge, possa ser responsável pela execução testamentária, na ausência de um testamenteiro nomeado. Essa modificação reconhece a união estável como entidade familiar, atribuindo ao convivente sobrevivente o mesmo tratamento conferido ao cônjuge na execução do testamento. Isso está em consonância com o artigo 226 da Constituição Federal, que assegura proteção igualitária às diversas formas de família, e com o entendimento jurisprudencial e doutrinário que equipara, em direitos e deveres, cônjuges e conviventes159. | |
| Art. 1.987. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que, se o testador não o houver fixado, será de um a cinco por cento, arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Parágrafo único. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível, quando houver herdeiro necessário. | Art. 1.987. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que, se o testador não o houver fixado, será de um a cinco por cento, arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida contida no testamento, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. (…). |
| A modificação proposta ao artigo 1.987 do CC/2002 visa especificar com mais clareza a base de cálculo do prêmio devido ao testamenteiro, quando este não seja herdeiro ou legatário. No texto original, o prêmio é fixado pelo juiz entre um e cinco por cento sobre a herança líquida, caso o testador não tenha estabelecido previamente o valor. A nova redação acrescenta que essa porcentagem deve incidir sobre a “herança líquida contida no testamento”, delimitando que o prêmio seja calculado apenas sobre o montante efetivamente disposto pelo testador no testamento, e não sobre toda a herança líquida. | |
158 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil 7: Sucessões. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2016.
159 RIBEIRO, Raphael Rego Borges. A invisibilidade das famílias não tradicionais nas regras de sucessão intestada do Código Civil de 2002. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 32, n. 02, p. 129- 129, 2023.
| Essa modificação torna a norma mais precisa ao definir o que constitui a base de cálculo para o prêmio do testamenteiro, limitando-o aos bens que efetivamente constam no testamento. A alteração busca evitar ambiguidades quanto ao valor sobre o qual o prêmio será calculado, resguardando, assim, tanto os interesses dos herdeiros quanto o direito do testamenteiro a uma justa compensação pelo trabalho realizado na execução testamentária160. | |
| Art. 1.990-A. Se todos os herdeiros e legatários concordarem, a abertura do testamento cerrado ou a apresentação dos testamentos público e particular, bem como o seu registro e cumprimento, a nomeação de testamenteiro e a prestação de contas poderão ser feitos por escritura pública, cuja eficácia dependerá de anuência do Ministério Público. § 1º A abertura do testamento cerrado ou a apresentação do testamento público deverá ocorrer perante o tabelião de notas, na forma física ou virtual, que lavrará escritura pública específica, atestando os fatos e indicando se há, ou não, vício externo que torne o testamento eivado de nulidade ou suspeito de falsidade; havendo qualquer vício, o tabelião não lavrará a escritura pública. § 2º Não havendo vício, o tabelião de notas submeterá a cédula à anuência do Ministério Público. § 3º Com a discordância do Ministério Público, o tabelião não lavrará a escritura | |
| A proposta de inclusão do artigo 1.990-A ao Código Civil introduz a possibilidade de simplificar e agilizar o processo de abertura e cumprimento de testamentos, desde que haja concordância de todos os herdeiros e legatários, e a anuência do Ministério Público. A nova redação permite que procedimentos como a abertura do testamento cerrado, a apresentação de testamentos público e particular, seu registro, cumprimento, nomeação de testamenteiro, e a prestação de contas sejam realizados por meio de escritura pública, lavrada por um tabelião de notas. Essa proposta visa desburocratizar o processo sucessório, ao transferir determinadas etapas, que tradicionalmente ocorrem na esfera judicial, para o âmbito extrajudicial, desde que atendidas certas condições de segurança jurídica. A lavratura da escritura pública, por um tabelião de notas, oferece uma solução prática e eficiente, especialmente quando todas as partes envolvidas estão de acordo com os termos do testamento. No entanto, para garantir a legalidade e a validade do procedimento, o tabelião deverá observar a ausência de vícios externos que possam comprometer o documento, além de submeter o procedimento à anuência do Ministério Público, cuja discordância impediria a lavratura da escritura161. Além disso, essa proposta também se alinha às tendências contemporâneas de desjudicialização no direito brasileiro, como se observa nas recentes reformas que permitem a realização de inventários, partilhas e divórcios de forma extrajudicial, por meio de escritura pública. A anuência do Ministério Público, por sua vez, é um mecanismo de controle que garante a observância da legalidade, evitando possíveis fraudes ou abusos. | |
160 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v. 7: direito das sucessões. 15. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.
161 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil 7: Sucessões. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2016.
| Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. | Art. 1.991. (…). § 1º Tem preferência legal sobre os demais legitimados ao exercício da inventariança, a pessoa natural ou jurídica designada pelo testador em testamento. § 2º A pessoa jurídica nomeada inventariante deverá declarar, no termo de compromisso, o nome de profissional responsável pela condução do inventário, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. § 3º Sem prejuízo das causas de remoção previstas na legislação processual, não será nomeado inventariante, e, se nomeado, será removido, o herdeiro que possuir conflito de interesses com os demais herdeiros. § 4º Se a maioria dos herdeiros divergir da nomeação do inventariante, na ausência de previsão em contrário em testamento, será designado inventariante dativo. |
| A proposta de modificação ao artigo 1.991 do CC/2002 introduz uma série de parágrafos que visam detalhar e regulamentar o processo de nomeação e atuação do inventariante, com o objetivo de assegurar maior transparência, equidade e eficiência na administração da herança. A redação original do artigo estabelece que, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante, mas não especifica critérios para sua nomeação ou para a resolução de conflitos entre os herdeiros quanto à escolha do inventariante. O parágrafo primeiro do projeto propõe que, em casos onde o testador tenha indicado uma pessoa natural ou jurídica para exercer a inventariança no testamento, essa indicação deve ter preferência sobre outros legitimados, o que valoriza a vontade do testador e confere maior segurança jurídica ao processo. O parágrafo segundo exige que, quando uma pessoa jurídica for nomeada inventariante, ela deve indicar um profissional responsável pela condução do inventário, que não poderá ser substituído sem autorização judicial. Essa disposição visa garantir que o inventário seja conduzido de maneira consistente e responsável, prevenindo mudanças arbitrárias na condução do processo. O parágrafo terceiro aborda a situação de conflito de interesses, determinando que não será nomeado como inventariante, ou será removido, caso já nomeado, o herdeiro que estiver em conflito de interesses com os demais herdeiros. Essa medida visa proteger a imparcialidade e a neutralidade do inventariante, elementos essenciais para a boa administração da herança e a justa partilha dos bens. Por fim, o parágrafo quarto estabelece que, na ausência de previsão em contrário no testamento, e havendo divergência entre a maioria dos herdeiros quanto à nomeação do inventariante, será designado um inventariante dativo, um terceiro imparcial nomeado pelo juiz para conduzir o inventário. Essa solução busca evitar que disputas internas entre os herdeiros prejudiquem o andamento do inventário162. | |
| Art. 1.998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança; mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. | Art. 1.998. As despesas funerárias, existindo ou não herdeiros, sairão do monte da herança. Parágrafo único. Se, nos casos deste artigo, o falecido era insolvente ou verificar-se a hipótese de ser negativo o inventário, responderá o herdeiro contratante de tais despesas, com |
162 ANDRADE, Rafaela Nascimento de; OLIVEIRA, Celso Ricardo Peel de. As peculiaridades do processo judicial de sucessões no Código de Processo Civil e jurisprudência dos tribunais. Unisanta Law and Social Science, v. 13, n. 1, p. 204-220, 2024.
| direito de exigir de cada um dos herdeiros a respectiva quota. | |
| A modificação proposta ao artigo 1.998 do CC/2002 visa esclarecer e expandir as disposições relativas às despesas funerárias e suas implicações no âmbito do inventário. A redação original prevê que as despesas funerárias devem ser pagas com o montante da herança, existindo ou não herdeiros legítimos, e que as despesas de sufrágios (missas e outros atos religiosos pela alma do falecido) somente obrigam a herança se forem ordenadas em testamento ou codicilo. A nova redação mantém a regra geral sobre as despesas funerárias, mas acrescenta um parágrafo único para abordar a situação específica em que o falecido é insolvente ou o inventário revela-se negativo. O parágrafo único esclarece que, nesses casos, o herdeiro que contratou as despesas funerárias será responsável pelo seu pagamento, com o direito de cobrar de cada herdeiro sua respectiva quota. Essa alteração busca equilibrar a obrigação de arcar com os custos do funeral, garantindo que o herdeiro que assumiu essa responsabilidade financeira não seja onerado indevidamente, especialmente em situações onde não há bens suficientes na herança para cobrir tais despesas. Além disso, a modificação visa proporcionar maior segurança jurídica e evitar litígios entre herdeiros sobre quem deve pagar essas despesas em casos de insolvência do falecido ou inventário negativo163. | |
| Art. 2.003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. | Art. 2.003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e dos ascendentes obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e dos ascendentes, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. |
| A modificação proposta ao artigo 2.003 do CC/2002 amplia o conceito e o alcance da colação no direito sucessório, ao incluir não apenas os descendentes, mas também os ascendentes como beneficiários da regra que visa a igualar as legítimas. O texto original estabelece que a colação tem por objetivo igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, incluindo também os donatários que, no momento do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. A nova redação substitui o “cônjuge sobrevivente” por “ascendentes”, assegurando que, em casos de sucessão de ascendentes, a colação também sirva para equilibrar as legítimas dos herdeiros ascendentes. Essa modificação busca alinhar a regra da colação com o princípio da igualdade na sucessão hereditária, estendendo sua aplicação a todos os herdeiros legítimos, sejam eles descendentes ou ascendentes. Na prática, a alteração reconhece que, assim como os descendentes, os ascendentes também podem ser contemplados pela necessidade de igualar as legítimas, especialmente em situações de doações feitas em vida que impactem o montante a ser distribuído após o falecimento do doador. O parágrafo único do artigo, mantido na nova redação, dispõe que, se os valores das doações feitas em adiantamento da legítima não forem suficientes para igualar as legítimas, os bens doados deverão ser conferidos em espécie ou, se já não estiverem em posse do donatário, pelo valor que tinham ao tempo da liberalidade. Essa disposição visa garantir a equidade na partilha, impedindo | |
163 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v. 7: direito das sucessões. 15. São Paulo: Saraiva Jur, 2023.
| que doações feitas em vida prejudiquem a quota legítima dos demais herdeiros164. | |
| Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1º Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. § 2º Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem. | Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será o valor certo ou estimativo que lhes atribuir o ato de liberalidade, corrigido monetariamente até a data de abertura da sucessão. § 1º Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos pelo que se calcular valessem ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão. § 2º Só o valor dos bens doados entrará em colação; excluindo-se as benfeitorias necessárias e úteis realizadas no bem e os acréscimos decorrentes do seu trabalho, os quais pertencerão ao herdeiro donatário. |
| O texto original do art. 2.004 determina que o valor da colação é definido no momento da doação. A redação do projeto, no entanto, acrescenta a correção monetária desse valor até a data da abertura da sucessão. Essa atualização se mostra essencial para evitar distorções, considerando a desvalorização da moeda ao longo do tempo.165 166 O parágrafo primeiro mantém a regra para os casos em que o valor do bem não foi definido na doação, determinando que seja considerado o valor à época da liberalidade, também corrigido monetariamente. Já o parágrafo segundo apresenta uma mudança significativa, que passa a excluir da colação as benfeitorias necessárias e úteis, além dos acréscimos decorrentes do trabalho do herdeiro donatário.167 Essa alteração, além de estar em consonância com a doutrina que defende a exclusão das benfeitorias úteis da colação,168 representa um avanço em termos de justiça e equidade, evitando que o herdeiro que agregou valor ao bem seja prejudicado. Em suma, as alterações no art. 2.004 do CC/2002 aperfeiçoam o instituto da colação, reconhecendo o esforço do herdeiro que realiza benfeitorias no bem doado. | |
| Art. 2.006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade. | Art. 2.006. A dispensa da colação pode ser concedida pelo doador em testamento, no próprio título de liberalidade ou por simples declaração do doador, por escritura pública subsequente ao ato. |
| O artigo 2.006 do CC/2002 regula a dispensa da colação, permitindo que o doador exima o herdeiro da obrigação de trazer ao inventário o bem ou valor recebido em vida, para equilibrar a partilha entre os demais herdeiros169. Hoje, essa dispensa pode ser feita no próprio ato de doação ou em testamento. A nova redação amplia as possibilidades, permitindo que o doador faça a dispensa por meio de uma declaração em escritura pública, mesmo após o ato de liberalidade. Essa alteração confere | |
164 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil. 40.ed. São Paulo: SaraivaJur, v.1, 2023.
165 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: sucessões. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2020.
166 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 7.
167 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito das sucessões. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 7.
168 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2018. 169 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
| maior flexibilidade ao doador, facilitando a formalização da dispensa e possibilitando ajustes conforme a evolução de suas relações familiares e patrimoniais170. | |
| Art. 2.010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo-crime. | Art. 2.010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, com menos de dezoito anos de idade, incapaz ou dependente econômico do autor da herança, até 25 anos, para sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo-crime. |
| O artigo 2.010 do CC/2002 define que determinados gastos do ascendente com o descendente, como educação, sustento, vestuário, saúde, entre outros, não precisam ser incluídos na colação, isto é, na divisão formal dos bens no inventário. Esses gastos são considerados parte natural do cuidado familiar e não uma antecipação de herança171. A proposta de nova redação amplia essa regra, incluindo na dispensa da colação os descendentes com menos de dezoito anos, bem como os que sejam incapazes ou dependentes econômicos até os 25 anos. Com essa mudança, a lei se adapta às necessidades financeiras atuais dos jovens, permitindo que os herdeiros recebam apoio familiar por mais tempo, sem que esses gastos sejam tratados como adiantamento de herança172. | |
| Art. 2.012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges, no inventário de cada um se conferirá por metade. | Art. 2.012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges ou conviventes, no inventário de cada um se conferirá por metade. |
| O artigo 2.012 do CC/2002 aborda a conferência das doações realizadas por ambos os cônjuges no contexto do inventário, determinando que, quando a doação é feita em conjunto, a conferência deve ser realizada por metade no inventário de cada um dos cônjuges. A proposta de alteração do artigo amplia o alcance dessa regra para incluir também os conviventes, o que representa um avanço significativo no reconhecimento das uniões estáveis no direito sucessório. A inclusão dos conviventes na redação do artigo reflete a evolução do conceito de família no direito brasileiro. A Constituição Federal de 1988 já havia equiparado a união estável ao casamento, reconhecendo-a como entidade familiar173. No entanto, a legislação infraconstitucional, como o Código Civil, por vezes não acompanhava essa evolução de maneira integral, deixando lacunas que precisavam ser preenchidas para garantir a plena proteção jurídica aos conviventes. Com a nova redação, o artigo 2.012 passa a abranger também as doações realizadas por conviventes, determinando que, no inventário de cada um, a conferência seja feita por metade. Isso significa que, tal como ocorre com os cônjuges, as doações feitas em conjunto por pessoas em união estável serão consideradas igualmente em ambos os inventários, respeitando a contribuição de cada um para a formação do patrimônio doado174. Esse ajuste busca assegurar a equidade e a justiça na partilha dos bens, reconhecendo a união estável como uma relação de igual importância ao casamento na construção do patrimônio comum. A alteração evita interpretações restritivas que poderiam prejudicar os direitos dos conviventes na partilha de bens após o falecimento de um dos membros da união estável, bem como, representa o entendimento consolidade da jurisprudência dos tribunais brasileiros, que reconhecem a união | |
170 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 5. ed. São Paulo: Renovar, 2021. 171 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
172 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 5. ed. São Paulo: Renovar, 2021. 173 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 174 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.
| estável como entidade familiar digna de proteção e que, portanto, deve ter os mesmos direitos e obrigações atribuídos ao casamento175. | |
| Art. 2.014. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às quotas estabelecidas. | Art. 2.014. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, incluindo a legítima dos herdeiros necessários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às quotas estabelecidas. |
| O artigo 2.014 do CC/2002 trata de um importante aspecto do direito sucessório: a faculdade do testador de determinar a partilha dos bens entre os herdeiros. A norma original permite que o testador, ao elaborar seu testamento, decida não só quem receberá os bens, mas também como esses bens serão distribuídos, ou seja, como será feita a divisão entre os herdeiros. No entanto, há uma limitação importante: se o valor dos bens indicados não corresponder às quotas estabelecidas por lei (como a legítima dos herdeiros necessários), a partilha feita pelo testador pode ser contestada176. A nova redação proposta do artigo 2.014 mantém essa essência, mas introduz uma mudança significativa ao incluir expressamente a legítima dos herdeiros necessários. A legítima é a parte da herança que obrigatoriamente deve ser destinada aos herdeiros necessários (no caso do projeto descendentes e ascendentes). Antes, a indicação dos bens para a composição dos quinhões não fazia referência direta à legítima, o que poderia gerar interpretações divergentes sobre o alcance da liberdade do testador. Com a nova redação, o legislador deixa claro que o testador pode deliberar sobre a partilha de bens, desde que respeite a legítima, fortalecendo o princípio da proteção dos herdeiros necessários177. Juristas como Carlos Roberto Gonçalves observam que essa modificação reflete uma maior segurança jurídica no planejamento sucessório. Gonçalves explica que, ao delimitar a possibilidade de o testador indicar a partilha, sem comprometer a legítima, o novo texto equilibra o exercício da autonomia privada com a preservação dos direitos dos herdeiros necessários178. Isso evita potenciais litígios e disputas familiares, uma vez que a partilha feita no testamento não pode desrespeitar os direitos legais desses herdeiros. | |
| Art. 2.014-A. Não havendo disposição testamentária em contrário, o juiz poderá determinar, a pedido do interessado, a atribuição preferencial, na partilha: I – das participações societárias titularizadas pelo falecido ao herdeiro que já integre o quadro social ou exerça cargo de administração na sociedade, com a obrigação de pagamento do saldo aos demais herdeiros, se houver; II – do imóvel utilizado como residência ou exercício da profissão pelo herdeiro. | |
| A introdução proposta deste artigo traz uma importante inovação no campo do direito sucessório, estabelecendo a possibilidade de atribuição preferencial de certos bens na partilha, a critério do juiz e a pedido do interessado. Esse novo dispositivo visa a atender situações específicas, proporcionando maior flexibilidade e justiça na divisão dos bens, especialmente em casos que envolvem participações societárias e imóveis de uso pessoal ou profissional dos herdeiros. O inciso I do artigo proposto permite que as participações societárias titularizadas pelo falecido sejam atribuídas preferencialmente ao herdeiro que já integre o quadro social da empresa ou que exerça cargo de administração na sociedade. A lógica por trás dessa previsão é a de garantir a | |
175 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019. 176 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. 177 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Sucessões. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 178 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
| continuidade e a estabilidade da empresa familiar, evitando que terceiros ou herdeiros sem vínculo com a administração da empresa venham a interferir na gestão societária179. Essa medida também busca preservar o valor econômico e a integridade da sociedade, que poderia ser comprometida se as participações fossem divididas entre herdeiros sem experiência ou interesse na continuidade do negócio180. Os juristas já vinham debatendo a necessidade de instrumentos legais que permitissem a atribuição preferencial de participações societárias, especialmente em empresas familiares, onde a continuidade da gestão é um fator crucial para a sobrevivência da empresa. A proposta do artigo 2.014-A responde a essa demanda, criando um mecanismo que facilita a transmissão do controle societário ao herdeiro mais apto a gerir os negócios, desde que este compense os demais herdeiros pelo valor da participação atribuída181. O inciso II trata da atribuição preferencial de imóveis utilizados como residência ou local de exercício da profissão pelo herdeiro. Essa previsão tem como objetivo evitar que o herdeiro que já ocupa ou utiliza o imóvel seja obrigado a deixá-lo em razão da partilha, o que poderia causar transtornos significativos, especialmente em contextos em que o imóvel tem importância vital para a moradia ou para a atividade profissional do herdeiro182. A compensação aos demais herdeiros pela atribuição preferencial do imóvel é uma forma de garantir a equidade na partilha, preservando ao mesmo tempo o interesse legítimo do herdeiro que já utiliza o bem. Em suma, o artigo 2.014-A, ao permitir a atribuição preferencial de participações societárias e imóveis na partilha, traz uma solução pragmática para a divisão de bens em situações específicas, alinhando-se com os princípios de justiça e continuidade que norteiam o direito sucessório. A possibilidade de o juiz determinar essa atribuição, a pedido do interessado e na ausência de disposição testamentária em contrário, confere ao processo de partilha a flexibilidade necessária para atender às particularidades de cada caso, sem comprometer os direitos dos demais herdeiros. | |
| Art. 2.015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz. | Art. 2.015. Se o inventário for negativo ou se todos os herdeiros forem concordes, poderão fazer o inventário ou a partilha amigável, por escritura pública, no tabelionato de notas, independente de homologação judicial e desde que as partes estejam assistidas por advogado ou defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. § 1º Se houver herdeiro incapaz, a eficácia da escritura pública dependerá de anuência do Ministério Público. § 2º Com a discordância do Ministério Público, não se lavrará a escritura. |
| O artigo 2.015 do CC/2002 permite que herdeiros capazes realizem a partilha amigável dos bens, por escritura pública, termo no inventário judicial ou por escrito particular homologado pelo juiz, simplificando o processo de partilha entre eles. A nova redação do artigo amplia essa possibilidade ao permitir a realização de inventário e partilha amigável diretamente em cartório, sem a necessidade de homologação judicial, desde que todos os herdeiros estejam em acordo e assistidos por advogado ou defensor público. Essa alteração visa desburocratizar o processo de partilha, tornando-o mais rápido e acessível. | |
179 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019. 180 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 181 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021.
182 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. “A proteção do herdeiro na sucessão de empresas familiares”. Revista dos Tribunais, vol. 99, n. 768, p. 89-115, 2020.
| Nos casos em que há herdeiro incapaz, a participação do Ministério Público é exigida para validar a partilha, promovendo a proteção dos interesses dos incapazes183. Com isso, o processo se torna mais flexível e moderno, ao mesmo tempo em que assegura a segurança jurídica e o acompanhamento de profissionais qualificados184. | |
| Art. 2.016. Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. | Art. 2.016. Serão sempre submetidos à jurisdição o inventário e a partilha, se os herdeiros ou legatários divergirem. § 1º Se todos os herdeiros e os legatários forem concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. § 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. § 3º Se houver herdeiro incapaz ou testamento, a eficácia da escritura pública dependerá de anuência do Ministério Público. § 4º Com a discordância do Ministério Público, o tabelião de notas não lavrará a escritura. |
| O artigo 2.016 do CC/2002 determina que a partilha deve ocorrer judicialmente sempre que houver divergência entre os herdeiros ou se algum for incapaz, garantindo um processo supervisionado para evitar conflitos e proteger direitos185. A redação proposta no projeto flexibiliza essa regra ao permitir que, caso todos os herdeiros e legatários estejam de acordo, o inventário e a partilha possam ser feitos em cartório, por escritura pública, sem necessidade de homologação judicial. Esse documento passa a ter validade para registros e transações financeiras, facilitando o acesso dos herdeiros aos bens deixados186. No entanto, para assegurar a proteção de interesses, exige-se que todas as partes estejam assistidas por um advogado ou defensor público. Caso haja herdeiros incapazes ou testamento, o Ministério Público precisa aprovar a escritura; se houver discordância do órgão, o processo deve seguir pela via judicial187. Essa proposta moderniza o procedimento, tornando-o mais ágil e eficiente, sem renunciar a garantias legais. | |
| Art. 2.018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última | Art. 2.018. Toda pessoa capaz de dispor por testamento poderá fazer a partilha em vida da |
183 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Resolução nº 571, de 26 de agosto de 2024. Altera a Resolução CNJ nº 35/2007, que disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 30 ago. 2024. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original2309432024083066d251371bc21.pdf. Acesso em: 10 nov. 2024.
184 LOUREIRO, Francisco José Cahali. Direito Civil: Sucessões, Comentários ao Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.
185 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
186 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 5. ed. São Paulo: Renovar, 2021. 187 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Resolução nº 571, de 26 de agosto de 2024. Altera a Resolução CNJ nº 35/2007, que disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 30 ago. 2024. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original2309432024083066d251371bc21.pdf. Acesso em: 10 nov. 2024.
| vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. | totalidade de seus bens ou de parte deles, contando que respeite a legítima dos herdeiros e não viole normas cogentes ou de ordem pública. |
| O artigo 2.018 do CC/2002 permite que um ascendente faça a partilha de seus bens em vida, desde que isso não prejudique a legítima dos herdeiros necessários, garantindo proteção mínima aos direitos dos herdeiros188. A redação do projeto amplia essa possibilidade para qualquer pessoa capaz de dispor por testamento, permitindo que ela realize a partilha de todos os seus bens, ou apenas de uma parte, ainda em vida. No entanto, continua obrigatório respeitar a legítima dos herdeiros e as normas de ordem pública, o que assegura que a divisão dos bens seja justa e que nenhum direito essencial seja violado189. Essa mudança reforça a autonomia do titular dos bens para organizar seu patrimônio, ao mesmo tempo que protege os interesses familiares e as disposições legais fundamentais. | |
| Art. 2.018-A. A partilha em vida é irrevogável e poderá ser invalidada nas mesmas hipóteses previstas nos arts. 166 e 171 deste Código. | |
| O novo artigo 2.018-A estabelece que a partilha em vida, uma vez realizada, é irrevogável, ou seja, não pode ser desfeita voluntariamente após sua formalização. Essa regra traz segurança jurídica ao ato, garantindo que a distribuição dos bens feita em vida pelo titular seja definitiva. O projeto admite a possibilidade de realização de partilha em vida, desde que observados os requisitos legais e os princípios que regem o Direito das Sucessões. No entanto, o Código Civil prevê hipóteses em que essa partilha pode ser invalidada, conforme os fundamentos jurídicos estabelecidos nos artigos 166 e 171 do Código Civil, os quais tratam, respectivamente, da nulidade e da anulabilidade dos negócios jurídicos. Nos termos do artigo 166 do Código Civil, o negócio jurídico será considerado nulo, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, quando incorrer em vícios insanáveis que comprometem a sua estrutura essencial. São causas de nulidade: a celebração do ato por pessoa absolutamente incapaz; a ilicitude, impossibilidade ou indeterminabilidade do objeto; a existência de motivo determinante ilícito comum às partes; a inobservância da forma prescrita em lei; a ausência de solenidade que a lei considere essencial à validade do ato; a finalidade de fraudar norma imperativa; ou, ainda, quando a própria lei declarar expressamente a nulidade do ato ou proibir sua prática, independentemente da cominação de sanção específica. Além disso, o artigo 171 do Código Civil estabelece as hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico, caracterizadas por vícios que, embora não comprometam a estrutura essencial do ato, afetam a sua validade de maneira relativa. São causas de anulabilidade: o erro substancial, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. Dessa forma, a partilha realizada em vida, ainda que formalmente regular, poderá ser objeto de contestação judicial caso se verifique a presença de quaisquer desses vícios. Em especial, nos casos em que houver lesão a herdeiros necessários, vícios de consentimento ou desrespeito à forma legalmente exigida, poderá ser reconhecida a invalidade do ato, com os consequentes efeitos jurídicos, incluindo a anulação da partilha e a recomposição da legítima. Essa medida busca um equilíbrio entre a segurança jurídica da partilha irrevogável e a proteção dos herdeiros contra possíveis abusos ou irregularidades190. | |
| Art. 2.019. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, | Art. 2.019. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge ou convivente sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, poderão ser |
188 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
189 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 5. ed. São Paulo: Renovar, 2021. 190 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 5. ed. São Paulo: Renovar, 2021.
| partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. § 1º Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada. § 2º Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação. | vendidos judicial ou extrajudicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. § 1º Não se fará a venda judicial ou extrajudicial se o cônjuge ou convivente sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada. § 2º (…). § 3º A venda extrajudicial somente é possível em se tratando de bens imóveis, e será efetivada perante o Cartório de Registro de Imóveis, em procedimento próprio a ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. § 4º Em se tratando de bens digitais, é possível a avaliação posterior para fins de composição da sobrepartilha. |
| O artigo 2.019 do CC/2002 aborda a partilha de bens que não podem ser divididos de maneira prática, determinando que esses bens sejam vendidos judicialmente, e o valor obtido seja dividido entre os herdeiros, a menos que todos concordem em adjudicá-los191. Esse processo visa garantir uma divisão justa quando não é possível fracionar fisicamente o bem. A nova redação propõe maior flexibilidade, permitindo a venda extrajudicial para esses bens, incluindo a opção de adjudicação ao cônjuge, convivente ou a um herdeiro com reposição em dinheiro aos demais. Para bens imóveis, a venda extrajudicial ocorre via Cartório de Registro de Imóveis, seguindo regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, o que torna o processo mais acessível e ágil. A inclusão de bens digitais e sua avaliação para sobrepartilha reflete a atualização do direito à realidade digital, permitindo que esses ativos também sejam contemplados de maneira justa na partilha192. | |
| Art. 2.019-A. Qualquer herdeiro poderá requerer ao juiz que lhe seja antecipadamente adjudicado bem determinado que couber no seu quinhão, ou repondo ao espólio, em dinheiro, eventual diferença, após avaliação atualizada. Parágrafo único. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, terá preferência aquele que aceitar o bem por maior valor. | |
| O novo artigo 2.019-A traz uma inovação importante para o processo de partilha. Ele permite que qualquer herdeiro solicite ao juiz a adjudicação antecipada de um bem específico que possa vir a fazer parte de seu quinhão. Caso o valor do bem exceda sua parte na herança, o herdeiro deverá compensar o espólio em dinheiro pela diferença, assegurando uma divisão justa para todos193. O parágrafo único estabelece um critério claro para resolver disputas: se mais de um herdeiro desejar o mesmo bem, a preferência será dada àquele que estiver disposto a assumir o bem por um valor mais alto. Essa regra promove uma solução pacífica para conflitos entre herdeiros, incentivando o consenso e a justiça na partilha dos bens194. | |
191 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
192 LOUREIRO, Francisco José Cahali. Direito Civil: Sucessões, Comentários ao Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.
193 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
194 LOUREIRO, Francisco José Cahali. Direito Civil: Sucessões, Comentários ao Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.
| Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. | Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge, o convivente sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. As pessoas indicadas no caput têm direito ao reembolso das despesas que fizeram, e respondem pelo dano que, por dolo ou culpa, deram causa. |
| O artigo 2.020 do CC/2002 aborda uma questão central no âmbito do direito sucessório: a obrigação de herdeiros, cônjuge sobrevivente e inventariante de trazerem ao acervo hereditário os frutos percebidos desde a abertura da sucessão. Frutos, no contexto do artigo, referem-se aos rendimentos gerados pelos bens da herança, como aluguéis, rendimentos de investimentos, ou produtos de atividades econômicas relacionadas aos bens deixados pelo falecido195. A nova redação proposta mantém a essência dessa obrigação, mas ajusta a terminologia para incluir o convivente sobrevivente, ampliando o conceito para além do cônjuge, em conformidade com o avanço da proteção jurídica às uniões estáveis196. Tal evolução encontra fundamento no princípio da isonomia, previsto na Constituição Federal, e tem sido reiterada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece a união estável como entidade familiar, com direitos sucessórios equivalentes aos do casamento197. Além disso, a norma em questão protege o acervo hereditário de eventuais prejuízos causados por má gestão dos herdeiros ou do inventariante, ao impor responsabilidade por danos causados por dolo ou culpa. A exigência de ressarcimento dos frutos percebidos durante a sucessão visa assegurar que todos os bens e seus frutos sejam devidamente partilhados entre os herdeiros, evitando o enriquecimento injusto de um em detrimento de outros198. Outro ponto relevante na nova redação é o parágrafo único, que unifica o tratamento das despesas necessárias e úteis feitas pelos herdeiros, cônjuge ou convivente sobrevivente e inventariante, assegurando a estes o direito ao reembolso dessas despesas. Isso significa que gastos com manutenção, conservação e administração dos bens da herança poderão ser compensados, desde que se comprovem como necessários ou vantajosos para o patrimônio. Tal previsão busca garantir que quem administra o acervo hereditário não seja prejudicado financeiramente, incentivando a boa gestão dos bens até a partilha final. Em suma, o artigo 2.020 e sua nova redação reafirmam princípios fundamentais do direito sucessório, como o dever de preservação do acervo hereditário e a equidade na partilha dos frutos gerados pelos bens. Ao incluir expressamente o convivente sobrevivente e consolidar o direito ao reembolso das despesas necessárias, a norma evolui em sintonia com as mudanças sociais e com a doutrina que reconhece a importância de proteger todos os integrantes da entidade familiar no contexto sucessório199. | |
| Art. 2.027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha. | Art. 2.027. A partilha sucessória é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos, previstos no art. 171 deste Código. Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha sucessória nos casos previstos no caput. |
195 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. 196 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Sucessões. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 197 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 878.694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10.05.2017.
198 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. 199 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
| O art. 2.027 do CC/2002 trata da anulação da partilha, permitindo que seja desfeita caso apresente os mesmos vícios que invalidam qualquer negócio jurídico. Imagine que, na divisão da herança, alguém escondeu bens ou coagiu outro herdeiro: a partilha pode ser anulada, como se fosse um contrato defeituoso. A novidade é que a nova redação específica que os vícios para anular a partilha são os mesmos listados no art. 171 do Código Civil, que trata de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores.200 Isso traz mais clareza, evitando dúvidas sobre quais problemas permitem a anulação. O prazo para pedir a anulação continua sendo de um ano. Esse prazo curto visa garantir segurança jurídica, para que a divisão dos bens não fique indefinidamente sujeita a questionamentos.201 O art. 2.027 busca garantir a justiça na partilha da herança, permitindo que seja corrigida quando houver vícios que a tornem inválida. A nova redação, ao especificar os vícios e manter o prazo decadencial, contribui para a segurança jurídica e a efetividade do direito sucessório. |
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente projeto teve por escopo proceder a uma análise crítica e fundamentada do Projeto de Lei n. 4, de 2025, atualmente em trâmite no Senado Federal, o qual propõe relevantes alterações no Código Civil, com ênfase no Livro V, atinente ao Direito das Sucessões. Partindo da problemática delineada na introdução – qual seja, avaliar em que medida a mencionada proposição legislativa contribui para a modernização do sistema sucessório brasileiro e quais os seus possíveis impactos jurídicos e sociais –, o estudo buscou aferir a consistência normativa da proposta, sua compatibilidade com os princípios constitucionais vigentes e seus efeitos potenciais na prática forense.
Foram estabelecidos, para tanto, três objetivos específicos: (i) identificar e sistematizar as principais modificações normativas sugeridas no texto do projeto; (ii) confrontar tais modificações com a legislação civil atualmente em vigor e com os fundamentos constitucionais aplicáveis; e (iii) analisar os possíveis reflexos jurídicos, sociais e patrimoniais decorrentes da eventual aprovação da nova disciplina legal.
A análise crítica empreendida permitiu verificar que o Projeto de Lei n. 4/2025 apresenta avanços significativos no sentido de adequar o Direito das Sucessões às transformações sociais e familiares ocorridas nas últimas décadas. A proposta legislativa revela-se alinhada aos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa
200 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 11 out. 2024. 201 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: sucessões. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2020.
humana e do pluralismo das entidades familiares, conforme consagrados na Constituição Federal de 1988. Dentre as inovações de maior relevância, destacam-se a equiparação de direitos sucessórios entre cônjuge e companheiro, a reestruturação da ordem de vocação hereditária, bem como a revisão de institutos tradicionais como a legítima e o testamento, visando à flexibilização e à efetividade do sistema sucessório.
No tocante à hipótese formulada – de que o projeto representa um instrumento de modernização normativa e promoção de maior justiça sucessória –, os resultados obtidos corroboram essa premissa. Verifica-se que, caso incorporado ao ordenamento jurídico, o Projeto de Lei n. 4/2025 poderá contribuir para a redução de controvérsias judiciais, para o reconhecimento jurídico de novos arranjos familiares e para uma distribuição patrimonial mais justa e equilibrada entre herdeiros.
Em conclusão, afirma-se que o Projeto de Lei n. 4/2025 constitui um avanço relevante na atualização do Direito das Sucessões, sendo juridicamente consistente e socialmente oportuno por normatizar entendimentos jurisprudenciais já vigentes. Com os ajustes técnicos necessários, sua aprovação poderá promover maior adequação normativa à realidade contemporânea, sem prejuízo da segurança jurídica e da proteção dos direitos fundamentais das diversas configurações familiares existentes no Brasil.
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
4 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito das Sucessões. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
5 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 878.694/MG. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgado em 10/05/2017. Disponível em: [https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur379763/false]. Acesso em: 10 ago. 2024.
7 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
8 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020
9 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. v. 6
10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.137.024/SP. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma, julgado em 22 de novembro de 2011. Diário da Justiça Eletrônico, 9 de dezembro de 2011.
11 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
12 WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.
13 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
14 PEREIRA, Flávia. O Direito de Acrescer no Contexto da Sucessão Legítima. Revista de Direito Civil Contemporâneo, vol. 25, p. 40-55, 2020.
15 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
16 LEITÃO NETO, Joaquim. A Promessa de Cessão de Direitos Hereditários: Análise Jurídica. Revista dos Tribunais, vol. 112, p. 89-105, 2021.
17 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Sucessões. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
18 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
19 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. “A decadência no direito civil brasileiro”. Revista dos Tribunais, vol. 87, n. 760, p. 13-45, 2020.
20 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
21 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
22 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.
23 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Acessível em: https://www.planalto.gov.br.
24 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
25 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
26 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: Sucessões. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
27 LÚCIA SOUZA D’AQUINO, U. F. G. D. et al. A sucessão legítima de filhos havidos” post mortem” por técnica de reprodução assistida. E-Civitas, v. 15, n. 2, p. 67-101, 2023.
28 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito das sucessões. 10.ed. Rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forence, v.6, 2017.
29 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
30 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: Sucessões. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
31 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
32 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
33 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito das sucessões. 10.ed. Rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forence, v.6, 2017.
34 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil 7: Sucessões. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2016.
35 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
36 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 ago. 2024.
37 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 30. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 6.
38 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito Civil: Direito das Sucessões. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024.
39 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
40 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: Sucessões. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
41 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
42 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
43 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.
44 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.572.557/PR. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 06/02/2018. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 10 set. 2024.
45 LEAL, Akemy Arashiro. O regime da indignidade sucessória: uma reforma do artigo 1.814 do Código Civil de 2002. Campo Grande, MS, 2023, 83f. Projeto de Pesquisa (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS.
46 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das sucessões. Belo Horizonte, MG: Editora Del Rey, 2011.
47 DESESSARDS, Bárbara Prates. A indignidade sucessória no direito brasileiro: um estudo sobre a mitigação da taxatividade do rol de causas do artigo 1.814 do Código Civil. Porto Alegre, 2023, 74f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2023.
48 GOMES, Nélio Orlando da Silva. Algumas Reflexões sobre a Indignidade como Incapacidade Sucessória. Coimbra, 2022, 59f. Dissertação (Especialização em Ciências Jurídico-Forenses) – Universidade de Coimbra, Coimbra, 2022.
49 RIBEIRO, Raphael Rego Borges. O fracasso da constitucionalização do direito sucessório no Código Civil de 2002 e a necessidade de uma teoria crítica do direito das sucessões. Civilistica.com, v. 10, n. 1, p. 1-50, 2021.
50 NICOLAU, VICTÓRIA SALES. A Taxatividade da Indignidade no Direito Sucessório. Campo Grande, MS, 2023, 50f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Campo Grande, MS, 2023.
51 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis; QUEIROZ, Odete Novais Carneiro. O regime jurídico da indignidade no direito das sucessões. Duc In Altum-Cadernos de Direito, v. 14, n. 33, 2022.
52 DANTAS, Pedro Borges Roriz. Desafios do planejamento sucessório: um estudo das holdings familiares e as questões legais envolvendo o direito de família e das sucessões. Recife, 2024, 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2024.
53 FARIAS, Mario Roberto de. Inventários e Testamentos: Direito das Sucessões: Teoria e prática. 11.ed. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023, 424 p.
54 PEREIRA, Marina Ferreira. O Instituto da indignidade como causa de exclusão sucessória. Ponta Grossa, 2020. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado em direito) – Centro Universitário Santa Amélia – Unisecal. Ponta Grossa, 2020, 22f.
55 ABREU, Emilly Rodrigues de; PEREIRA, Thallyne Alves; SOARES, Nelly Ferreira. A exclusão do herdeiro indigno e a burocratização imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro. Research, Society and Development, v. 11, n. 15, 2022.
56 ALMEIDA, Priscila Marina Carvalho de; MELLO, Roberta Salvático Vaz de; MAIRINK, Carlos Henrique Passos. Os efeitos do prazo prescricional da petição de herança relacionados ao direito sucessório do filho não reconhecido. LIBERTAS DIREITO, v. 2, n. 2, 2021.
57 VENTURI, João Pedro Victoriana. Prescrição na ação de petição de herança, uma análise acerca da segurança jurídica sobre o entendimento do STJ. Vitória, 2022. Monografia (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2021, 148f.
58 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
59 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 5. ed. São Paulo: Renovar, 2021.
60 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.
61 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
69 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Sucessões. 9ª ed. São Paulo: Método, 2022.
70 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019. 71 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Sucessões. 27ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
72 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 73 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.
74 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito Civil: Direito das Sucessões. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024.
75 SANTOS, Vanessa Quintino. A sucessão colateral entre irmãos bilaterais e unilaterais sob a égide do princípio da igualdade e o princípio da autonomia privada. Belo Horizonte, MG, 2020. Monografia (Bacharelado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, 2020, 64f.
76 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
77 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
78 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 79 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 5. ed. São Paulo: Renovar, 2021. 80 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Sucessões. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
81 RODRIGUES, Lucas Miguel Freitas. A extensão do planejamento sucessório na transmissão do legado familiar na esfera jurídica. São Paulo, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2022, 30f.
82 CORDEIRO, Ayla Sabrina Oliveira; DA COSTA, João Santos. O RECONHECIMENTO DO COMPANHEIRO COMO HERDEIRO NECESSÁRIO E A REPERCUSSÃO NO DIREITO SUCESSÓRIO. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 6, p. 974-985, 2024.
83 NOGAROLLI, Roberta Sandoval França; GOMES, Luiz Geraldo do Carmo. Usufruto Vidual: reflexões a partir do Recurso Especial nº 1280.102 do Superior Tribunal de Justiça. Revista Brasileira de Pesquisa Jurídica, Avaré, v.2, n.3. p. 251-271, set./dez. 2021.
84 TEPEDINO, Gustavo; NEVARES, Ana Luiza Maia; MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Fundamentos do Direito Civil: Direito das Sucessões. 5.ed. São Paulo: Forense, v. 7, 2023. 85 OLIVEIRA, Bernardo Villela Mendes. Fundamentos Epistemológicos do Direito das Sucessões: uma análise abrangente dos institutos e implicações práticas.2.ed. São Paulo: Editora Dialética, 2024.
86 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 87 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Sucessões. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
88 OLIVEIRA, Ângela Maria de. O testamento como forma de planejamento sucessório: uma análise legal, jurisprudencial e doutrinária sobre o testamento no Brasil. Senador Canedo, 2023. Monografia (Bacharelado em Direito) – Universidade Evangélica de Goiás, Senador Canedo, 2023, 44f. 89 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, 7 jul. 2015. 90 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2022.
91 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 5. ed. São Paulo: Renovar, 2021.
92 LOUREIRO, Francisco José Cahali. Direito Civil: Sucessões, Comentários ao Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.
93 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Sucessões. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
94 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: direito das sucessões. São Paulo: Saraiva. v.6, 2024.
95 CARDOSO, Luana Barroso; RANGEL, Tauã Lima Verdan. Herança digital em debate: dissensos e ruídos no reconhecimento do instituto em face de uma possível ausência normativa. Bom Jesus do Itabapoana, RJ, 2021. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade Metropolitana São Carlos. Bom Jesus do Itabapoana, RJ, 2021, 120f.
97 ANDRADE, Anna Carolina Pessoa de Aquino et al. Direito notarial e registral: questões atuais e controvertidas. Organizado por Fernanda de Almeida Abud Castro, Ariádina dos Santos de Souza. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2022.
98 ANDRADE, Silvana do Monte. Direito das Sucessões. 9. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 99 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.712.175/RS, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/08/2017.
100 PFÜLLER, Débora Franciele. Planejamento sucessório da pessoa com deficiência intelectual: um estudo da capacidade testamentária ativa à luz da Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Restinga Sêca, RS, 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade Antonio Meneghetti. Restinga Sêca, RS, 2020, 31f.
101 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil 7: Sucessões. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2016.
102 PFÜLLER, Débora Franciele. Planejamento sucessório da pessoa com deficiência intelectual: um estudo da capacidade testamentária ativa à luz da Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Restinga Sêca, RS, 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade Antonio Meneghetti. Restinga Sêca, RS, 2020, 31f.
REFERÊNCIAS
ABREU, Emilly Rodrigues de; PEREIRA, Thallyne Alves; SOARES, Nelly Ferreira. A exclusão do herdeiro indigno e a burocratização imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro. Research, Society and Development, v. 11, n. 15, 2022.
ALMEIDA, Priscila Marina Carvalho de; MELLO, Roberta Salvático Vaz de; MAIRINK, Carlos Henrique Passos. Os efeitos do prazo prescricional da petição de herança relacionados ao direito sucessório do filho não reconhecido. LIBERTAS DIREITO, v. 2, n. 2, 2021.
ANDRADE, Anna Carolina Pessoa de Aquino et al. Direito notarial e registral: questões atuais e controvertidas. Organizado por Fernanda de Almeida Abud Castro, Ariádina dos Santos de Souza. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2022.
ANDRADE, Silvana do Monte. Direito das Sucessões. 9. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 set. 2025.
BRASIL. Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Planalto: Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 11 set. 2025.
BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, 7 jul. 2015.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.137.024/SP. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma, julgado em 22 de novembro de 2011. Diário da Justiça Eletrônico, 9 de dezembro de 2011.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.572.557/PR. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 06/02/2018.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.712.175/RS, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/08/2017.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 878.694/MG. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgado em 10/05/2017.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 878.694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10.05.2017.
CARDOSO, Luana Barroso; RANGEL, Tauã Lima Verdan. Herança digital em debate: dissensos e ruídos no reconhecimento do instituto em face de uma possível ausência normativa. Bom Jesus do Itabapoana, RJ, 2021. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade Metropolitana São Carlos. Bom Jesus do Itabapoana, RJ, 2021, 120f.
CARVALHO, Lucas Borges de. Soberania digital: legitimidade e eficácia da aplicação da lei na internet. Revista brasileira de direito, v. 14, n. 2, p. 213-235, 2018.
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Resolução nº 571, de 26 de agosto de 2024. Altera a Resolução CNJ nº 35/2007, que disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 30 ago. 2024. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original2309432024083066d251371bc21.pdf. Acesso em: 11 set. 2025.
CORDEIRO, Ayla Sabrina Oliveira; DA COSTA, João Santos. O RECONHECIMENTO DO COMPANHEIRO COMO HERDEIRO NECESSÁRIO E A REPERCUSSÃO NO DIREITO SUCESSÓRIO. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 6, p. 974-985, 2024.
CORRÊA, Jacqueline Henriques. Os limites jurídicos do direito do companheiro (a) em união estável no direito sucessório: a importância do registro cartorário para a segurança jurídica na união estável. VirtuaJus. Belo Horizonte, v. 7, n. 13, p. 180-199.
DANTAS, Pedro Borges Roriz. Desafios do planejamento sucessório: um estudo das holdings familiares e as questões legais envolvendo o direito de família e das sucessões. Recife, 2024, 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2024.
DESESSARDS, Bárbara Prates. A indignidade sucessória no direito brasileiro: um estudo sobre a mitigação da taxatividade do rol de causas do artigo 1.814 do Código Civil. Porto Alegre, 2023, 74f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2023.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Sucessões. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
2 Doutorando no Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Mestre em Educação pela Universidade de Uberaba – UNIUBE (2019). Mediador e Conciliador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJ/MG (2017). Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus (2014). Especialista em Direito de Família e Sucessões pela Universidade Anhanguera (2013). Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera (2012). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM (2010). Professor Pesquisador atuando como Coordenador e Preceptor de Prática Real do Núcleo de Prática Jurídica Desembargador Pedro Bernardes – NPJ/CESG (2013 – Atual). Professor de Direito Civil, Processo Civil, Prática Cível e de Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP no Centro de Ensino Superior de São Gotardo/CESG (2013 – Atual). Advogado atuante, sócio proprietário do escritório de advocacia Júlio Júnior Sociedade Individual de Advocacia e Advogados Associados (2011 – Atual). E-mail: prof.juliojunior@gmail.com. Instagram: @juliojunior.adv.prof. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4136600064958259. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3849-1792.
