REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202507281551
José Mairton Silva dos Santos
Sérgio Augusto Guilherme de Oliveira Filho
RESUMO
Este trabalho se propõe analisar a planilha de dimensionamento de rede malhada de abastecimento de água. Foi utilizada na análise a planilha proposta pelo Prof. Me. Anísio de Sousa Meneses Filho. O trabalho encontra sua justificativa na necessidade de disponibilizar ferramentas que auxiliem profissionais da área de engenharia a atingir a meta de universalização do saneamento básico, o que inclui o abastecimento de água à população. O trabalho adotou inicialmente uma metodologia exploratória para melhor compreensão do tema e dos conceitos envolvidos. Foram então elencadas ferramentas voltadas para finalidade de dimensionamento de redes de abastecimento de água que já são consolidadas no meio técnico e adotada uma destas ferramentas para servir como referência para a análise objetivada nesta pesquisa. Simulações de três exemplos foram realizadas na planilha analisada e no programa identificado como de referência. Análise então é realizada essencialmente focada na experiência proporcionada, bem como na verificação dos resultados obtidos. Foi obtido como resultado da fase exploratória a identificação da relação existente entre o desenvolvimento da sociedade e os corpos hídricos e apresentadas algumas das problemáticas decorrentes dessa relação. Dentre as problemáticas identificadas por esse estudo se ressaltam a condição de limitação dos recursos hídricos e os desafios enfrentados para desenvolver o saneamento básico no Brasil. Ainda como resultado da fase exploratória foram apresentadas algumas definições relacionadas às redes malhadas e seus respectivos conceitos teóricos e métodos de cálculos. Quanto à fase de análise da planilha, inicialmente foram elencadas algumas características da planilha e do programa EPANET. Identificando aqueles pontos que de alguma forma pudesse impactar negativamente na experiência do usuário. No momento seguinte, foram apresentadas e implementadas proposições de melhoria a planilha analisada, dando origem a uma versão aprimorada. Simulações de três exemplos foram executadas no EPANET, na planilha na sua versão original e na versão aprimorada. Os resultados foram apresentados e comparados de forma a verificar os resultados das planilhas com os resultados do programa já consolidado no meio técnico. Por fim, foram apresentadas as principais conclusões e considerações acerca deste trabalho.
Palavras-chave: abastecimento de água; dimensionamento; rede malhada; planilhas eletrônicas; usabilidade.
ABSTRACT
This work aims to analyze a data sheet for the dimensioning of looped water distribution network” The analysis used the data sheet proposed by Prof. Anísio de Sousa Meneses Filho, MSc. The work finds its justification in the need to provide tools that assist engineering professionals in achieving the goal of universal access to basic sanitation, which includes water supply to the population. The work initially adopted an exploratory methodology to gain a better understanding of the subject and the concepts involved. Many tools aimed at the design of water supply networks that are already wellestablished in the technical field were then listed, and one of these tools was adopted as a reference for the analysis targeted in this research. Simulations of three examples were conducted using the analyzed data sheet and the program identified as a reference. The analysis was done essentially focused on the experience provided, as well as on the verification of the obtained results. As a result of the exploratory phase, the relationship between societal development and water bodies was identified, and some of the issues arising from this relationship were presented. Among the issues identified by this study, the limitation of water resources and the challenges faced in developing basic sanitation in Brazil are highlighted. As a result of the exploratory phase, some definitions were related to looped networks and their respective theoretical concepts and calculation methods were presented. As for the data sheet analysis phase, some characteristics of the data sheet and the EPANET program were initially listed. Points that could potentially impact the user experience negatively are identified. In the next step, improvement propositions for the analyzed data sheet were presented and implemented, resulting in an enhanced version. Simulations of three examples were conducted using EPANET, the original version of the data sheet, and the enhanced version. The results were presented and compared to verify the datasheet outcomes against those from the program already established in the technical field. Finally, the main conclusions and considerations regarding this work were presented.
Keywords: water supply; sizing; meshed network; spreadsheets; usability.
1. INTRODUÇÃO
A preocupação da sociedade com a correta utilização da água está cada vez mais pujante. Este recurso é primordial a vida e é limitado, está cada vez mais escasso. Ações que busquem mitigar seu desperdício devem ser estimuladas.
Em 2022, segundo o Ministério das Cidades ([2023]), cerca de 37,8% da água potável disponibilizada não foi efetivamente contabilizada ou foi perdida no processo de distribuição. O referido ministério indica ainda que em 2014 a população abastecida com água potável é de aproximadamente 171 milhões de pessoas, cerca de 83,0% dos brasileiros, ao passo em 2022 seria uma população de 177 milhões, representando 84,9% do total de brasileiros (Ministério das Cidades, [2023]). Logo, demonstra-se que em um período de quase uma década, registrou-se a evolução de apenas de 1,9% da parcela da população.
Em meio a necessidade de melhor cuidar dos recursos hídricos e universalizar os serviços de saneamento básico, surge em 2007 o marco regulatório do saneamento básico, que foi atualizado em julho de 2020 com a promulgação da Lei 14.026/2020 e a instituição de um novo marco legal que (Ministério do Desenvolvimento Regional, 2022)
Ressalta-se que no mesmo ano do novo marco legal do saneamento básico, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 10 março de 2020, declara pandemia do novo Coronavírus (Sars-COV-2), estando o Brasil naquele momento já com 52 confirmados, segundo o Governo Federal (2020). Em 20 de março do mesmo ano, é decretada a condição de calamidade pública em função da pandemia (Brasil, 2020).
Dutra e Smiderle (2020) abordam a tese de que as medidas de combate ao vírus, dentre outras frentes de ação, passam pela universalização do saneamento básico. Afirma inclusive os autores que as condições precárias de saneamento foram expostas pela pandemia. Este cenário se agrava com a crise econômica como fator impeditivo de maiores investimentos em saneamento, retardando deste modo os efeitos práticos do novo marco legal do saneamento.
Diante de todo esse contexto vivido pelo Brasil nos últimos anos, fica demonstrada a urgência de se acelerar o processo de universalização do saneamento básico. Espera-se que com o fim da pandemia e superação da crise financeira por ela gerada, haja um aumento da demanda de projetos e obras voltados à universalização do saneamento básico.
Considerando que o abastecimento de água é parte integrante do saneamento básico, para garantir o acesso ao abastecimento de água a toda população brasileira, novos projetos de rede de abastecimento de água devem ser elaborados conforme a realidade de cada região.
Dacach (1975) afirma que os sistemas de abastecimento de água são compostos pelo sistema de captação, dispositivos de adução, processos de tratamento, reservação e, por fim, distribuição. A distribuição se trata da etapa de condução da água até o consumidor final. Podendo ser realizada por sistema de redes ramificadas ou redes malhadas.
As redes que se enquadram em ramificada são caracterizadas pela existência de uma tubulação primária, também conhecida como tubulação tronco. Nesta tubulação está concentrada toda a vazão de abastecimento. Um rompimento em um ponto desta estrutura acarreta o desabastecimento de todo restante da rede a sua a jusante.
As redes classificadas como malhadas, por sua vez, têm sua tubulação primária formando anéis ou malhas. Esta característica garante que a interrupção pontual de qualquer trecho do sistema não terá como consequência o desabastecimento de todo trecho a jusante do ponto interrompido.
O presente trabalho se propõe a dar sua contribuição para a temática de saneamento ambiental, mas com ponto focal direcionado para o dimensionamento de redes de abastecimento de água, em especial redes malhadas.
O dimensionamento deste tipo de rede envolve certa complexidade. Pois, exige entendimento prévio de conceitos como oferta, demanda, vazão, conservação de energia e massa são imprescindíveis para conseguir realizar este tipo de dimensionamento.
Além dos conceitos, o processo de dimensionamento em condição ordinária envolve métodos interativos de cálculo, onde são estimados alguns valores iniciais e, a cada iteração, obtém-se resultados mais refinados. Essas interações são repetidas até se atingir valores que são considerados aceitáveis.
Em função desta complexidade e repetitividade características do processo de cálculo de dimensionamento, naturalmente ferramentas computacionais surgem para auxiliar nesta tarefa. Dentre estas, destaca-se o programa EPANET desenvolvido pela U.S. Envioronmental Protection Agency (USEPA), Agência de Proteção Ambiental Americana. No Brasil uma versão nacional deste programa foi desenvolvida pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Planilhas eletrônicas também são ferramentas disponíveis a profissionais que desejam realizar essa tarefa de dimensionamento. Nessa condição, Meneses Filho (2023) propõe um modelo de planilha para realizar procedimento de cálculo.
A análise da planilha proposta por Meses Filho é uma forma de avaliar as condições de uso da ferramenta, identificando suas restrições e potenciais, para que inserida num cenário de processo contínuo de melhoria, possa ser disponibilizado a profissionais de engenharia uma ferramenta prática.
2. JUSTIFICATIVA
Com o avanço tecnológico experienciado pela sociedade moderna, é observado o surgimento de muitas ferramentas computacionais que se propõem a auxiliar os mais diversos campos profissionais. Porém, também é inquestionável a necessidade de validar essas ferramentas.
Mesmo programas consolidados podem apresentar falhas, utilizar-se de critérios de redundância pode ser uma estratégia adotada com o intuito de verificar os resultados e mitigar riscos de falhas críticas, principalmente em se tratando de dimensionamento de abastecimento e água, uma vez que falhas críticas não observadas na etapa de projeto podem acarretar prejuízos de variadas ordens, desde o aspecto financeiro até o risco de evento morte, ou mesmo comprometer a viabilidade do projeto.
Somado a isso, ferramentas como a planilha proposta por Meneses Filho (2023) podem ser utilizadas em ambientes acadêmicos durante disciplinas correlatas ao tema em cursos de graduação nas áreas de engenharia. Sendo, portanto, imprescindível que esta planilha tenha sido objeto de análise, onde avaliou-se sua capacidade de cálculo, transparência dos processos envolvidos e a experiência proporcionada ao usuário durante sua utilização.
Desta forma, identifica-se seus pontos positivos, para melhor explorá-los, assim como os pontos negativos para que sejam sugeridos ajustes necessários, quando possível, e adequarse nos casos que não são. Assim, subsidiar o efetivo aproveitamento desta ferramenta no processo de formações desses profissionais que irão atuar na linha de frente no processo de dimensionamento de sistemas de abastecimentos de água.
3. OBJETIVOS
3.1. GERAIS
Analisar a planilha de dimensionamento de rede malhada de abastecimento de água proposta pelo Prof. Me Anísio de Sousa Meneses Filho, bem como colaborar para o aperfeiçoamento da planilha em questão.
3.2. ESPECÍFICOS
Definir os principais conceitos envolvidos no processo de cálculo de dimensionamento de água em redes em anéis.
Identificar os principais programas utilizados para realizar o dimensionamento de rede malhadas de abastecimento de água.
Comparar resultados obtidos por simulações no programa de referência e na planilha analisada.
Indicar os aspectos de usabilidade observados que podem prejudicar a experiência dos usuários.
Propor melhorias a planilha analisada.
Apresentar uma versão aprimorada com as melhorias propostas já implementadas.
4. METODOLOGIA
Trata-se inicialmente de uma pesquisa cujo objetivo metodológico é essencialmente exploratório. Pois, inicialmente, pretende-se compreender a dinâmica dos processos envolvidos no dimensionamento de redes malhadas de abastecimento de água. Para que isso seja possível foi levantado vasto material na literatura existente e disponível. Portanto, contemplando, dentre outras fontes, livros, documentos científicos, manuais técnicos, normas técnicas, legislação etc.
Da fase exploratório foram elencados os principais programas utilizados para dimensionamento de redes de abastecimento de água. Feitas algumas considerações acerca dos programas e um destes foi utilizado como referência na análise da planilha. Sendo abordado as formas de aquisição, instalação e limitações técnicas apresentadas pelas plataformas analisadas.
Posterior a esse momento, foi adotado o procedimento de simulação, onde foram realizados dimensionamentos de redes de abastecimento de águas de 3 exemplos. Essas simulações foram realizadas em 2 ambientes. O primeiro ambiente se trata de um programa de uso já consolidado, neste caso o EPANET, e no outro ambiente trata-se da planilha eletrônica projetada por Meneses Filho.
Foi ponto de avaliação a experiência durante a operação dos programas pelo autor deste trabalho, onde foram observados a disposição dos dados, como é feita a inserção das informações necessárias, a forma como foram disponibilizados os resultados após a execução do dimensionamento, dentre outros aspectos que impacte na usabilidade dos programas. Ao término desta fase foram elencados pontos que são considerados merecedores de destaque. Estes pontos servirão de subsídio para a análise de usabilidade. Isto posto, verifica-se que foi desenvolvida uma pesquisa cuja abordagem do tema foi qualitativa.
Foram também verificados os valores dos resultados apresentados e comparados ao programa de referência. Desta maneira, possibilitou-se verificar a efetividade da planilha, quanto a sua capacidade de entregar resultados confiáveis. Ao término da pesquisa foi almejado que seja disponibilizada uma ferramenta, que dentro das suas limitações, seja confiável para o emprego no dimensionamento de redes malhadas, e assim proporcionar aos profissionais responsáveis por essa atividade uma alternativa computacional confiável. Bem como, ter uma ferramenta que possibilite dentro de um ambiente de aprendizado, realizar com facilidade simulações relacionadas ao tema, ao passo que compreende as etapas do cálculo envolvido. Desta maneira, fica clara a natureza aplicada deste trabalho.
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.
5.1. BREVE HISTÓRICO DA RELAÇÃO DAS CIVILIZAÇÕES E A ÁGUA
O acesso à água é certamente condição necessária para a manutenção da vida. E o homem enquanto ser vivo ou enquanto ser social não foge à regra. Assim sendo, ao longo da história existe uma relação direta entre o desenvolvimento da sociedade e os recursos hídricos. Essa perspectiva é evidenciada pelo desenvolvimento de civilizações nas proximidades desses corpos hídricos (rios, lagos, fontes, dentre outros).
Para Baptista e Cardoso (2013) o desenvolvimento da civilização está diretamente relacionado à água, tanto pelo espectro da necessidade deste insumo fundamental, quanto por motivos culturais e estéticos. Corroborando para essa tese, tem-se o fato de que no delta do Euphrates, por volta do VI milênio anterior à era cristã, ocorreu a transição da cultura essencialmente nômade para uma cultura de colonização permanente, segundo Viollet (2004, apud Baptista; Cardoso, 2021).
O processo de transição cultural comentado, também denominado de sedentarização, deu início ao surgimento de pequenas vilas, que paulatinamente desenvolveram-se e tornaram-se cidades, dando origem às primeiras civilizações urbanas. Ressalta-se que o uso dos corpos hídricos se deu para além da dessedentação, higiene pessoal, atividades artesanais e agrícolas, sendo estes também utilizados de forma a proporcionarem maior fluxo de atividades comerciais e de comunicações (Baptista; Cardoso, 2013).
Desde o surgimento das primeiras civilizações até os dias atuais é observada a tendência de as populações se concentrarem em áreas urbanas. Segundo estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas – ONU (2018), na década de 1950, cerca de 30% da população mundial vivia em áreas urbanas, ao passo que no ano de 2018 essa parcela da população é de cerca de 55%. O estudo aponta ainda para o cenário que o continente norte americano conta com cerca de 82% da sua população morando em ambiente urbano, o continente africano, por sua vez, apresenta o continente com menor percentual de indivíduos em área urbana, cerca de 43%.
No Brasil, tem-se o registro de uma tendência de acelerada migração da população rural para a urbana. De acordo com a Organização das Nações Unidas (2018a) no Brasil foi registrado 36,2 % da população em área urbana na década de 1950 e projetado um cenário no qual essa parcela da população atingiria a marca dos 87,1 % no ano de 2020. Como comparativo, no mesmo ano de 2018 a média dessa parcela populacional em regiões desenvolvidas seria de cerca de 78% (Organização das Nações Unidas, 2018a). O gráfico 1 demonstra essa evolução.
Gráfico 1 – Níveis e tendências de urbanização.
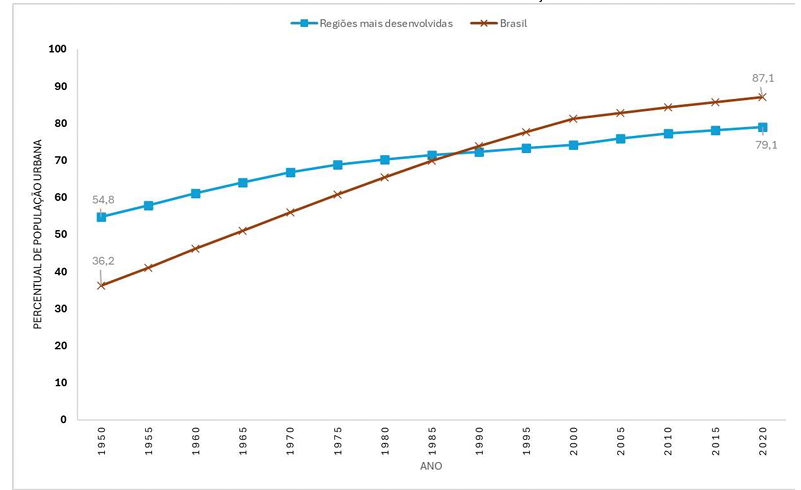
Fonte: Adaptado (ONU, 2018a)
Nas idades Antiga e Média, mesmo quando as áreas urbanas eram mais escassas, já se registravam reflexos diretos nos corpos hídricos. Ocupação de suas margens, poluição difusa, lançamento de resíduos de atividades de manufatura, de comércio e até mesmo cargas sanitárias são exemplos do impacto desta ocupação (Baptista; Cardoso, 2013).
A revolução industrial acentuou a precariedade das cidades e dos rios europeus na segunda metade do século XVIII, momento em que os rios passaram a abastecer aquelas indústrias, ao passo que recebiam cargas de resíduos com alta capacidade de contaminação Reynoso et al (2010). O resultado deste cenário foram epidemias de Tifo e Cólera, que assolaram a Europa no início do século XIX.
Diante da problemática mencionada, surgem então os preceitos higienistas, que representam forte mudança na compreensão da relação entre o meio urbano e as águas, declara Baptista e Cardoso (2013). No Brasil, a temática do saneamento começou a ser tratado no período colonial. A economia naquele período histórico era baseada na exploração dos recursos naturais, contudo, estas atividades geravam acúmulo de dejetos e resíduos que eram lançados no meio ambiente, demandando atenção da família real portuguesa (Graff, 2019).
As primeiras soluções apresentadas eram focadas em drenar áreas críticas e a construção de chafarizes públicos nas cidades, sendo o sistema de coleta de esgoto disponibilizado apenas a pequena parcela da população urbana, já no período da república (Graff, 2019).
Boëchat et al. (2021) destacam que é preciso ter atenção a falsa sensação que há disponibilidade de água para todas as necessidades humanas, sugerindo inclusive que essa condição decorre do fato de que cerca de 70% do globo é coberto por água, apesar de apenas 3% desta água ser doce. O manejo inadequado da água poderá reduzir ainda mais o percentual disponível para atendimento das necessidades humanas, logo a escassez da água vai além da disponibilidade de água, mas passa pelo espectro da qualidade (Boëchat et al., 2021).
Convergindo com esse pensamento, projeções estimam que no ano de 2050, mais da metade da população mundial irá passar por algum tipo de restrição severa de disponibilidade de água durante o ano, afirma Piesse (2010, apud Boëchat et al., 2021).
5.2. A EVOLUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL
Apesar da tímida iniciativa no período colonial e início da república, a estatização dos serviços de saneamento para comercialização ocorreu somente em meados da década de 1970, contexto em que ocorreram duas grandes guerras mundiais, redução da disponibilidade dos recursos minerais e aumento da parcela da população em condição de pobreza. Na ocasião foi elaborado o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, bem como as Companhias Estaduais de Saneamento Básico – CESB (Graff, 2019).
O PLANASA partia do princípio de que as empresas dedicadas ao saneamento fossem autossustentáveis sendo, portanto, capazes de gerir suas receitas de forma a executar as atividades que se propunham. Previu-se ainda os “subsídios cruzados” para aqueles municípios que não apresentam rentabilidade suficiente para execução do plano. As camadas mais ricas da sociedade realizando o custeio da expansão dos serviços de saneamento para áreas menos favorecidas é um exemplo desses “subsídios cruzados” (Sousa; Costa, 2016). Esse modelo de gestão centralizada teve boa eficácia inicialmente, porém, essa eficiência não perdurou com o passar do tempo.
Em 1992, estado Rio de Janeiro, foi realizado o evento denominado ECO-92, cujos objetivos estavam relacionados a discutir sobre o meio ambiente e à qualidade da água, sendo criado, naquela ocasião, um plano de ação de escala global que ficou conhecida como Agenda 21 (Graff, 2019).
Uma tentativa de implementação de uma nova política nacional de saneamento foi realizada em 1993, que se deu por meio da aprovação de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Contudo, essa legislação foi vetada em 1994 (Santos et al., 2018). Poucos anos depois, em 1997, tem-se a criação da Política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e, em 2001, a sanção do Estatuto das Cidades, por intermédio da Lei nº 10.257. O referido estatuto objetivou o desenvolvimento das cidades com mitigação dos impactos ao meio ambiente (Garvão; Baia, 2018).
No ano 2000, por intermédio da Lei 9.984 publicada em julho deste mesmo ano, foi criada a Agência Nacional de Águas – ANA, trata-se de uma autarquia federal, cuja finalidade é pôr em prática as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos indicadas na Lei nº 9.433/1997, e compor o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 2000).
A Lei nº 11.445/2007, conhecida como primeiro marco legal do saneamento, trouxe diversas alterações, destacando-se como ponto de divergência entre as legislações os aspectos relacionados aos investimentos necessários pela fornecedora para que fosse possível alcançar o nível de desempenho necessário e a regulação sobre os serviços prestados (Graff, 2019).
Graff (2019) destaca que a primeiro marco legal do saneamento categoriza em quatro grupos o conjunto de atividades, instalações, infraestrutura e serviços relacionados a saneamento:
• Abastecimento de água potável;
• Esgotamento sanitário;
• Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
• Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
A Lei nº 14.026/2020 alterou diversas disposições da Lei nº 11.445/2007. Conhecida como novo marco legal do saneamento, a Lei nº 14.026/2020 estipula prazos para a universalização de inúmeros serviços de saneamento, dentre estes se destacam abastecimento de água e esgotamento sanitário (Leite; Moita Neto; Bezerra, 2022)
5.3. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA
Definido por Gomes (2004) como sendo tudo que estiver relacionado com a atividade de levar água para os consumidores finais, independente da finalidade de uso.
Dacach (1975) destaca que cada unidade consumidora deverá receber água potável em quantidade suficiente, na pressão de uso adequada e a qualquer instante. Tsutiya (2006) complementa esse pensamento afirmando que o dimensionamento e a viabilidade de emprego de determinado sistema de abastecimento se darão em função de várias características da região. Destacando dentre estas: o tamanho da cidade, distância da região de captação e topografia.
Segundo Azevedo Netto et al. (1998), o dimensionamento de um SAA deve ainda considerar as projeções de desenvolvimento da região. O horizonte considerado nestas projeções geralmente orbita entre 10 e 30 anos.
Para Dacach (1975), por sua vez, afirma que o sistema é dividido em cinco partes. Sendo a primeira a captação, a segunda adução, a terceira tratamento, a quarta reservação e, por fim, a quinta a distribuição. Tsutiya (2006), por sua vez, apresenta divisão similar, mas com pequenas diferenças, pois considera que os Sistemas de Abastecimento de Água devem ser constituídos dos seguintes elementos:
• Manancial: corpo hídrico que proverá a água a ser utilizada no sistema, devendo minimamente dispor de vazão compatível com a demanda;
• Captação: equipamentos ou estruturas posicionados junto ao manancial para coleta da água;
• Estação elevatória: estruturas e equipamentos utilizados para elevar o nível da água para que esta possa chegar à etapa seguinte. Salienta o autor que este recalque pode ocorrer em diversos pontos do SAA, bem como com água bruta ou tratada;
• Adutora: sistema de canalização da água destinado a conduzi-la entres as unidades que ficam antes da rede de distribuição;
• Estação de tratamento da água: estruturas e processos existentes com o objetivo de adequar a água aos parâmetros de qualidade desejados;
• Reservatório: estrutura focada em regularizar as vazões no trecho compreendido entre a adutora e a distribuição. Também é utilizado para garantir os níveis de pressão desejados na rede de abastecimento;
• Rede de distribuição: parte final do SAA composto por tubulações e acessórios destinados a disponibilizar água ao usuário da rede, sendo esse fornecimento realizado de forma contínua e com parâmetros de qualidade e pressão recomendados.
Na Figura 1 ilustra uma representação gráfica da uma vista em planta de um exemplo de sistema de abastecimento de água, enquanto na Figura 2 ilustra a representação gráfica do perfil deste mesmo exemplo.
Figura 1 – Sistema de Abastecimento de Água – planta.
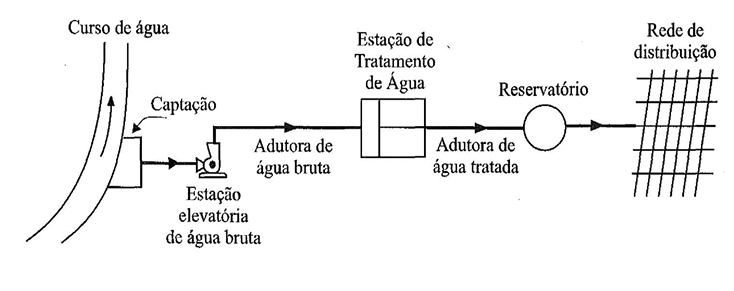
Fonte: (Tsutiya, 2006)
Figura 2 – Sistema de Abastecimento de Água – perfil.

Fonte: (Tsutiya, 2006)
5.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – RDA
Como a temática do trabalho está diretamente ligada a esta parcela do SAA, resta melhor compreensão do tema. A rede de distribuição de água representa um custo entre 50 e 70% do total de um SAA (Tsutiya, 2006) e Richter e Azevedo Netto (1991) a definem como a parcela do SAA que tem a responsabilidade de transportar a água até os pontos de consumo. Sendo esta rede composta essencialmente por tubos e acessórios especiais, tem como finalidade o fornecimento seguro de água em quantidade, qualidade e pressões adequadas a dispositivos normativos. Atualmente a norma que aborda a temática é a ABNT NBR 12218:2017.
As redes podem ser classificadas em função do tipo de canalização ou pela disposição destes (Tsutiya, 2006). No primeiro caso tem-se as seguintes classificações:
• Principal: também identificada como canalização mestra ou conduto tronco. Basicamente, trata-se dos tubos de maiores diâmetros que provêm água para a estrutura secundária;
• Secundária: tubos com diâmetro menor, esta parte da canalização tem o objetivo de abastecer efetivamente as unidades consumidoras.
Quanto ao critério da disposição das canalizações, tem-se as seguintes classificações:
• Ramificada;
• Malhada; • Mista.
Tsutiya (2006) apresenta ainda o conceito dos nós que, fundamentalmente, são os pontos onde há derivações e/ou alteração dos diâmetros das tubulações empregadas.
5.4.1. Redes ramificadas
Padovani (2019) destaca que a rede ramificada se caracteriza pela existência de uma tubulação principal cuja vazão apresenta sentido único e conhecido. A rede deste tipo se utiliza ainda de um sistema secundário de tubulações de diâmetros menores para distribuir este fluxo de água. Na Figura 3 é possível identificar o reservatório que antecede a rede de distribuição, e a disposição dos elementos que a compõem (rede principal, nós, rede secundária e pontas secas).
Figura 3 – Rede ramificada.
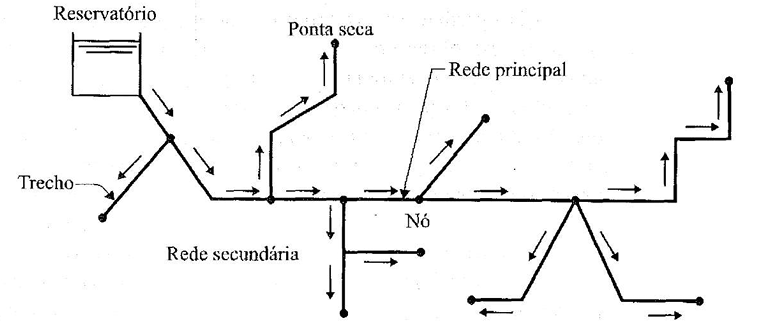
Fonte: (Tsutiya, 2006)
Tsutiya (2006) adverte para o fato que nas redes ramificadas, se por algum motivo, houver a interrupção do fluxo em algum ponto da rede, todos os trechos a jusantes desse ponto de interrompido serão desabastecidos. Isto posto, a sua utilização é recomendada para os casos em que uma eventual obstrução e o consequente desabastecimento de parte da rede geram impactos em menores escalas. Outra condição que poderá demandar esse tipo de rede é a inviabilidade de adoção de uma rede malhada.
5.4.2. Redes Malhadas
Este tipo de rede, em malha, é constituído por tubos principais que formam blocos ou anéis, de maneira que seja possível fornecer água por mais de um caminho em qualquer ponto da rede (Tsutiya, 2006). Ratificando esse conceito, Padovani (2019) define redes malhadas como sendo aquelas que são compostas por emaranhados de anéis de tubulações que possibilitam inúmeros caminhos possíveis para distribuição da água. A consequência dessa característica é menor impacto quando da manutenção da rede.
É possível observar, na Figura 4, que nas redes malhadas o sentido da vazão pode variar, possibilitando que cada ponto da rede possa ser abastecido de diversas maneiras. Deste modo, ao interromper o fluxo em um determinado ponto não necessariamente ocorrerá o comprometimento dos trechos a jusante, como ocorre nas redes ramificadas.
Figura 4 – Rede malhada.
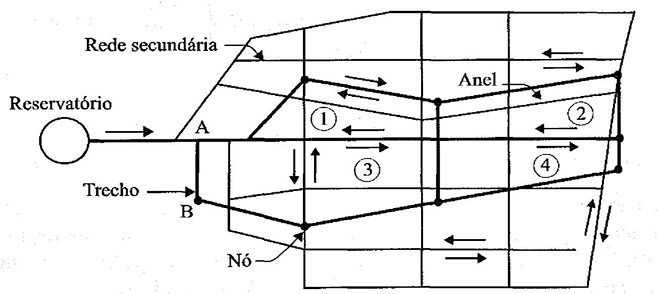
Fonte: (Tsutiya, 2006)
5.4.3. Redes Mistas
A rede mista constitui uma combinação das redes ramificadas e redes malhadas Tsutiya (2006). A Figura 5 ilustra um exemplo de rede mista, onde são observáveis características de ambos os tipos de rede. Desta forma, as características da rede dependerá da região da rede observada.
Figura 5 – Rede mista.
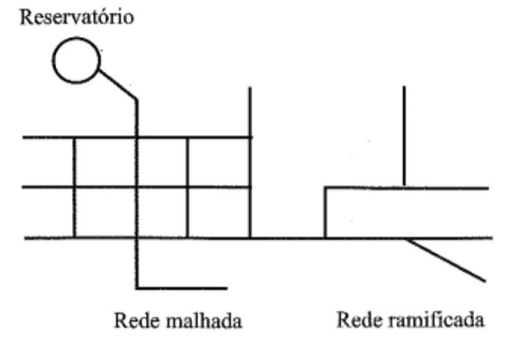
Fonte: (Tsutiya, 2006)
5.5. DIMENSIONAMENTO DE REDES MALHADAS
Dentre os três modelos de redes, é no modelo de rede malhada que reside o foco deste trabalho, deste modo, a compreensão da dinâmica envolvida no dimensionamento deste tipo de rede é fundamental. Padovani (2019) alerta para a complexidade envolvida nesse processo de dimensionamento e atribui essa condição ao desconhecimento inicial do sentido que os fluxos assumirão nos anéis formados. Tsutiya (2006) complementa, afirmando que o dimensionamento, sob a perspectiva de custo mínimo, é uma tarefa trabalhosa, uma vez que muitos dados são requeridos e precisam ser levantados, sendo ainda necessário o uso de ferramentas computacionais.
Tsutiya (2006) afirma que o dimensionamento, propriamente dito, utiliza-se de soluções aproximadas, onde se considera um pequeno valor de erro e utiliza-se da estratégia de interações matemáticas até que se atinja a precisão almejada. O autor ainda cita que os métodos mais populares são os métodos do seccionamento e de cálculos interativos.
O primeiro é indicado para verificação de linhas secundárias e para o dimensionamento das redes de pequenas cidades. Consiste em “converter” uma rede malhada em ramificada, considerando que alguns trechos estão seccionados, e supor que a água irá percorrer o menor caminho possível desde o reservatório.
O segundo, método do cálculo interativo, admite que o número de incógnitas na equação é uma função da quantidade de trechos existentes, e sua resolução exige o número igual de equações simultâneas. Os métodos mais difundidos para solucionar interativamente são: correção de vazões (Hardy-Cross) e Linearização (matricial) (Tsutiya, 2006).
5.5.1. Método Hardy-Cross – MHC
Desenvolvido no ano de 1936, o método se utiliza do conceito de gradiente local para encontrar uma solução. Trata-se de um método de fácil cálculo manual, porém apresenta menor estabilidade nos casos em que a rede apresenta número significativo de malhas. Essa instabilidade poderá surgir em função da escolha dos anéis para o balanceamento de energia (Formiga; Chaudhry, 2008).
Este método é adotado para dimensionamento da canalização principal. Quanto aos condutos secundários, é adotado o diâmetro mínimo exigido e extensão máximas que variam entre 300 e 500m (Tsutiya, 2006).
Tsutiya (2006) indica duas formas de aplicação deste método:
• Por compensação de perda de cargas: modalidade menos utilizada, em que se adota uma distribuição de pressão (considerando as perdas de cargas) e então são calculadas as vazões.
• Por composição das vazões: situação inversa à anterior. Esta modalidade tem maior aplicação, e nela são assumidos valores para as vazões e então são estimadas as perdas de cargas da rede.
Porto (2006) propõe que equações simultâneas que surjam durante o emprego deste método devam contemplar duas condições básicas a fim de garantir o equilíbrio do sistema, sendo elas:
Condição 01: conhecida como lei dos nós, é baseada na lei fundamental de conservação das massas, onde se tem a condição de que a somatória das vazões em cada nó deverá resultar em zero. Condição representada na Figura 6.
Condição 02: conhecida como lei das malhas, é alicerçada na conservação de energia em um sistema fechado e preconiza que deverá ser zerado o somatório das perdas de cargas em cada malha ou anel. Na Figura 6 tem-se a convecção a ilustração das convenções adotadas, segundo Porto (2006).
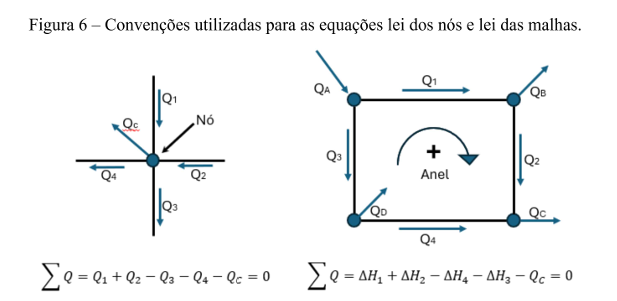
Fonte: Adaptado (Porto, 2006)
Porto (2006) afirma também que dentre os métodos de aproximações sucessivas, o método de Hardy Cross se sobressai face à possibilidade de desenvolvimento manual dos cálculos. Afirma ainda, o autor, que se trata de um método cheio de significado físico, elencando alguns pressupostos que devem ser considerados quando da elaboração de projeto e traçado da rede. São eles:
a) Conversão de vazões por unidade de área em vazões pontuais;
b) A distância entre dois nós será o comprimento do trecho a ser dimensionado quando conhecida a topografia da região. Nos casos em que já existe especificação do diâmetro, a distância entre os nós será o comprimento do trecho que serão determinadas as pressões e vazões nas extremidades;
c) Há vazão constante nos trechos que formam os anéis em detrimento da distribuição em marcha;
d) Considera-se como conhecidos os pontos em que há entrada ou saída de água do sistema (reservatório, adutoras e nós dos anéis), bem como as respectivas vazões;
e) São estimados valores hipotéticos de vazões (Qa) pelos trechos dos anéis, iniciando esse processo dos pontos de alimentação, e seguindo por toda a rede. Durante essa etapa, deve-se observar a equação da continuidade;
f) Uma vez conhecidos o diâmetro, o fator de atrito e o comprimento do trecho, calcula-se as perdas de cargas estimadas em todos os anéis. Se como resultado deste cálculo for observada a condição de somatória das perdas de cargas igual a zero, tem-se uma rede equilibrada e as vazões estabelecidas estão corretas;
g) Se observada em pelo menos um dos anéis somatória de perda de carga diferente de zero, deverá ser procedida a correção da vazão estimada. Essa situação é observada com maior frequência.
Porto (2006) propõe ainda que a correção da vazão estimada para cada trecho seja corrigida. Para isso deve-se somar algebricamente a vazão admitida com um fator de correção ΔQ. Este fator de correção é dado pela Equação 1, cujo resultado é expresso em litros por segundo:

Fonte: (Porto, 2006)
Onde k é um fator que incorpora coeficiente de rugosidade e características geométricas da tubulação. Sendo o valor de k determinado pela equação 2. Q0 indica a vazão hipotética em litros por segundo no início da iteração e n assume o valor de 1,852 quando utilizada a relação de Hazen-Williams e n assume o valor de 2 quando se tratar da relação de Darcy-Weisbach. (Meneses Filho, 2023).
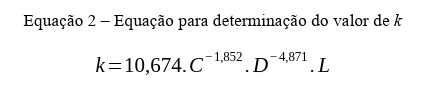
Fonte: (Meneses Filho, 2023)

5.6. O USO DE AUXÍLIO COMPUTACIONAL PARA DIMENSIONAMENTO DE REDE MALHADA
Quanto maior a complexidade da rede malhada, mais trabalhoso será obter resultados adequados. Para casos mais complexos é indispensável o auxílio computacional (Porto, 2006).
Dentre as ferramentas já disponíveis para realização desta tarefa destacam-se REDEM.EXE, WATERCAD, SISTEMA UFC e EPANET.
5.6.1. Programa REDEM.EXE
Utilizando uma interface em Visual Basic e linguagem matemática em Quick Basic o programa possibilita a verificação ou dimensionamento de uma rede de até 100 trechos utilizando-se do método Hardy Cross. O programa possibilita indicar mais de um reservatório, contudo, limita-se a um sistema puramente gravitacional. O programa possibilita ainda a definição da resistência pela equação pela fórmula universal ou de Hazen-Williams (Porto, 2006).
5.6.2. Programa WATERCAD
Desenvolvido pela empresa Bentley Systems® o programa possibilita a modelagem hidráulica, da qualidade da água e da operação, sendo observados algumas vantagens funcionais em relação aos seus concorrentes, bem como destacada a sua generosa capacidade de integração com outros programas, e sua capacidade de reconhecer arquivos da plataforma AutoCAD, da plataforma GIS e até mesmo planilhas eletrônicas (Diuna; Ogawa, 2015).
Diuna e Ogawa (2015) afirma ainda que o programa se utiliza de simulações hidráulicas estáticas e dinâmicas por meio do método do Gradiente. Através do uso de interações o modelo estima as velocidades em cada trecho, bem como as respectivas cotas piezométricas.
5.6.3. Sistemas UFC
Desenvolvido no Laboratório de Hidráulica Computacional (LAHC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), trata-se de um conjunto de programas criados utilizando-se de diversas linguagens de programação. Cada um desses programas realiza uma atividade relacionada ao traçado e dimensionamento de redes de abastecimentos, adutoras e redes sanitárias (Diuna; Ogawa, 2015).
Segundo Diuna e Ogawa (2015), o principal objetivo destes sistemas é a criação de um arquivo compatível com a plataforma EPANET, sendo ainda suprida a principal demanda do EPANET, que é integrá-lo a programas como ArcGIS e AutoCAD.
Os autores destacam ainda que o sistema é dividido em sete módulos que objetivam o dimensionamento de adutoras, sistemas de recalque, microdrenagem urbana e esgotamento sanitário, etc. Sendo os seguintes módulos relacionados a rede de abastecimento de águas:
• UFC2: Módulo dedicados a modelagem da rede e/ou da adutora em .dwg e a transferência destes dados para o EPANET;
• UFC3: Módulo do traçado do perfil das adutoras, da linha de recalque e das ligações da rede de água e esgoto, sendo também gerador de quantitativos das redes traçadas;
• UFC4: Este módulo foca em estabelecer os diâmetros adotados ao longo da rede em conformidade com a NBR 12218/2017, bem como otimizar esses diâmetros com vistas a obter o menor custo.
Diuna e Ogawa (2015) frisam que o módulo UFC4 se utiliza de dois métodos distintos para dimensionar as redes, sendo o primeiro baseado na velocidade máximas e nas pressões mínima e máxima, e o segundo método envolve um algoritmo genérico que busca o menor diâmetro que atenda às condições de vazão e pressão previamente estabelecidas.
5.6.4. EPANET
Programa de código aberto desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental norte americana (Environmental Protection Agency – EPA), cujo objetivo principal é realizar simulações hidráulicas e da qualidade da água e, tratando-se de programa de código aberto, está sujeito a modificações por usuários mais experientes (Kellner, 2022).
Diuna e Ogawa (2015) salientam que o programa conta com distribuição gratuita desde 1993 e possui código aberto. Sendo, assim, disponibilizado na forma de programa executável e na forma de biblioteca dinâmica. A versão executável é direcionada para aqueles que apenas desejam executar os cálculos hidráulicos, ao passo que a biblioteca dinâmica é disponibilizada para aqueles que desejam proceder análises que envolvam otimização, vazamentos e calibração.
Segundo Kellner (2022), algumas melhorias seriam muito bem-vindas ao EPANET. Melhorias estas que podem ser divididas em dois grupos principais:
• Melhorias de integração: diretamente relacionado a integração com outros Sistemas que contemplem informações geográficas, programas de modelagem, como AutoCAD, ou até mesmo planilhas eletrônicas.
• Melhoria de funcionalidades básicas: a indisponibilidade da função desfazer a última ação é um exemplo deste grupo.
Dentre as inúmeras versões que surgiram em função de modificações realizadas, há uma delas que se trata da versão brasileira do programa. Esta versão foi desenvolvida pelo Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica Sanitária em Saneamento – LENHS, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Diuna; Ogawa, 2015).
Diuna e Ogawa (2015) elencam as principais ferramentas disponibilizadas pela versão nacional deste programa. São elas:
• Quantidade ilimitada de elementos da rede;
• Cálculo das perdas locais;
• Modelagem da qualidade da água;
• Uso de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach ou Chazy-Manning para determinação das perdas de cargas;
• Cálculo de energias e custos de bombas, bem como sua modelagem;
• Modelagem de reservatório de nível fixo ou de nível variável;
• Possibilidade de modelar os principais tipos de válvulas;
• Possibilidade de emprego uma ou várias condições de operação do sistema de simples controle.
Segundo Diuna e Ogawa (2015), o EPANET se utiliza do método do gradiente para viabilizar os cálculos interativos das simulações hidráulicas dinâmicas ou estáticas.
Kellner (2022) enfatiza que dos arquivos gerados por uma simulação no EPANET, destacam-se aqueles com 4 tipos de extensões: .INP, .HYD, .OUT e . RPT. A dinâmica da relação existente entre as extensões está representada na Figura 7 e detalhadas a seguir:
Figura 7 – Tipos de relatórios gerados pelo EPANET.
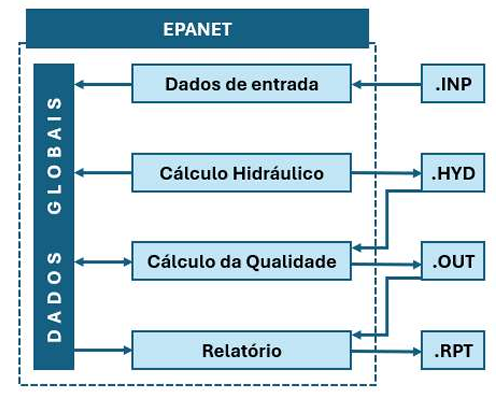
Fonte: (Kellner, 2022)
• .INP: arquivo que recebe as informações iniciais da rede a ser simulada. Tem seu conteúdo analisado e é armazenado em uma área comum da memória.
• .HYD: é responsável pelos cálculos da simulação hidráulica, considerando o intervalo de tempo ou momento definido. Tem seus resultados armazenados de maneira não formatada em um arquivo.
• OUT: fruto de uma simulação da qualidade da água. Uma vez que essa simulação é solicitada, o programa acessa os dados contidos no arquivo HYD, calcula questões relacionadas ao transporte de substâncias e reações ocorridas em cada intervalo de tempo em toda a rede.
• .RPT: basicamente é o módulo que acessa os dados não formatados (OUT) e gera relatórios formatados. Nestes relatórios também são informadas mensagens de aviso ou eventuais erros que possam ter ocorrido durante a execução da simulação e geração do relatório.
A versão do EPANET que faz uso do idioma português, escrito e falado do Brasil, é uma realização do Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica de Saneamento (LENHS). O laboratório é parte integrante do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba.
5.6.5. Planilhas eletrônicas.
Prado (2023) define planilha eletrônica como sendo “um caderno mágico, capaz de transformar um amontoado confuso de informações em uma tabela organizada e de fácil compreensão. Permitindo que se tome decisões envasadas em dados precisos”. Ressalta, ainda, que são muitos os motivos do sucesso desta ferramenta. Elencando como razões para esse sucesso:
• Grande flexibilidade: permite fazer cálculos, previsões e análises. Usando para isso dados numéricos, tabelas e gráficos.
• Fácil integração com outras ferramentas: dentre as conexões possíveis tem-se com banco de dados e outros programas de cunho orçamentário/financeiro.
• Fácil operação: em pouco tempo a maioria das pessoas conseguem utilizar, além de vasto material de auxílio no meio virtual.
• Grande capacidade de armazenamento de dados: podendo concentrar em um único arquivo, sem necessidade de ter múltiplas fontes de dados.
• Personalizáveis: podem ajustar-se à necessidade de cada usuário.
Algumas atividades profissionais são fortemente dependentes do emprego de planilhas eletrônicas, dentre elas Prado (2023) destaca a engenharia. Embasado em sua afirmação na necessidade inerente a essa profissão da realização de cálculos com elevado grau de complexidade e analisar dados.
Santos et al. (2023) salientam que a modelagem matemática e a obtenção de soluções numéricas geralmente envolvem repetição de processos de cálculos simples, criando condição favorável para o uso de planilhas eletrônicas como ferramenta auxiliar. Os autores frisam ainda que o domínio desta ferramenta é imprescindível aos profissionais de engenharia.
Prado (2023) alerta para que o uso dessa poderosa ferramenta seja feito observando algumas limitações. Citando como exemplo de limitações:
• Escalabilidade: o uso de uma grande base de dados pode acarretar lentidão durante a operação da planilha, podendo atingir níveis de lentidão que dificultam sua utilização.
• Precisão: falhas humanas podem comprometer os resultados obtidos. A inserção incorreta dos dados ou uso equivocado de fórmulas comprometerão os resultados.
• Segurança: o fácil acesso aos dados inseridos nas planilhas pode deixa os dados vulneráveis. Logo, deverá certificar-se que somente usuários com autorização tenham acesso ao arquivo.
• Confiabilidade: quanto maior a complexidade, maior serão as chances de resultados menos confiáveis.
• Manutenção: quanto mais usuários operando o mesmo arquivo e quanto maior a complexidade, maiores serão as chances de demandar manutenção no arquivo, sendo necessário certificar-se que os operadores estão devidamente orientados.
Conseguinte as considerações feitas acima, é de fácil compreensão a busca desta ferramenta para o dimensionamento de redes malhadas de distribuição de água. Meneses Filho (2023) juntou as expressões matemáticas e processo de busca estruturada envolvidas nesse processo de dimensionamento em uma planilha eletrônica criada por meio do programa Microsoft Excel® na sua versão do ano 2023. O autor ressalta que o acesso à barra de fórmulas por parte do usuário permite a exploração do processo de cálculo que envolve o algoritmo. A referida planilha de Meneses Filho (2023) é justamente o objeto de análise deste trabalho, onde serão analisadas a experiência proporcionada ao usuário, bem como sugerir atualizações para que se tenha uma ferramenta melhorada.
5.7. PRINCIPAIS ASPECTOS NORMATIVOS PARA DIMENSIONAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou em julho do ano de 1994 a NBR 12218:1994. Esta norma traz como objetivo estabelecer as normas a serem exigidas para a elaboração de projetos relacionados a redes de distribuição de água para abastecimento público. No ano de 2017 a referida associação publicou uma atualização para a referida norma (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2017).
A ABNT apresenta no item 5 da NBR 12.218:2017 quais são os requisitos específicos necessários para elaboração de um projeto com a finalidade de abastecimento público de água. Dentre as exigências apresentadas destacam-se aqueles apresentados nos itens:
• 5.2.7 Apresenta os valores 1,2; 1,5 e 0,5 para os coeficientes k1, k2 e k3, respectivamente, quando estes não estiverem disponíveis para área dimensionada;
• 5.3.1 Estabelece que as pressões mínimas de serviço devem ser a nível do terreno de 100kPa. Chegando ao valor máximo de 500kPa para terrenos íngremes, e 400kPa como valor máximo para terrenos não acidentados. Recomenda-se ainda neste item a adoção de pressões estáticas no intervalo de 250kPA e 300kPa;
• 5.3.3.1 Se apresentadas justificativa técnica e/ou econômica, serão admitidas pressões dinâmicas menores que as mínimas e estáticas maiores que que as máximas;
• 5.6.2 Estabelece que o diâmetro nominal mínimo a ser adotado nos condutos secundários é de 50mm;
• 5.6.3 Devem ser adotados método de Hazen Williams ou da equação universal para dimensionamento dos condutos;
• 5.6.4 A velocidade mínima de projeto deve ser de 0,40m/s, ao passo que a máxima perda de carga não deve exceder a marca dos 10m/km;
• 5.6.6 Determina que o dimensionamento deve ser realizado por simulações hidráulicas, e que nestas a simulações os valores residuais máximos obtidos para cargas piezométricas seja de 0,5 kPa e para vazão de 0,1L/s;
• 5.8.2 Recomenda-se que os pontos de mediação e controle da rede contemplem uma extensão máxima de tubulação de 25km e atenda até 5000 ligações;
• 5.9.4 Que o setor de manobra, englobe o máximo de 500 ligações e tenha uma extensão máxima de tubulação de 3km.
6. ANÁLISE CRÍTICA DA PLANILHA MENESES FILHO E COMPARAÇÃO COM PROGRAMA EPANET
Inicia-se essa etapa com ressalva de que o presente trabalho não tem como finalidade identificar erros, mas sim validar e apresentar pontos passíveis de melhoria da referida planilha. Desta forma, disponibilizar uma opção de ferramenta prática e confiável para profissionais e estudantes de engenharias. Isto posto, dar-se início ao processo de análise e comparação propriamente dito.
Faz-se necessário também indicar que o uso do EPANET se limitou a simulação das situações tomadas como exemplos para esta análise. Situações estas que envolvem o dimensionamento de rede malhada de abastecimento de água com um único reservatório. E, uma vez que não é o ponto focal deste trabalho, não houve aprofundamento nas funcionalidades desta ferramenta que não são correlatas ao objetivo aqui apontado.
O equipamento computacional onde procedidos os testes conta com as seguintes especificações: Processador Intel® Core™ i5-12500H 2.50 GHz, 24GB de memória RAM DDR5 de 4800MHz, Placa gráfica dedicada NVIDIA® GeForce RTX 3050 de 4GB DDR6. A referida máquina contou com o sistema operacional da empresa Microsoft® na edição Windows 11 Pro e versão 23H2.
6.1. FORMA DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO.
O EPANET, por se tratar de um programa de código aberto, não possui custo de aquisição. A cópia utilizada para este trabalho foi a versão 2.0 e obtida diretamente da Universidade Federal da Paraíba – UFPB por meio do endereço eletrônico: https://ct.ufpb.br/lenhs/contents/menu/assuntos/epanet.
Não foram localizadas informações acerca dos requisitos mínimos de hardware ou mesmo de sistema operacional para instalação do EPANET no manual do usuário, quer seja na versão original de ROSSMAN (2002), quer seja na versão traduzida e adaptada pelo Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento da UFPB. O processo de instalação seguiu os processos descritos por KELLNER (2019). Não foram verificadas quaisquer dificuldades no processo de instalação da referida aplicação.
Quanto à planilha do Prof. Me. Anísio de Sousa Meneses Filho, uma das formas de obtenção dela se dá pelo acesso ao endereço eletrônico disponível por meio do QR Code, indicado na Figura 8, publicado no ano 20213 no Manual de utilização da planilha de cálculo para o dimensionamento e verificação de rede de distribuição de água (configuração em anéis).
Não há custo direto de aquisição do referido arquivo, mas para que haja o acesso efetivo a esta ferramenta por não se tratar propriamente de uma aplicação executável e sim de uma planilha eletrônica, é imperativo salientar sua dependência em relação ao programa Excel®, preferencialmente em sua versão presente no pacote Office 365 ou versão superior. Esta aplicação, por sua vez, não é de acesso gratuito e conta com a necessidade da aquisição de licença.
Não obstante, há de se frisar que o referido programa já é significativamente disseminado e largamente utilizado, dada sua versatilidade. Logo, é seguro afirmar que não há grandes dificuldades em acessar um computador que conte com este programa.
Ponto importante a ser mencionado é que durante o processo de execução da planilha em uma recém-instalada do Excel, cujas configurações estavam na condição padrão, houve a necessidade de habilitar a execução das macros e a ferramenta “Solver”. Uma vez realizado o procedimento de habilitação, não houve a necessidade de repeti-lo nos demais acessos à planilha.
Figura 8 – QRCode para acesso a planilha indicada por Meneses Filho
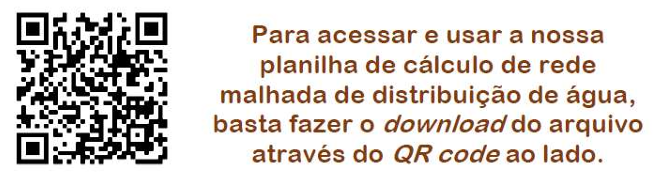
Fonte: Meneses Filho (2023)
6.2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO.
Nesse tópico foram abordadas as telas que as aplicações apresentam, apontando para assuntos relevantes para aqueles que pretendem utilizá-las, como disposição dos comandos e das ferramentas necessárias para execução do cálculo de dimensionamento. Verificando se os diferentes elementos estão devidamente identificados e dispostos de forma lógica e intuitiva.
Iniciando pelo EPANET, tem-se a tela inicial representa na Figura 9 onde é possível observar o menu horizontal, opções de comando, a indicação da forma que é determinado o comprimento do trecho, unidade de vazão, coordenadas do ponto e por fim o visualizador.
Figura 9 – Detalhes da interface do EPANET
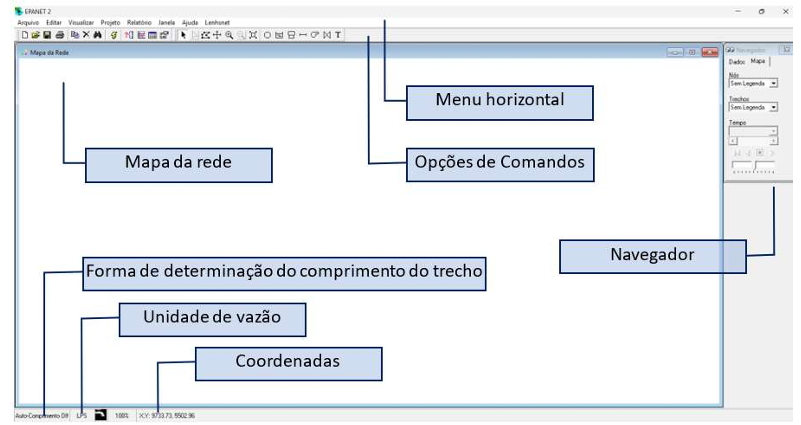
Fonte: (Elaboração própria)
As ferramentas necessárias para modelagem no EPANET estão dispostas na barra “Opções de comando”. Para as condições preconizadas para este projeto foram utilizados essencialmente os comandos: reservatório de nível constate, nó, tubulação e etiqueta. A Figura 10 traz a identificação destas ferramentas no ambiente EPANET.
Figura 10 – Indicação na interface do EPANET dos principais elementos utilizados no estudo.
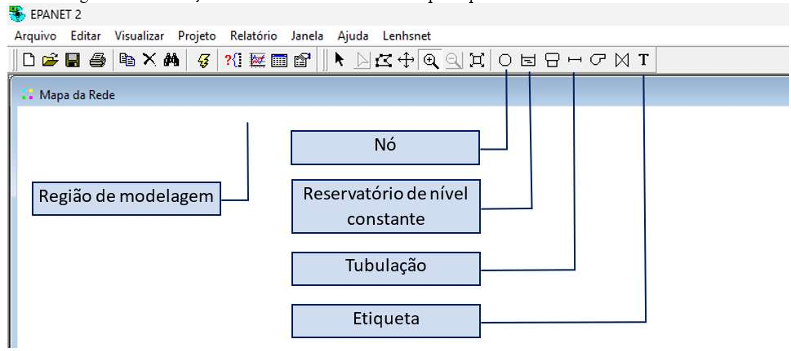
Fonte: (Elaboração própria)
Os resultados das simulações, por sua vez, são dispostos em forma de tabelas como a ilustrada na Figura 11.
Figura 11 – Janela do EPANET com resultados de uma simulação
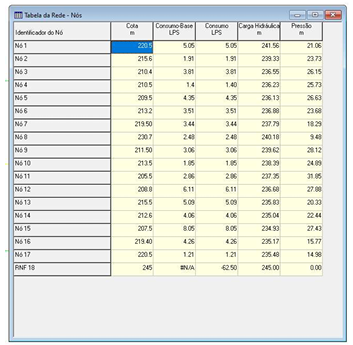
Fonte: (Elaboração própria)
Ao analisar a planilha verifica-se que esta apresenta diferenças viscerais em relação ao EPANET. Sua tela inicial apresenta maior conjunto de informações e ferramentas, dada a condição já apresentada de que esta ferramenta se utiliza do Excel® para ser viabilizada. Contudo, há inúmeras ferramentas e comandos que não serão necessários para utilização da referida ferramenta.
A Figura 12 apresenta a disposição geral dos comandos e informações que são exibidas na tela quando a planilha está sendo operada. Dos pontos de interesse, destacam-se a barra de menu, a barra de ferramentas, a barra de fórmulas, a área de inserção de dados e visualização de resultados e, por fim, o botão para execução do dimensionamento.
Figura 12 – Apresentação da interface da planilha de Meneses Filho
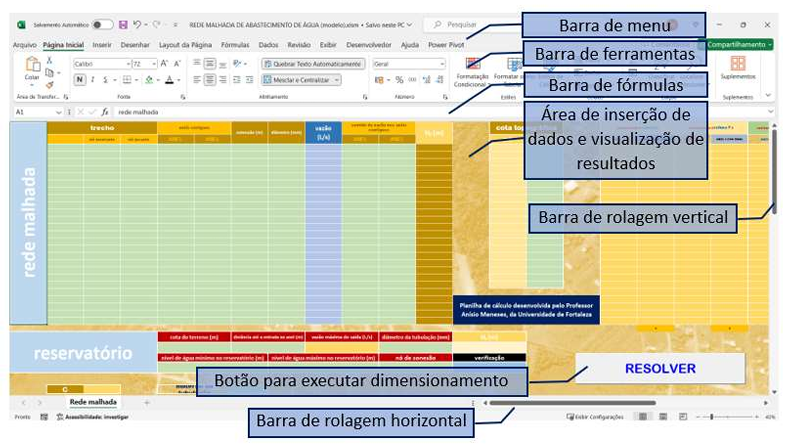
Fonte: (Elaboração própria)
Observa-se também que a área de inserção de dados e visualização é zoneada, de forma a compartimentar os dados que são referentes aos nós, aos trechos, às vazões etc. A Figura 13 retrata parcialmente como é esse zoneamento. Sendo necessário apenas fazer uso das barras de rolagens vertical e horizontal, para percorrer por esta área e assim ter acesso à seção desejada.
Figura 13 – Agrupamento dos dados em seções na planilha

Fonte: (Elaboração própria)
Há ainda a seção que representada pela Figura 14 que indica a perda de carga de cada trecho dos anéis, de forma a verificar se o valor máximo residual piezométrico não supera o valor de 0,5 kPa preconizado pela NBR 12.218:2017.
Figura 14 – Captura de tela contendo as perdas de cargas por anel detalhado por cada trecho
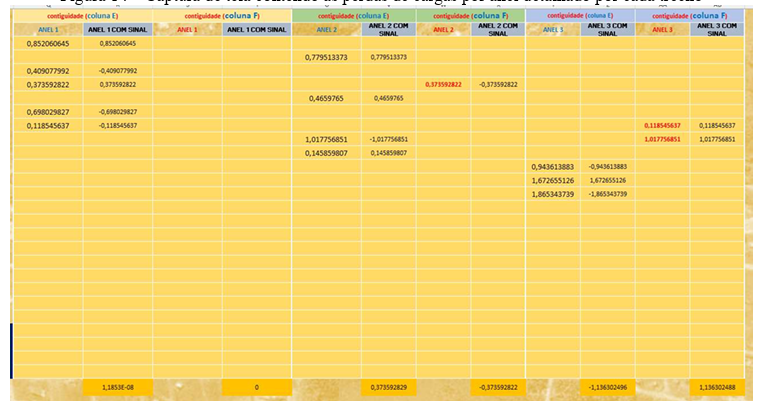
Fonte: (Elaboração própria)
A Figura 15 e Figura 16, por sua vez, representam respectivamente as seções que relacionam as vazões que chegam ou saem de cada trecho, detalhando essa informação por nó, onde cada linha representa um trecho da rede e cada coluna um nó. Ao final de cada quadro, tem-se os totais, sendo ainda informado no quadro das vazões que chegam a vazão advinda do reservatório. Já na seção das vazões que saem, além do somatório das vazões que seguem para outros nós, na última linha estão os valores das vazões de consumo (Qc).
Figura 15 – Captura de tela contendo as vazões que chegam a cada trecho detalhado por nó
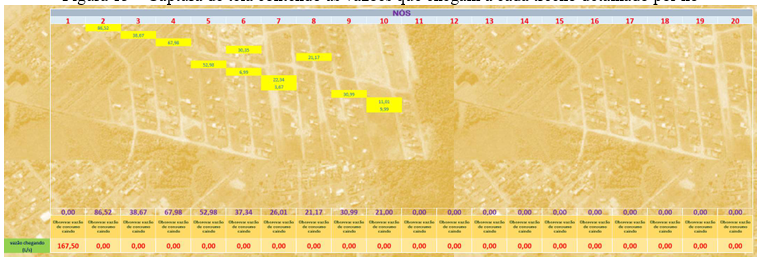
Fonte: (Elaboração própria)
Figura 16 – Captura de tela contendo o quadro vazões que saem de cada trecho detalhado por nó

Fonte: (Elaboração própria)
A planilha apresenta também seções dedicadas a exibir as perdas de cargas estimadas para cada nó, Figura 17, e para cada trecho, figura 18, que foram dimensionados.
Figura 17 – Captura de tela contendo o quadro de perdas de cargas detalhadas por nó.

Fonte: (Elaboração própria)
Figura 18 – Captura de tela contendo o quadro de perdas de cargas detalhadas por trecho.
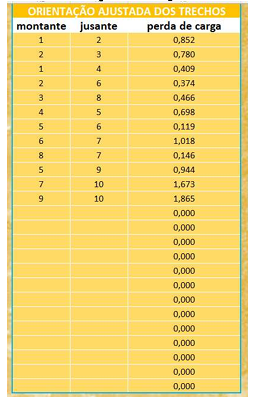
Fonte: (Elaboração própria)
A planilha contempla também a visualização gráfica das referidas pressões estáticas e dinâmicas. A Figura 19 se trata de uma captura de tela modelo de gráfico extraído da referida planilha a fim de exemplificar. Note que no eixo das abscissas estão os nós analisados, ao passo que no eixo das ordenadas tem-se os valores das pressões obtidas.
Figura 19 – Captura de tela contendo apresentação gráfica das pressões nos nós
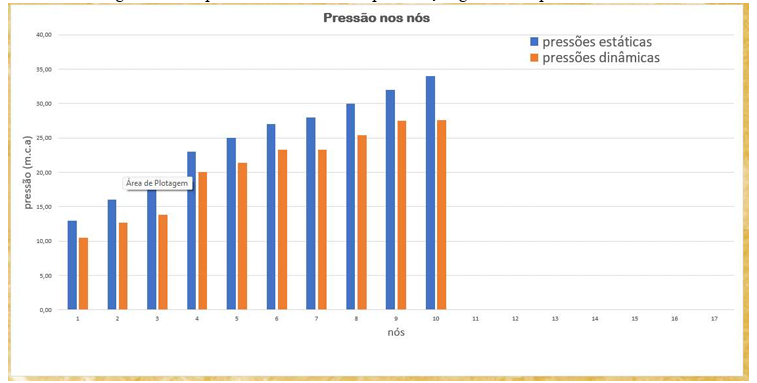
Fonte: (Elaboração própria)
Uma última seção disponível na planilha está representada na Figura 20. Trata-se de alguns dados complementares relacionados aos diâmetros comerciais, extensão total de tubulação e estimativa de custo da rede.
Figura 20 – Captura de tela contendo informações complementares ao dimensionamento
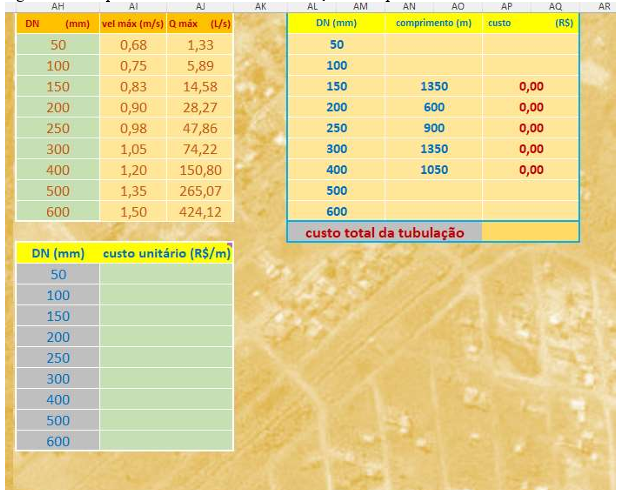
Fonte: (Elaboração própria)
6.3. FACILIDADE DE USO E CLAREZA.
No tópico anterior foram apresentadas as interfaces de cada ferramenta é indicado onde estão dispostos os principais comandos em cada uma destas. Também foram tratados de quais resultados cada uma apresenta, bem como onde estão dispostos. Nesta fase será analisada a facilidade de uso e a clareza que cada uma das ferramentas apresenta.
A ressalva a ser feita para esta análise é que há um nível de subjetividade que deve ser considerado. Não indicando, no entanto, a forma correta ou incorreta, o melhor ou pior. Apenas, estão sendo apresentadas algumas considerações acerca de cada ferramenta.
A facilidade com que são inseridos os dados e a forma que são apresentados os resultados são características analisadas nesta etapa. Também foram objetos de verificação a clareza dos rótulos, cabeçalhos e títulos. Buscando verificar se estes auxiliam efetivamente ao usuário da ferramenta no processo de compreensão do dado solicitado ou da finalidade de seção, bem como na interpretação dos resultados obtidos.
Iniciando a análise pelo programa de referência, EPANET. Neste programa, antes de iniciar o processo, é salutar informar alguns parâmetros hidráulicos previamente. Desta forma, à medida em que os nós, reservatórios e trechos são inseridos, valores padrões já são atribuídos. Um exemplo de um atributo que pode ser previamente indicado é o coeficiente de rugosidade (C). Assim todos os trechos que forem inseridos na rede já contarão com esse valor. Aqueles que eventualmente forem diferentes, podem ser ajustados posteriormente. Outros parâmetros hidráulicos importantes também podem ser previamente definidos, conforme necessidade do projeto.
Os valores parâmetros hidráulicos utilizados para cálculo do EPANET podem ser acessados na barra de menu horizontal, clicando no menu “Projeto” e selecionando “Opções de simulação”. Na janela que será aberta, cuja representação encontra-se na Figura 21, poderá ser verificado os parâmetros padrões utilizados pelo programa. Sendo possível ajustá-los conforme a necessidade do projeto. Porém, foram mantidos os valores padrões a saber: unidade de vazão em litros por segundo, perda de carga calculada pelo método de Hazen Williams e erro máximo de convergência de 0,001.
Figura 21 – Janela de opções hidráulicas do EPANET
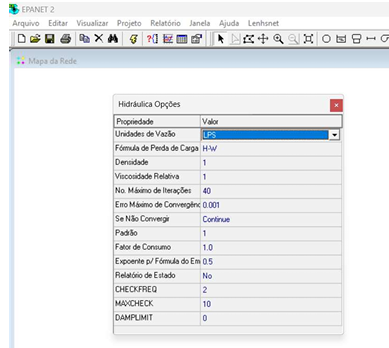
Fonte: (Elaboração própria)
Após a definição dos parâmetros hidráulicos e de cálculo, inicia-se o processo de modelagem propriamente dito. Para tal, são utilizadas as ferramentas: “Adicionar reservatório de volume fixo” indicado com RNF no ícone , adicionar nó cujo ícone é e adicionar trecho . Todas estas ferramentas estão disponíveis na barra “opções de comandos”, como já indicado na Figura 10 do item 4.2 deste trabalho.
Ao clicar em adicionar RNF ou adicionar nó e em seguida clicar na região do mapa da rede serão inseridos os elementos que estes representam. Para a inserção dos trechos é necessária a existência de nós e reservatórios para que o trecho a ser inserido faça a ligação destes elementos previamente posicionados. Logo, sugere-se a sequência de implementação do reservatório, dos nós e por fim dos trechos. Informação importante a ser considerada é que o EPANET conta com a ferramenta de coordenadas. Isso acarreta o fato de que ao inserir um trecho este assume como extensão a distância que separa os pontos de montante e jusante. Todavia, essa distância pode ser ajustada diretamente na caixa de propriedade do trecho em questão. Uma vez posicionados os elementos que compõem a rede analisada, deve-se ter uma situação similar a apresentada na Figura 22.
Figura 22 – Interface do EPANET com uma rede modelada
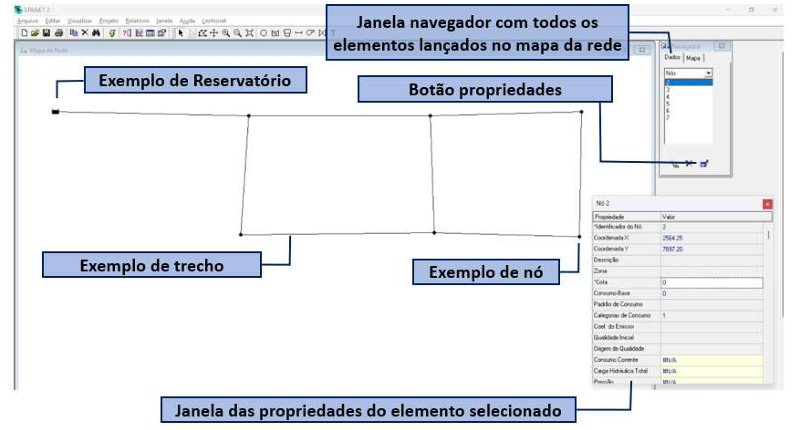
Fonte: (Elaboração própria)
A etapa seguinte constitui-se de definir as propriedades de cada elemento. Sendo necessário selecionar o elemento ou utilizar-se da janela de navegação para ter acesso a janela de propriedades, onde serão realizados os ajustes. Para cada tipo de elemento, minimamente alguns dados devem ser verificados. Para o reservatório apenas o parâmetro “Nível da água” deve ser indicado. Para cada um dos nós, deve-se verificar os parâmetros “cota” e “consumo Base”. Na propriedade dos trechos, é necessário indicar em cada um destes os parâmetros: “Comprimento”, “Diâmetro” e “Rugosidade”. Verifica-se que nesta etapa do dimensionamento na janela propriedade não há a indicação de qual unidade de medida cada informação deve ser inserida. No exemplo dos parâmetros dos trechos, temos o campo comprimento. Este dever ser informado em metros ou quilômetros? Já o campo “diâmetro”, deve ser em metros ou milímetros? Essa condição essa pode dificultar a compreensão do que está sendo solicitado ao usuário da ferramenta, e consequentemente no uso equivocado desta.
Uma vez que todos os elementos foram inseridos e seus parâmetros ajustados, faz-se necessário a execução da simulação da rede. Para isso, é necessário o uso da opção “Executar simulação”. Este comando está disponível em dois lugares no menu “Projeto” ou na barra
“opções de comando” com o ícone . Se os resultados obtidos estiverem dentro dos critérios pré-configurados deverá ser exibida a caixa de texto indicada na Figura 23, caso contrário uma mensagem de advertência será exibida, similar ao da Figura 24, onde é indicado que houve algum problema com a simulação e que a situação deve ser verificada.
Figura 23 – Janela de indicação de simulação bem-sucedida.
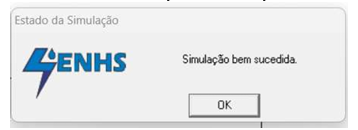
Fonte: (Elaboração própria)
Figura 24 – Janela com mensagem de erro em simulação.
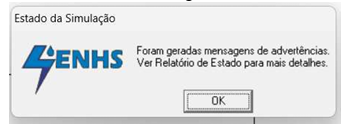
Fonte: (Elaboração própria)
Após corrigir eventuais problemas com a simulação, pode-se acessar os resultados obtidos opção “Tabela” no menu “Relatório”. Esta funcionalidade também está disponível por meio do botão “Tabela”, na barra “Opções de Comando”, cujo ícone é . Ao acioná-la deverá ser indicado se deseja uma tabela que contemple os dados referentes aos nós da rede ou os trechos desta.
Uma vez indicada o tipo de tabela, o usuário terá que verificar quais dados deverão constar na forma de colunas, conforme as opções retratadas na Figura 25. Sendo opções para o tipo “Nós de Rede”: Cota, Consumo-base, Qualidade Inicial, Consumo, Carga Hidráulica, Pressão e Qualidade. Para as tabelas do tipo “Trechos da Rede” são opções de coluna para o referido tipo: Comprimento, Diâmetro, Rugosidade, Coef. R. Escoamento, Coef. R. Parede, Vazão, Velocidade, Perda de Carga, Fator de Atrito, Taxa de Reação, Qualidade e Estado. Ainda nessa janela é possível a aplicação de filtro na guia “Filtro”, contudo não se trata de uma funcionalidade relevante para este trabalho.
Figura 25 – Janelas acessadas para visualização de tabelas de resultados no EPANET.
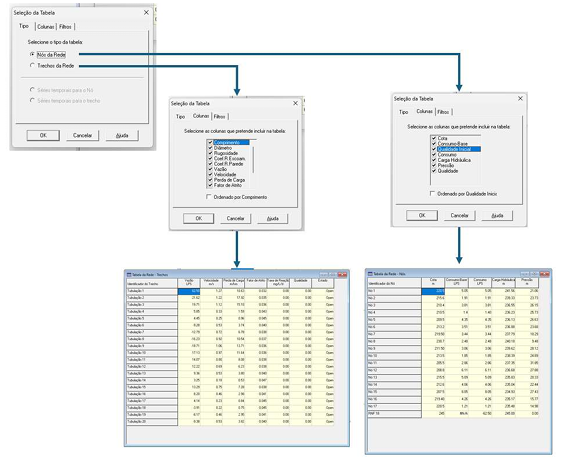
Fonte: (Elaboração própria)
Outra forma de visualizar os dados inseridos e os resultados obtidos com a simulação é acessando o menu “Visualizar” no item “opções”. Nestas janelas é possível ajustar as configurações de visualização do mapa da rede. Utilizando opções como cotas, numeração dos nós, espessura de trecho, setas de sentido de fluxo etc. Dessa maneira, o mapa da rede poderá ajustar-se melhor à necessidade de análise da rede. Na Figura 26 é ilustrada uma das possibilidades de apresentação do mapa da rede.
Figura 26 – Mapa da rede com opções de visualização modificados.
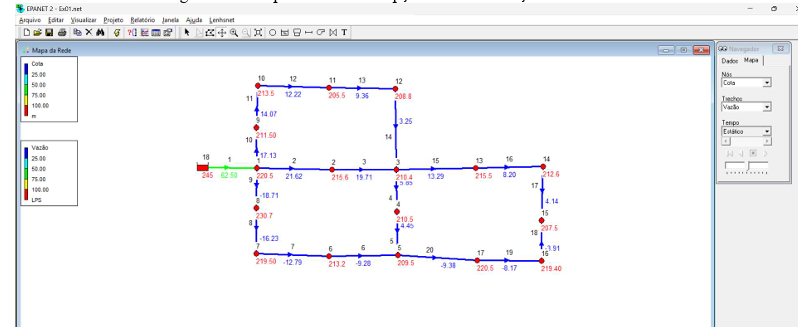
Fonte: (Elaboração própria)
O processo de dimensionamento com o uso da planilha do Professor Anísio de Sousa Meneses Filho consiste basicamente em alimentar as tabelas existentes em cada seção. Sendo a seção inicial a que trata dos trechos, cujo título da tabela desta seção está ilustrado na Figura 27. Necessitando ser indicado a ordem do trecho, seus nós de jusantes e montante, o anel ou anéis que integra na rede, extensão, diâmetro da tubulação e, por fim, uma indicação prévia do sentido de fluxo em relação ao anel analisado. Ainda na Figura 27 é possível verificar a seção seguinte que se refere às cotas dos nós. Portanto, deve ser informado conforme a tipologia da rede.
Figura 27 – Títulos das tabelas dos trechos e das cotas na planilha.
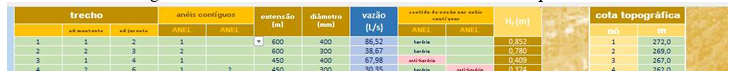
Fonte: (Elaboração própria)
Na sequência de informação dos dados da rede, há a necessidade de indicar os valores referentes ao reservatório. Essas informações consistem nos valores referentes a cota, a distância até o anel que é conectado, diâmetro da tubulação, níveis máximo e mínimo de água, bem como indicar ao qual nó da rede o reservatório se conecta. A Figura 28 além de representar a seção referente ao reservatório, também contempla o campo referente ao material da tubulação empregada na rede analisada, onde é possível observar que o usuário seleciona o material e planilha e automaticamente é indicado qual o coeficiente de rugosidade (C) adotado nos cálculos.
Figura 28 – Seção com dados do reservatório.

Fonte: (Elaboração própria)
Por fim, a última informação necessária para a execução do dimensionamento refere-se às vazões de consumo de cada nó, que devem ser informadas na última linha do quadro existente na seção que trata das vazões que saem dos nós, conforme é ilustrado na Figura 29.
Figura 29 – Células utilizadas para indicar as vazões de consumo.

Fonte: (Elaboração própria)
Após a correta alimentação da planilha com esses dados referente ao reservatório, nós e trechos a planilha está em condição de acionar o botão “Resolver” para que este possa executar o dimensionamento e estimar os valores de vazão e pressão que atendam as condições de convergência impostas pela NBR 12.218/2017 e abordados no item 5.10 deste trabalho. A planilha, ao concluir os cálculos solicitados, já apresenta os valores das tabelas considerando os resultados obtidos. E em função dos resultados é atribuído ao campo “verificação” o valor “PRESSÕES SATISFATÓRIAS”, como exemplificado na Figura 28 é apresentado em detalhe na Figura 30 ou “PRESSÕES FORA DO INTERVALO PERMITIDO”.
Figura 30 – Detalhamento do campo de verificação.

Fonte: (Elaboração própria)
Após a compreensão das formas de dimensionamento nas plataformas estudadas é imperativa a necessidade de traçar um comparativo entre estas. Desta forma é possível identificar pontos de semelhança e pontos de diferença. Uma vez que se tem esses pontos elencados há maior capacidade de sugerir melhorias para a planilha analisada.
No que diz respeito aos pontos comuns, pode-se afirmar que as ferramentas compartilham de uma mesma sequência lógica, onde são informados os elementos da rede e seus parâmetros, em seguida executa-se a simulação e, por fim, examinam-se os resultados aferidos. Esses resultados são confrontados com as normas vigentes ou com a demanda de projeto. Quando as condições impostas não são atendidas, alteram-se os parâmetros de projetos e uma nova simulação é feita. Repetindo este processo até que se atinja o resultado esperado. Uma representação simplificada da sequência no programa EPANET é retratada na Figura 31, ao passo que a Figura 32 refere-se ao mesmo processo quando executado na planilha eletrônica.
Figura 31 – Fluxograma do processo de cálculo no EPANET.
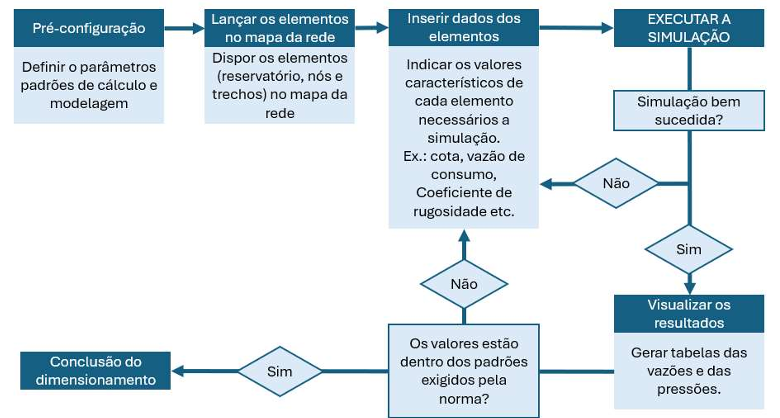
Fonte: (Elaboração própria)
Figura 32 – Fluxograma do processo de cálculo na planilha analisada.
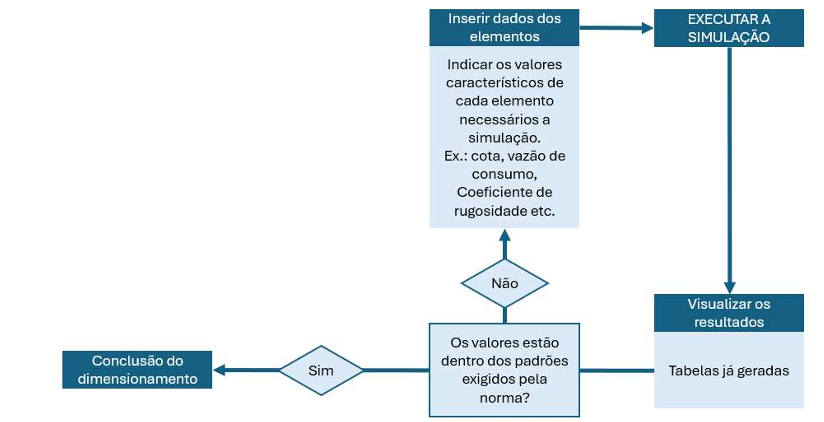
Fonte: (Elaboração própria)
Observa-se nos fluxogramas o fato que essa sequência cria o fluxo de cálculo em sentido único. Desta forma, não é possível, por exemplo, informar a pressão desejada em um dado nó e a aplicação faça o ajuste nos demais parâmetros como “cota”, “diâmetro”, “nível mínimo da água” etc.
Ainda sobre os pontos comuns, é possível destacar o fato de que nenhuma das plataformas apresenta em sua interface a indicação das etapas necessárias à execução da simulação desejada. Esta condição poderá suscitar dificuldade de compreensão do usuário da ferramenta. Ressalta-se que, apesar de a planilha contar com alguns comentários feitos pelo autor nos títulos das tabelas, estes não estão relacionados ao sequenciamento do processo de cálculo. Uma análise focada das instruções e documentação também faz parte do escopo deste estudo e está apresentado com maior detalhamento mais adiante.
Sobre as divergências, alguns pontos foram observados. Dentre eles, destaca-se o fato demonstrado na ilustração das sequências lógica da simulação, representadas nas Figura 31 e Figura 32. Nota-se que apesar de seguirem a mesma sequência lógica, a planilha apresentou maior simplificação do processo de inserção dos dados e visualização dos resultados.
Outra situação simples identificada como a necessidade de uso do ponto (.) como separador decimal no EPANET, ao passo que a planilha se utilizava de vírgula (,) para cumprir com essa função. Essa condição acabou dificultando um pouco a utilização do EPANET, dado a distância imposta pela disposição da tecla ponto (.) das teclas numéricas utilizadas para informar os valores necessários para o cálculo.
Uma outra característica observada na etapa de inserção dos dados durante processo de modelagem da rede utilizando o EPANET constituiu uma barreira à fluidez. Para realizar esta inserção há necessidade de eventualmente ter que selecionar o elemento, abrir a janela de propriedades, selecionar o campo que se deseja atribuir um valor, para enfim inserir o valor desejado. Para executar esta mesma tarefa na planilha é necessário apenas selecionar a célula desejada e inserindo o valor pretendido. E nas situações em que esses campos eram sequenciados na mesma coluna, o uso da tecla “enter” para consolidar a inserção do valor informado, já deixava o cursor em condições de inserir o valor da linha seguinte. Esse sequenciamento dos dados em linhas de uma mesma coluna é uma condição comum em tabelas, logo a planilha apresentou maior praticidade na fase de inserir os dados.
Também foi observado como uma diferença entre as ferramentas o fato de que para inserir os dados na planilha há a necessidade de numerar os anéis da rede, bem como estimar o sentido do fluxo da água ao longo da rede. O EPANET, por sua vez, não demanda essa informação. Sendo o sentido do fluxo indicado automaticamente pela aplicação.
6.4. ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO VISUAL.
Diberto (2023) destaca a importância do uso estratégico de cores nas interfaces das aplicações digitais. Segundo o autor, o uso das cores é condição fundamental e de impacto direto na experiência vivenciada pelo usuário. O uso de uma paleta de cores adequada poderá proporcionar maior legibilidade, destacar pontos importantes e, por fim, tornar a operação da aplicação mais fluida e intuitiva. Isto posto, este tópico tem como objeto central a análise das cores utilizadas nas aplicações estudadas. Para isso, foram verificados alguns quesitos, a saber: contraste, acessibilidade, significado, uniformidade e compatibilidade com impressão.
Os aspectos considerados mais relevantes estão elencados a seguir.
6.4.1. Contraste
No EPANET foi observado que em geral os textos apresentam a cor azul escura ou preto, sendo este último predominante. As cores de fundo, por sua vez, foram cinza claro, branco e amarelo claro, conforme demonstrado na Figura 33. A combinação das cores apresenta um bom contraste e possibilitam uma leitura fácil.
Figura 33 – Exemplo da janela das propriedades dos nós no EPANET.
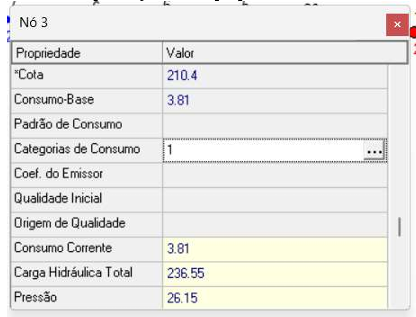
Fonte: (Elaboração própria)
Na planilha foi observada uma situação diferente. Cores mais intensas foram utilizadas tanto como plano de fundo quanto para os textos. Em alguns casos foram obtidos bons contrastes e que proporcionaram uma fácil leitura. Foram também identificados outros casos que não foram tão assertivas essas combinações. Alguns exemplos estão ilustrados na Figura 34.
Figura 34 – Exemplos de condições de contrastes na planilha.
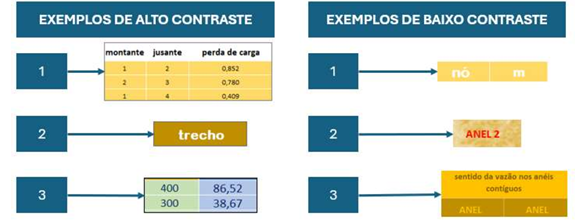
Fonte: (Elaboração própria)
6.4.2. Acessibilidade
Ao falar de cores e acessibilidade é inevitável abordar a temática do daltonismo. Braga (2015) indica que cerca de 8% da população masculina é portadora dessa condição. Ainda segundo o autor, estima-se que 90% desses casos estão relacionados à percepção da cor verde. A deficiência da cor vermelha, contempla cerca de 9% da população daltônica. E a deficiência para o azul é o caso menos comum, que representa cerca de 1% dos casos. Braga (2015) alerta ainda para a condição em que é comum o uso das cores verdes e vermelhas para indicar situações favoráveis e/ou de alerta. Porém, essa prática pode comprometer a experiência do usuário, dado que essa diferença de cor pode não ser efetivamente compreendida. O autor sugere ainda o uso de ícones e símbolos, como forma de contornar essa circunstância.
Dado que significativa parcela da população tem dificuldades na percepção das cores, em especial verde e vermelho entende-se que é necessária maior atenção ao uso destas cores. O emprego de textos em verde em um fundo vermelho, ou o inverso, texto vermelho em fundo verde deve ser evitado, pois poderá ser uma barreira a pessoas portadoras de daltonismo.
Ao analisar o programa de referência, EPANET, não foram observadas situações como esta. Porém, na planilha foram identificadas algumas células com o preenchimento na cor verde e texto na cor vermelha, conforme captura de tela apresentada na Figura 35.
Figura 35 – Exemplos de condições críticas a portadores de daltonismo.
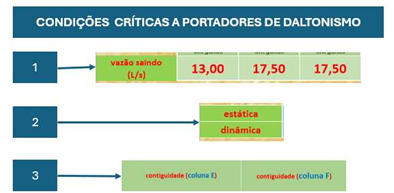
Fonte: (Elaboração própria)
6.4.3. Significado das cores
Uma estratégia interessante que pode ser utilizada ao desenvolver interfaces utilizando-se cores é empregá-las de forma a identificar os tipos de dados que estão sendo solicitados ou exigidos. Desta forma o operador poderá ter maior facilidade em compreender as informações em tela, identificando os locais em que são relacionados a entrada de dados, a títulos de tabelas, textos auxiliares, resultados de comandos executados etc. Para que essa estratégia seja mais efetiva é interessante manter a consistência e deixar orientar ao usuário.
No EPANET em geral, foi observado que se utiliza como padrão a fonte do texto na cor preta e o fundo branco para os campos em que há possibilidade de alguma interação por parte do usuário, que seja para entrada de dados, quer seja para selecionar dentre uma lista de opções.
Para campos que não possibilitam interações o texto, continua na cor preta, mas o plano de fundo passa a ser na cor cinza, como no caso dos menus e títulos dos campos, ou amarela para os casos em que se trata de uma informação calculada pelo programa, havendo, porém, a necessidade de se fazer uma ressalva para situações como a que está representada na Figura 35.
Na Figura 36 é possível ver que ao acessar a janela “Editar” de um determinado nó, tem-se duas colunas, sendo título da primeira “Propriedade” e da segunda “Valor”. Observa-se ainda que na coluna “valor” uns campos apresentam fundo amarelo, outros na cor cinza e apenas um campo apresenta fundo branco.
Figura 36 – Demonstração das cores utilizadas no EPANET.
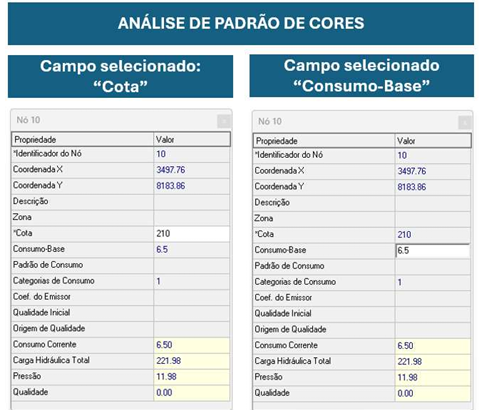
Fonte: (Elaboração própria)
Aqueles que contam com fundo amarelo seguem a regra geral, portanto trata-se de valores calculados pelo programa e não estão disponíveis para edição pelo usuário. Dos demais campos, apenas um deles apresenta o fundo branco. Esta condição poderá induzir o usuário ao entendimento que apenas este campo de fundo branco é editável. O que não é verdade, pois ao clicar em outro campo na cor cinza, este muda de cor. Assumindo cor branca e ficando apto a edição por parte do usuário. Logo, não fica tão evidente quais
Com relação a planilha foi identificado o emprego de apenas um padrão de cor para as células que são destinadas à entrada de dados. Contudo, a padronização limitou-se apenas em relação a cor de fundo. Como exemplificado pela Figura 37 a cor do texto não apresentou padronização. Também é observável que a cor verde foi utilizada em outras células, porém em tonalidades diferentes.
Figura 37 – Demonstração das cores utilizadas na planilha.
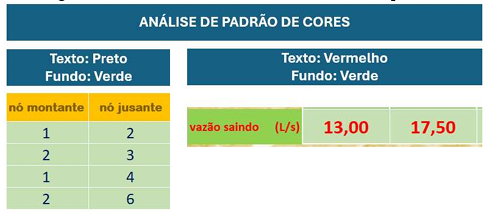
Fonte: (Elaboração própria)
O EPANET, por utilizar o padrão largamente seguido em interfaces de várias outras aplicações, acaba por se manter intuitivo, mesmo sem instrução prévia relacionada a padrão de cores. No caso da planilha, que foge à regra geral e utiliza outro padrão de cor, entende-se como propositiva a inserção da orientação direta contemplando uma mensagem similar a “Preencha apenas os campos com o fundo verde claro”.
6.5. ACESSO ÀS FÓRMULAS UTILIZADAS NO CÁLCULO.
A necessidade de profissionais de engenharia aptos a dimensionar redes de abastecimento de água suscita a demanda por ferramentas que possam auxiliar nesse processo. Nesse contexto, ferramentas como o EPANET e a planilha de Meneses Filho (2023) são opções a serem utilizadas, inclusive no processo de formação destes profissionais. Em ambiente acadêmico esses programas podem ser utilizados como instrumentos auxiliares na compreensão da dinâmica envolvida no cálculo em questão. Logo, é importante verificar se as fórmulas utilizadas nesse processo de cálculo estão acessíveis ao usuário.
Com relação ao EPANET, não foi identificado dentro do ambiente da aplicação informações acerca do processo de cálculo. A operação em geral consistiu basicamente em modelar a rede, ajustar as propriedades dos elementos, simular e analisar os resultados. Não sendo possível verificar como os dados interagem entre si.
A planilha por sua vez, por se utilizar da Excel, conta com opções que podem dar maior compreensão do cálculo realizado. Isso decorre do fato que o Excel possui nativamente elementos como a “Barra de fórmulas” e ferramentas de “Auditoria de Fórmulas”. A Figura 38 apresenta uma captura de tela contemplando estes elementos e, na imagem, é possível verificar qual função/fórmula foi utilizada para cálculo da perda de carga referente ao trecho compreendido entre o reservatório e nó 1. Também estão destacadas as setas posicionadas pelo próprio Excel para indicar visualmente onde estão localizados os valores utilizados no cálculo.
Figura 38 – Demonstração das cores utilizadas no EPANET.
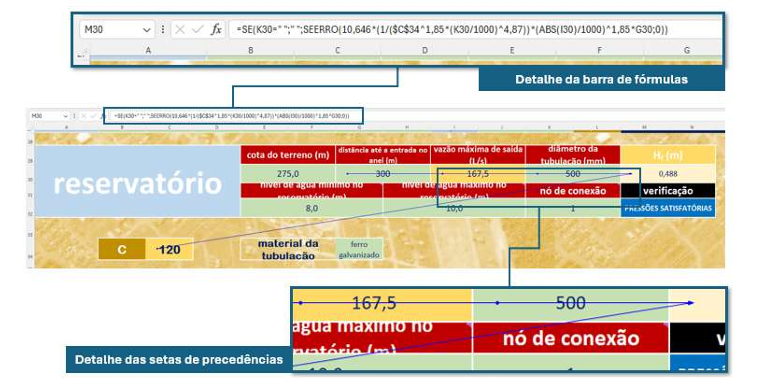
Fonte: (Elaboração própria)
6.6. VERIFICAÇÃO DOS DADOS E TRATAMENTO DOS ERROS
É natural que durante a operação de programas computacionais haja algum nível de falhas, dentre as falhas comuns é a tentativa de inserção de valores incompatíveis com o dado solicitado. Por exemplo, a cota é um dado de natureza numérica, não devendo ser, portanto, informado para este o valor na forma de texto.
Outra situação de verificação a ser feita acerca dos dados inseridos é a coerência com a prática. Para compreender melhor pode ser analisado o campo diâmetro. Por mais que seja possível informar um valor aleatório como 173mm e, ainda que, este seja matematicamente aceitável, poderá não haver coerência com o mundo prático. Pois é possível que não haja disponibilidade desse material no mercado. Logo, direcionar o operador para valores já padronizados de mercado é uma forma de verificar os dados inseridos. E, uma vez que esses dados não conformes são inseridos, o comportamento que o programa assume também é ponto passível de análise.
No EPANET foi simulada a tentativa de inserção de caracteres não numéricos no campo “cota”. O resultado obtido, a exceção do ponto (.) e do sinal negativo (-), foi que o programa simplesmente não reagiu ao comando permanecendo inalterado. Quando simulado a inserção de um diâmetro de 263mm, diâmetro não comercial, o EPANET admitiu o valor, atribuindo este a tubulação selecionada. Durante a realização de outras simulações não foram geradas condições de erro. Mas, o Quadro 1, relaciona alguns exemplos de códigos de erros existentes no EPANET e sua respectiva descrição, conforme Rossman (2009).
Quadro 1 – Exemplos de códigos de erros apresentados no EPANET
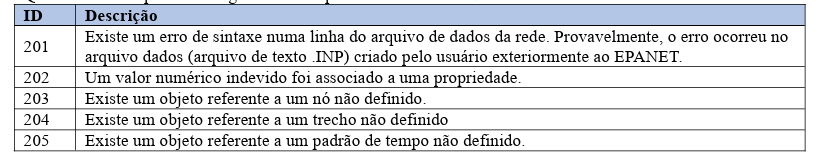
Fonte: Adaptado de Rossman (2009).
Quanto à planilha, foi realizada a mesma simulação. Ao tentar inserir valor “a” no campo cota, este admitiu o valor e atribuiu o valor inserido ao ponto selecionado. Quando ao campo diâmetro, também foi possível atribuir o valor de 263mm ao trecho selecionado, mesmo não sendo um valor comercial. E mesmo com valores de natureza incompatível com campo, como no caso da cota com valor “a”, a acionar o botão “Resolver” a planilha não retornou nenhuma mensagem de erro.
Contudo foi observado que outros campos como o “nó de conexão” da seção reservatório, assim como o campo “anéis contíguos”, “sentido de vazão nos anéis contíguos” e “material da tubulação” foi utilizada a ferramenta de validação de dados do Excel. Assim, caso algum valor fosse informado fora do padrão especificado, era acionada uma caixa de mensagem com a indicação de erro. A Figura 39 apresenta uma captura de tela dessa mensagem, após tentar inserir o número de um nó inexistente na rede simulada.
Figura 39 – Janela de erro apresentada pela ferramenta de validação de dados.
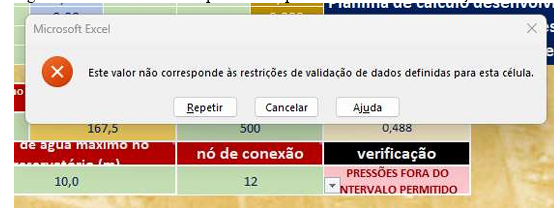
Fonte: (Elaboração própria)
6.7. ADAPTABILIDADE E CAPACIDADE DE CÁLCULO
A capacidade que as aplicações aqui estudadas têm de simular diferentes exemplos também foi objeto de análise, pois é importante identificar suas capacidades e limitações.
Com relação ao EPANET, Rossman (2009) afirma que não há limitação da quantidade de elementos que compõem a rede, portanto o fator limitante é a capacidade computacional disponível. Quanto à adaptabilidade, o programa mostrou-se extremamente versátil pois, além da ilimitação da quantidade de elementos empregados na rede, também não foram identificadas limitações da quantidade de anéis formados. Destaca-se que outros elementos também estão disponíveis para o dimensionamento de redes de abastecimento de água. A exemplo disso: bombas, válvulas, reservatório de volume variável etc.
A planilha, na versão analisada, apresenta limitações mais claras. Meneses Filho (2023) apresenta as capacidades de acomodação dos elementos que compõem a rede a ser dimensionada, sendo os limites máximos de 20 nós, 25 trechos e 1 reservatório de nível fixo com conexão a um único nó da rede. Também são identificadas como restrições a formação de até 3 anéis e a utilização de um único material por toda a rede. Porém, é necessário frisar que a planilha analisada consegue atender a grande maioria dos casos práticos. Para os casos que demandem quantidade de elementos que superem os limites originais da planilha é possível a expansão da sua capacidade, conforme exposto no manual do usuário.
6.8. DOCUMENTAÇÃO E INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
Cerutti (2023) define a documentação como um agrupamento de informações relacionadas às características de funcionamento e requisitos de um programa. O autor destaca ainda alguns objetivos da documentação. Dentre tais objetivos figuram a orientação acerca do uso adequado do programa por parte dos usuários finais e subsidiar a manutenção e evolução ao longo do tempo. Garousi et al. (2013, apud Pinto 2021) comungam desta linha de pensamento e afirmam que a documentação é item de elevada significância tanto para a utilização quanto para o desenvolvimento de qualquer programa.
Em auxílio a documentação propriamente dita, alguns mecanismos de instruções acessíveis na própria interface do programa podem ser considerados boas práticas, pois permite ao usuário acesso rápido a informação sobre a forma correta de utilizar o programa, garantindo deste modo maior fluidez durante a operação. Podem ser citados como exemplos: textos auxiliares, links para a documentação, menu de ajuda, vídeos de instrução etc.
Analisando o EPANET sobre essa perspectiva, verifica-se que este programa conta com publicações dedicadas a orientar a correta utilização e características do programa. Na Figura 40 estão ilustrados os principais documentos que tratam do tema. Logo, nota-se que a aplicação conta com vasto material de apoio para orientar sua correta utilização.
Figura 40 – Principais publicações sobre orientações de uso do EPANET.
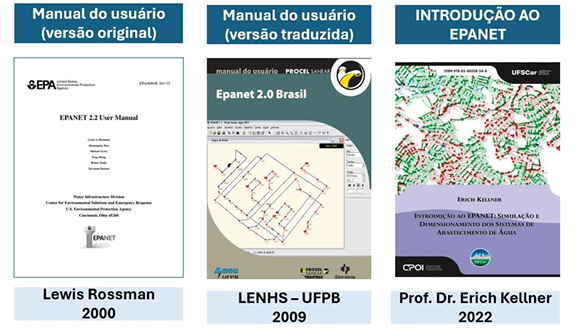
Fonte: (Elaboração própria)
Verificando as orientações na própria interface do programa, observa-se a existência do menu “ajuda”. Este apresenta as opções: Índice, Unidades, Novidades, Tutorial e Sobre. Ao tentar acessar as 4 primeiras opções, apenas foi aberta uma janela do navegador com mensagem de erro. Ao tentar a opção “sobre” foi exibida uma janela com dados acerca da versão do programa, mas ao tentar acessar o endereço eletrônico existente nessa página, mas uma vez uma janela do navegador foi aberta e uma mensagem de erro foi exibida. Essa situação está representada na Figura 41.
Figura 41 – Menu ajuda do EPANET.
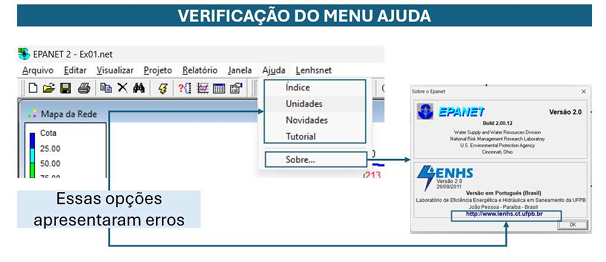
Fonte: (Elaboração própria)
Também não foram verificados textos auxiliares, infográficos, vídeos ou quaisquer elementos na interface que pudessem orientar o usuário sobre a correta operação do programa.
A planilha, por sua vez, também conta com material com orientações acerca da sua utilização. O material que está indicado na Figura 42 é resultado das ações desenvolvidas em âmbito acadêmico por ocasião das atividades de extensão do Grupo de Estudos e Pesquisa em Drenagem Urbana (GEDUR) (Meneses Filho, 2023). Além de instruções sobre a utilização da planilha, compõe o escopo desta publicação um compilado de conceitos e fundamentos teóricos necessários para compreensão do processo de cálculo.
Figura 42 – Manual do usuário da planilha de Meneses Filho.
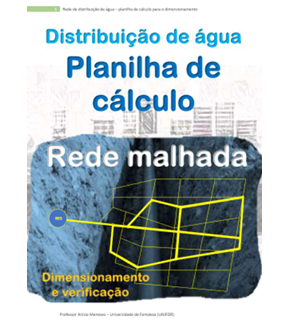
Fonte: Meneses Filho (2023).
Quando analisadas as instruções disponíveis na própria interface da aplicação, alguns pontos podem ser citados. Dentre eles temos o uso da função “comentários” nativa do Excel®, onde algumas instruções são dadas acerca do campo a ser preenchido ao passar o cursor do mouse sobre o título do campo em questão. Também se observou a presença da indicação de unidades de medida, quando oportuno. A Figura 43 ilustra o uso destes instrumentos como forma de facilitar a correta utilização, não sendo observados na interface outros mecanismos de instrução para auxiliar na utilização da planilha, como ilustrações, textos auxiliares etc.
Figura 43 – Demonstração das cores utilizadas no EPANET.
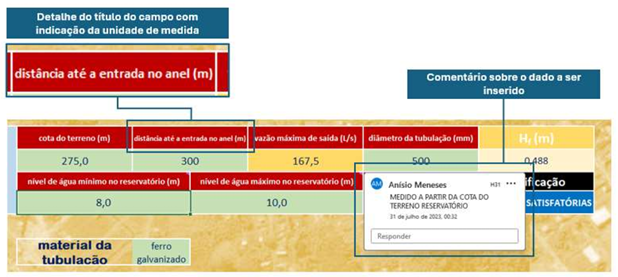
Fonte: (Elaboração própria)
7. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA
Inicia-se esta etapa do trabalho com a ratificação do pensamento que esta pesquisa não conta com o propósito de apontar erros ou indicar falhas, apenas de colaborar de forma propositiva apresentando questionamentos e sugestões. Dessa maneira, espera-se criar um ambiente fértil a produção do conhecimento, de melhorias e de ganhos reais coletivos.
Reafirma-se ainda que o presente trabalho não tem como foco a matemática envolvida no tema, mas sim, a usabilidade da ferramenta aqui analisada. Partindo deste pressuposto, analisou-se a planilha sob os critérios apresentados. Destarte, foram identificadas limitações e restrições da planilha e, uma vez que estas foram elencadas, foi então possível traçar estratégias com intuito de mitigar ou mesmo eliminar essas restrições. Outrossim, é salutar deixar registrada a importância de conhecer as limitações de qualquer ferramenta de forma a oportunizar ao usuário considerá-las durante sua operação. É relevante enfatizar que comparação realizada com outro programa já consolidado no meio técnico permitiu verificar quais características se sobressaem em cada uma das ferramentas, desta maneira melhor avaliar quais as possibilidades de atualização que acarretariam maior diferencial e consequentemente maior atratividade para a utilização da planilha, conduzindo desta forma o presente estudo em direção ao seu objetivo geral de analisar a planilha e propor atualizações.
Diante deste contexto, para além do objetivo proposto inicialmente de analisar e sugerir atualizações à planilha, este trabalho também conseguiu desenvolver a implementação de muitas dessas sugestões. Dessa forma, surge a proposta de uma nova versão desta planilha fundamentada no resultado da análise deste estudo. Assim, aqueles pontos que foram identificados como positivos foram preservados e em alguns casos destacados. Já os pontos onde se notou alguma oportunidade de melhoria, foram implementadas mudanças com o fito reduzir ou superar eventuais limitações ou trazer maior facilidade para o usuário. A seguir estão as principais considerações sobre cada ponto analisado por este estudo. E para cada um deles estão indicados se foram observadas oportunidades de atualizações, quais seriam estas, e por fim quais foram implementadas na nova versão da planilha. Esta apresentação seguirá a mesma sequência critérios de análise, logo partirá discorrendo sobre o processo de aquisição e instalação e seguindo até a análise da documentação e instruções de uso.
Aquisição e instalação: apesar de não haver custo de aquisição da planilha, há necessidade de ter acesso ao programa Excel®. Porém, não demostra ser grande barreira, dado ao uso difundido do referido programa. Em contrapartida, não há necessidade de instalação de nova aplicação de forma a comprometer a capacidade de armazenamento do disco rígido do computador utilizado.
Neste quesito, foi identificado que eventualmente a maior barreira para aquisição e uso da planilha seria a disponibilidade do Excel®. Portanto, não houve em função deste critério alteração na versão original da planilha, pois qualquer ser seja a alteração proposta ou mesmo implementada, estaria ainda condicionada a disponibilidade do Excel®.
Há de se frisar que existem outras opções de programas focados em planilhas eletrônicas, alguns deste oferecidos de forma gratuita, mas que não foi objeto de estudo a compatibilidade desta planilha com estes outros programas.
Estrutura e organização: neste quesito foi verificado que o EPANET e a planilha apresentam significativas diferenças. O EPANET apresentou maior compartimentação dos elementos necessários à sua utilização. Ao passo que a planilha, apesar de criar agrupamentos dos dados informados e dos resultados, estes compartilham do mesmo ambiente no arquivo de forma não tão clara e ordenada. Porém, se faz necessário o acionamento de janelas auxiliares. Assim, com a estrutura da planilha é possível ter mais rapidamente uma visão ampla da rede analisada.
Sob este critério, foram identificadas algumas possibilidades de atualizações. Dentre elas foi o reposicionamento das seções existentes na planilha. Estas novas posições preservaram as tabelas originais, porém se buscou uma disposição mais alinhada com a sequência lógica do processo de cálculo. Na nova versão proposta consta da implementação desta sugestão. Na Figura 44 há um comparativo sobre as versões.
Figura 44 – Demonstração das cores utilizadas no EPANET.
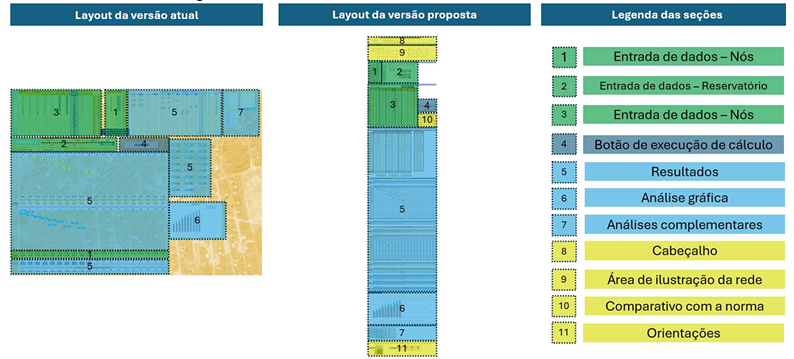
Fonte: (Elaboração própria)
A sequência lógica de inserir dados, executar cálculos e observar resultados é mais bem representada com a disposição proposta. A versão proposta contempla ainda o acréscimo de novas seções: cabeçalho, área de ilustração da rede, quadro comparativo com os parâmetros da indicados NBR 12.218:2017 e Orientações de utilização.
Um fato observável deste formato notoriamente mais verticalizado permite ao usuário navegar pelas seções com maior facilidade, pois na versão original há necessidade maior de utilização das barras de rolagem horizontais e verticais. Na versão aprimorada a barra de rolagem horizontal é significativamente menos utilizada, sendo a navegação em sua maioria realizada por rolagem vertical, que inclusive conta com botão específico para isso em mouses de modelo padrão.
Outra vantagem desta versão é viabilizar a impressão da planilha, de uma forma similar a um relatório, pois a área de impressão está condizente com uma folha padrão A4 (297mm x 210mm) em seu modo paisagem. Inclusive, salienta-se que botão de execução de simulação e a seção de referente as orientações estão ajustados para não figurarem em uma eventual impressão. Um modelo de relatório gerado por essa planilha está disponível no Apêndice A.
Facilidade de uso e clareza: as ferramentas compartilham de semelhanças no processo de modelagem. A maior diferença observada reside na forma de se inserirem os dados. Sob este prisma e com as devidas ressalvas, o presente trabalho considerou que a planilha mostrou maior facilidade de operação e compreensão dos resultados obtidos, quando comparada ao EPANET, dado sua sequência lógica ligeiramente mais concisa.
Sob essa perspectiva, a sugestões de melhoria a apontadas está análise são: o reposicionamento das seções de acordo com a sequência de cálculo, inclusão de uma área dedicada a representação gráfica da rede dimensionada, indicação das etapas necessárias à execução do cálculo, melhor auxílio na análise dos resultados obtidos.
Uma vez elencadas as proposições acima, todas elas foram suplementadas na planilha. A primeira que versa sobre a posição das seções seguindo a lógica de cálculo, foram implementadas já em função da reorganização de layout tratado no tópico de estrutura e organização. No que se diz respeito a inclusão de uma área dedicada à ilustração da gráfica da rede, aproveitou-se da mudança de layout para que inserir uma área exclusiva com finalidade, figurando no topo, onde estará mais próxima da região onde são inseridos os dados da rede, conforme indicado observável como sendo a região 9 da Figura 44.
A sugestão de indicação das etapas necessárias também foi contemplada na nova versão. Além da sequência do layout mais intuitivo, foram acrescentadas orientações no cabeçalho, conforme ilustra a Figura 45 sobre as etapas de cálculo, indicando quais campos devem ser preenchidos e, de forma resumida, a sequência que deve ser adotada para operação da planilha. Também foram incorporados a planilha títulos das seções com sequenciamento numérico, conforme as etapas de cálculo.
Figura 45 – Seção cabeçalho da planilha.
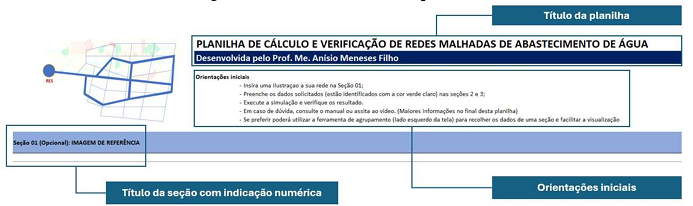
Fonte: (Elaboração própria)
Uma forma de melhor auxiliar o usuário na interpretação dos dados obtidos, foi a implementação da tabela resumo, indicado pela área 10 da Figura 44. Um recorte de tela dessa região, está representada na Figura 46 onde é possível observar 4 colunas. A primeira dedicada a descrever os parâmetros analisados, a segunda indica os valores recomendados ou exigidos pela NBR 12.218/2017, a terceira coluna versa sobre os valores obtidos pela simulação e, por fim, a quarta e última coluna confrontam os valores de norma e calculados, indicando quando houver alguma não conformidade.
Figura 46 – Captura de tela do quadro resumo de verificações.
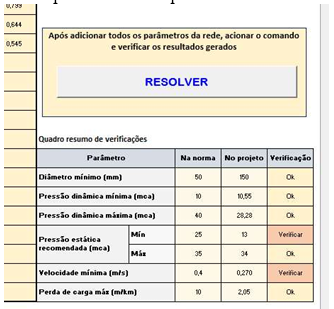
Fonte: (Elaboração própria)
Análise da representação visual: Em ambas as aplicações foram identificados pontos que poderiam de alguma forma ser contemplados com alguma ação de melhoria. Mas, dado que o ponto focal deste estudo está direcionado para a planilha, podemos aqui citar aqueles que se destacaram, pois sob algumas condições poderiam desfavorecer a usabilidade da ferramenta. Foram observados na interface textos com baixa condição de contraste e em outros locais condições que poderiam restringir ou até mesmo inviabilizar o uso da planilha por pessoas portadoras de daltonismo. O estudo ainda considerou que as cores poderiam ser mais bem exploradas de forma mais estratégica e conduzindo o usuário para uma melhor fluidez e experiência.
A sugestão de melhoria que o presente estudo indica para este critério de análise é ajustar as cores para primordialmente evitar alguma barreira de acessibilidade e proporcionar ao usuário maior padronização e facilidade de compreensão e utilização da ferramenta.
Na atualização proposta foram utilizadas algumas das cores da paleta original, mas outras cores acabaram sendo incorporadas, de forma garantir maior contraste, principalmente na região textual. Também foram retiradas as situações de sobreposições da cor verde e vermelho, verificado como possível barreira aos indivíduos portadores de daltonismo. Algumas das mudanças incorporadas na nova versão estão indicadas na Figura 47. Salienta-se que foi preservada a proposta de se utilizar da cor verde para os campos que precisam ser informados para a execução dos cálculos.
Figura 47 – Exemplos de mudanças no padrão de cores.
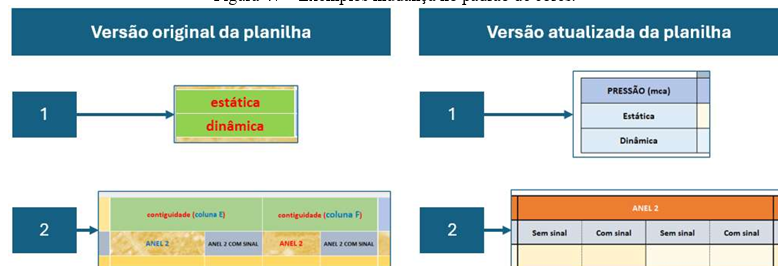
Fonte: (Elaboração própria)
Acesso às fórmulas utilizadas no cálculo: a capacidade de dissecação da planilha proporcionada pelo Excel® constitui grande possibilidade de exploração do processo de cálculo. Fortalecendo o entendimento de que se trata de uma ferramenta com elevada capacidade agregadora no processo de compreensão do dimensionamento e verificação envolvidos na temática aqui abordada.
Neste quesito, não foram identificadas sugestões de atualizações, dado que as ferramentas de exploração das fórmulas já são garantidas pelo Excel®. Porém, há de salientar que na versão original a inserção de ilustrações que exibam as equações utilizadas iria facilitar a compressão do cálculo em si. Esta sugestão se faz pela inexistência da seção de orientações na interface original. Uma vez que na versão proposta já contempla uma seção dedicada a essas orientações, não se vislumbrou a necessidade de inserir as ilustrações em questão.
Verificação dos dados inseridos e tratamento de erros: neste quesito, ambas plataformas contam minimamente com algum grau de controle sobre os dados inseridos. Porém, na planilha percebeu-se que a ferramenta de validação de dados poderia ser mais bem explorada, utilizando-se inclusive de caixas de mensagens para transmitir uma orientação sobre o motivo do impedimento. E assim melhor guiar o usuário durante a operação da ferramenta. O que se constituiria uma vantagem em relação ao EPANET, dado que não foi identificado neste programa esse tipo de estratégia.
Portanto, a sugestão deste trabalho considerando o quesito verificação dos dados é a melhor utilização da ferramenta de validação de dados nativa do Excel®. Sendo possível a aplicação dela em campos como diâmetro vinculado a relação já existente de diâmetros comerciais, extensão do trecho vinculando-o a valores positivos e a seleção dos nós dos trechos vinculando a lista de nós e assim garantindo a vinculação com os nós que já estão cadastrados na rede.
A nova versão conseguiu contemplar essas propostas de atualização, incorporando aos campos nós dos trechos vínculos aos nós já cadastrados. Sendo controlados os valores inseridos no campo extensão do trecho de forma a garantir tratar-se de um valor numérico e positivo. Para o diâmetro foi imposta a condição de ser compatível com os valores previamente cadastrados como comerciais. A Figura 48 apresenta um exemplo de mensagem de erro ao tentar inserir dois exemplos de mensagens exibidas quando tentado inserir valores incompatíveis com o campo. No primeiro exemplo, foi realizada a tentativa de indicar um valor negativo para a extensão do trecho, já no segundo exemplo tem-se a tentativa de inserir um valor de diâmetro comercial, fora dos padrões previamente cadastrados.
A versão aprimorada conseguiu contemplar essas propostas de atualização, incorporando aos campos nós dos trechos vínculos aos nós já cadastrados. Sendo controlados os valores inseridos no campo extensão do trecho de forma a garantir tratar-se de um valor numérico e positivo. Para o diâmetro foi imposta a condição de ser compatível com os valores previamente cadastrados como comerciais.
A Figura 48 apresenta a mensagem de erro ao tentar realizar a tentativa de inserir um diâmetro não comercial ou menor que 50mm. Salienta-se que esse tipo de mensagem de alerta não impede a inserção de um valor diferente dos valores cadastrados, apenas pede uma confirmação ao usuário confirme sua intenção.
Figura 48 – Exemplo de validação de dados no campo diâmetro.

Fonte: (Elaboração própria)
Em outra situação onde há uma tentativa de inserir um valor negativo no campo extensão, uma outra mensagem de erro aparece. Conforme a Figura 49, é possível ver que a caixa de texto apresenta a mensagem “Informe um numérico positivo”. Neste caso se trata de uma mensagem do tipo impeditiva, pois a inserção dos valores negativos poderia acarretar erros no processo de cálculo.
Figura 49 – Exemplo de validação de dados no campo extensão.
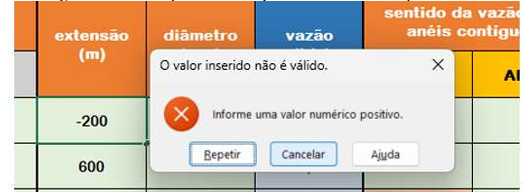
Fonte: (Elaboração própria)
Capacidade de cálculo e de se adaptar: quando considerados condições de maior complexidade o EPANET se mostrou mais efetivo, dado sua maior capacidade simular situações com maior número de elementos envolvidos e maior detalhamento da rede. Dispondo inclusive de elementos, por exemplo, dispositivos de bombeamento e reservatórios de níveis variáveis. A planilha por sua vez, apesar de apresentar limitação na quantidade de nós, de trechos, de reservatório e de material da tubulação, pode ser facilmente ajustada de acordo com a necessidade.
Apesar das limitações da planilha, o estudo identificou que ela cumpre com o que se propõe, sendo a necessidade de adaptação e ampliação da capacidade necessária apenas em casos bem específicos, dado que sua atual capacidade consegue atender a grande parcela dos projetos. E para aqueles que demandarem maior capacidade de cálculo, deverá ser analisado a viabilidade de uso de adaptação da planilha para o caso específico.
A planilha na sua versão original permite a utilização de um único material para toda a rede. Para exemplificar a capacidade de adaptação da planilha, foram feitos ajustes de forma a oportunizar ao usuário indicar um material para cada trecho.
Para viabilizar essa funcionalidade além do campo “Material padrão para a tubulação”, foram acrescentadas duas colunas na seção dos trechos. Na primeira coluna acrescentada, o usuário poderá opcionalmente indicar um material diferente do informado no campo “material padrão para a tubulação”. Caso informe, na segunda coluna acrescentada será indicado o coeficiente de rugosidade “C” referente ao material informado. Se o usuário optar por não indicar outro material par ao trecho, a planilha considerará o valor do referente ao material padrão informado.
Outra coluna também foi inserida na seção dos trechos, esta, por sua vez, versa sobre velocidade calculada da água nos respectivos trechos. A Figura 50 traz um recorte de tela com a indicação dessas novas informações. Assim, demonstra-se a possibilidade de ajuste a necessidade, ao passo que se ganha novas funcionalidades na nova versão.
Figura 50 – Colunas para indicar os materiais da tubulação e velocidade de cada trecho
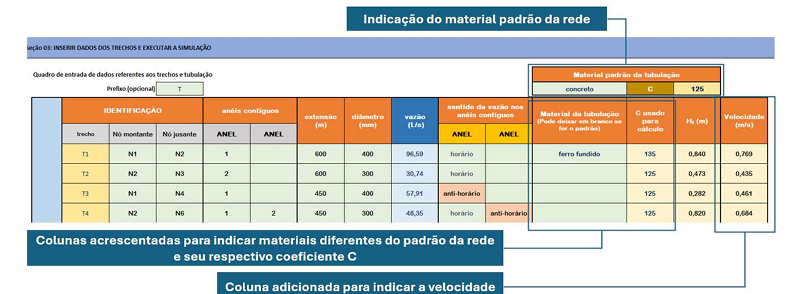
Fonte: (Elaboração própria)
Documentação e instruções de operação: foi observado por este estudo que as duas ferramentas contam com material de apoio. Naturalmente o EPANET, por se tratar de uma aplicação já consolidada no meio técnico, conta com maior disponibilidade de material.
Contudo, há de se pontuar que a planilha também apresenta manual de instruções que facilita o processo de entendimento da dinâmica de sua utilização.
Não obstante, a presente pesquisa observou ainda a possibilidade de uma melhor exploração de ferramentas de ajuda na própria interface da aplicação, de forma garantir um acesso mais rápido e direto ao usuário. A inserção de ilustrações contendo a representação do que se está sendo solicitado, fórmulas utilizadas e orientações da sequência de cálculo, são exemplos de melhorias que podem ser implementadas na versão original da planilha.
A nova versão também apresentou avanços nesse sentido. Além de incluir a indicação da sequência de cálculo nas orientações iniciais existente no cabeçalho e de incluir orientações sobre a correta forma de utilização da planilha, conforme já citado anteriormente, outros ganhos foram implementados. Destaca-se nesse sentido a implementação da seção ajuda representado pela numeração 11 no quadro comparativo de layout apresentado na Figura 44.
Esta nova seção, representada no recorte de tela constante na Figura 51, contempla basicamente dois elementos de auxílio. Sendo o primeiro um atalho que ao clicar neste o usuário é direcionado para uma outra planilha dentro da mesma pasta de trabalho em que consta o manual de utilização da planilha de cálculo e verificação.
Figura 51 – Detalhamento da seção ajuda.

Fonte: (Elaboração própria)
Ainda é possível acessar esse material por meio da guia Manual. Uma vez acessando esse material, conforme é observável no recorte de tela apresentado na Figura 52, o usuário poderá acionar os botões que o levarão ao início do material, onde há maior foco em conceitos teóricos e/ou optar por ir para a parte do manual mais focado a utilização da planilha em si.
Figura 52 – Recorte de tela do menu manual.
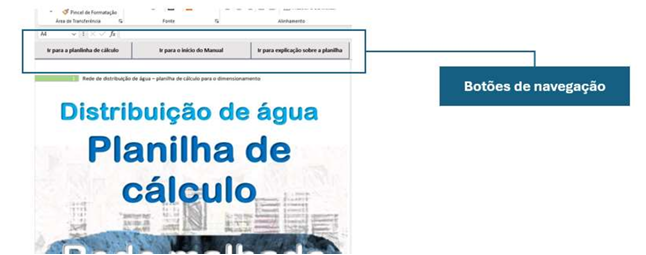
Fonte: (Elaboração própria)
O segundo elemento que foi inserido na seção de ajuda é um grupo de atalhos que seguem para o vídeo disponível na internet, produzido pelo Prof. Me. Anísio de Sousa Meneses Filho, onde ele desenvolve um exemplo e orienta sobre a utilização da planilha. Na planilha foram colocados mais de um atalho para o mesmo vídeo, pois foi oportunizado ao usuário a opção de ir direto aos pontos chaves de preenchimento da planilha. Para exemplificar, o usuário que desejar maior orientação sobre a forma correta de preencher os dados do reservatório poderá clicar no atalho indicado como “DADOS DO RESERVATÓRIO” e então será direcionado exatamente para o momento do vídeo em que o professor está abordando o assunto.
Com as implementações desta seção de ajuda poderá o usuário ter mais ferramentas de auxílio, mas uma consideração deve ser feita. Os materiais disponibilizados foram produzidos de forma direcionada a versão original, portanto é importante considerar essa condição na sua utilização e sugere-se ainda a atualização do referido material.
Atualizações complementares: apesar de o presente estudo ser focado na análise da planilha e a ação de implementação destas alterações foram realizadas de forma complementar a esta pesquisa, é relevante também a abordagem de outras funcionalidades acrescidas na versão proposta. Assim deixam-se registradas essas alterações que, por sua vez, poderão subsidiar o trabalho daqueles que tenham a pretensão de utilizá-la. Dentre elas:
Espaço reservado a utilização de uma logomarca no cabeçalho: apesar de não ter reflexo direto no cálculo, mas poderá ser utilizado quando necessária a utilização para impressão de um relatório mais personalizado. O espaço em questão está indicado na Figura 53.
Figura 53 – Demonstração das cores utilizadas no EPANET.
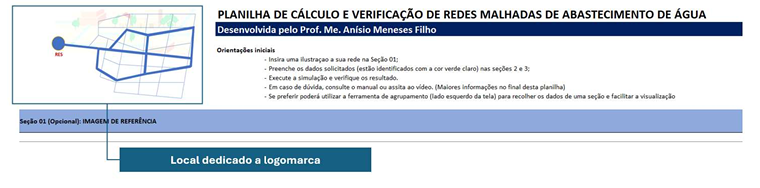
Fonte: (Elaboração própria)
Opção de acréscimo de prefixo a nomenclatura do nós e dos trechos: foram adicionados campos opcionais ao usuário, onde é possível indicar alguma expressão, letra ou qualquer elemento textual que sirva de prefixo para a nomenclatura do respectivo elemento. Assim, é reduzida a chance de haver uma má interpretação dos dados ao realizar a leitura dos resultados. Pois, na versão original, tem-se o nó 1 e há o trecho 1, logo o usuário poderá em algum momento não ter a rápida compreensão se a informação lida é referente ao nó 1 ou ao trecho 1.
Essa condição poderá ser mais comum com aqueles que estão em processo de aprendizado e ainda não detém familiaridade com esses elementos. Portanto, como forma de se antecipar a esse problema foi implementada a funcionalidade aqui indicada cujo recorte de tela apresentado na Figura 54 indica sua existência na planilha.
Figura 54 – Indicação dos campos prefixos.
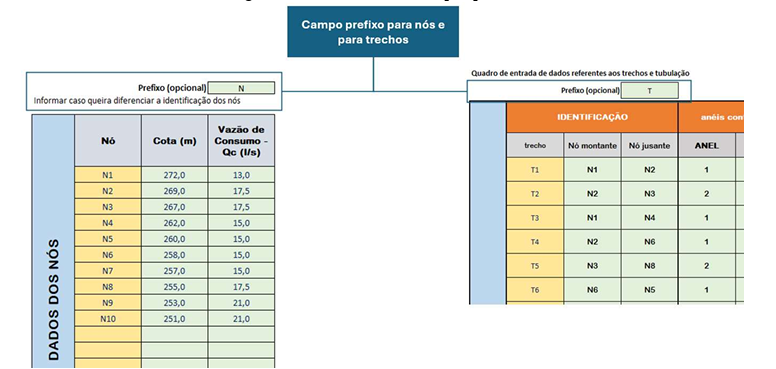
Fonte: (Elaboração própria)
Agrupamento de linhas: em função da condição mais verticalizada da versão aprimorada, entendeu-se como propositivo a utilização da ferramenta de agrupamento nativa no Excel® de forma a tornar possível o recolhimento de seções que não estão sendo objetos de análise naquele momento.
Para exemplificar, quando necessário realizar o preenchimento dos dados dos trechos, há a presunção de que os dados referentes ao reservatório e aos nós já foram preenchidos. Nesta situação o recolhimento da “Seção 02” que versa sobre os dados já informados poderá facilitar a visualização da representação gráfica da rede, sem a necessidade de deslocar a imagem ao longo da planilha. Esse exemplo indicado está demonstrado na captura de tela ilustrada na Figura 55, onde nota-se que a “Seção 02” está recolhida e é possível contemplar a representação gráfica da rede enquanto se preenche os dados dos trechos. Para habilitar os recursos basta acionar os botões com sinais de “menos” (-) e “mais” (+) para agrupar e desagrupar, respectivamente.
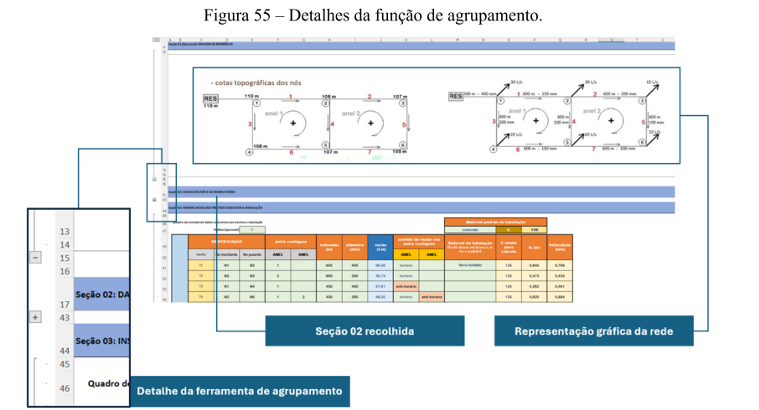
Fonte: (Elaboração própria)
Por fim, estas foram as sugestões de melhoria apresentadas pelo presente estudo e as atualizações, que de forma complementar, foram implementadas e que geraram uma nova versão da planilha analisada. O acesso a planilha pode ser feito por meio do endereço eletrônico. (https://drive.google.com/drive/folders/1QvomK2nB-_gyUbG8shuMXtjQjcF8wgEp) ou pela leitura do QRCode indicado na Figura 56.
Figura 56 – QRCode com o endereço eletrônico de acesso a nova versão da planilha.

Fonte: (Elaboração própria)
8. VERIFICAÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS
A validação da planilha estudada por este trabalho foi realizada por meio de uma comparação com o programa de referência, EPANET. Onde foram executados dimensionamentos de exemplos indicados por Porto (2006) e Dacach (1975). Estes dimensionamentos foram realizados no EPANET, na Planilha em sua versão original, bem como na versão aprimorada proposta por este trabalho.
Salienta-se que a proposta deste tópico de verificação de resultados não consiste em verificar se os valores estão atendem as NBR 12.218/2017, mas sim compará-los com os resultados obtidos por um programa especializado em cálculos hidráulicos e de uso já consolidado por profissionais da área.
O primeiro caso simulado é uma adaptação de uma rede apresentada por Porto (2006), cuja representação encontra-se na Figura 57. Trata-se de uma rede composta por 4 nós, 5 trechos e 1 reservatório de volume fixo. Os trechos estão dispostos de maneira a formar um único anel.
Figura 57 – Rede malhada do exemplo 1.
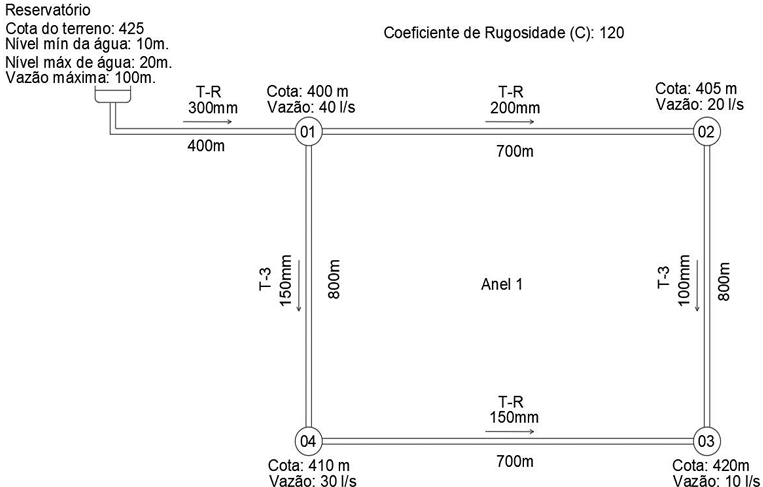
Fonte: Adaptado de Porto (2006)
Após realização da simulação, os resultados obtidos para os valores de pressão nos nós estão indicados na Tabela 1.
Tabela 1- Valores de pressão nos nós do exemplo 1.
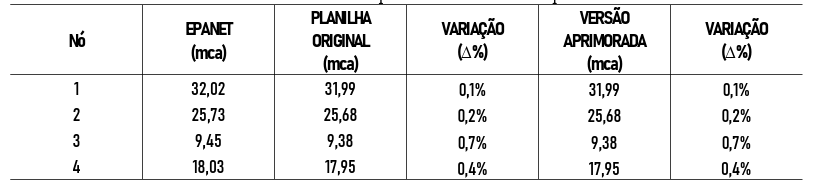
Fonte: (Elaboração própria)
Na análise dos resultados obtidos referente aos trechos da rede, foram analisados os valores indicados para vazão, velocidade e perda de carga. Contudo, é importante destacar que a planilha em sua versão original não apresenta esses resultados. A Tabela 2 apresenta uma comparação dos resultados obtidos no EPANET e dos resultados obtidos na planilha em sua versão original. A Tabela 3, por sua vez, apresenta os resultados obtidos no EPANET e na versão aprimorada proposta por este trabalho.
Tabela 2- Comparação dos trechos EPANET e Planilha na versão original no exemplo 1.
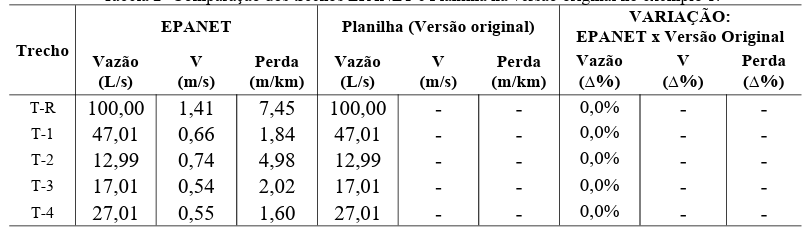
Tabela 3- Comparação dos trechos EPANET e Planilha na versão proposta no exemplo 1.
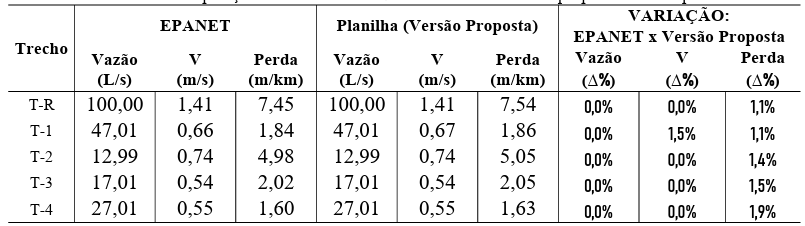
Nota-se que os valores obtidos para as vazões de cada trecho em ambas as versões da planilha foram exatamente os mesmos obtidos pelo EPANET. Para os campos velocidade e perdas de carga, foram variações na ordem de centésimos.
O segundo exemplo simulado também se trata de uma adaptação de uma rede apresentada por Porto (2006), cuja representação encontra-se na Figura 58. Trata-se de uma rede com maior nível maior de complexidade que a anterior. A rede é basicamente composta por 7 nós, ao longo de 9 trechos e 1 reservatório de volume fixo. Os elementos da rede estão dispostos de maneira a formar dois anéis
Figura 58 – Rede malhada do exemplo 2.
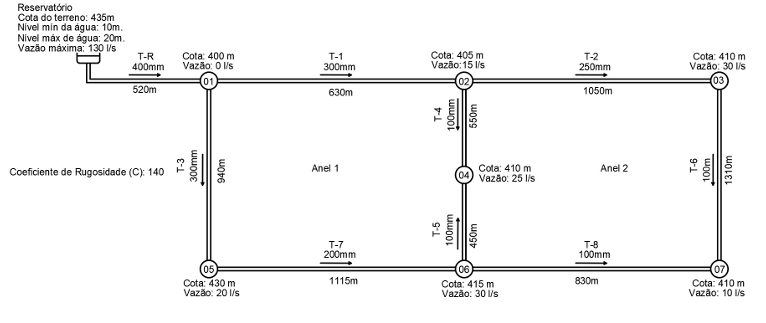
Fonte: Adaptado de Porto (2006)
Na segunda simulação os valores obtidos para pressão dos nós estão indicados na Tabela 4, bem como a análise da variação existente entre os resultados das planilhas e do programa de referência.
Tabela 4- Valores de pressão nos nós do exemplo 2.

Fonte: (Elaboração própria)
A comparação dos dados referentes as vazões, velocidades e perdas de cargas dos trechos do segundo exemplo obtidos pelo EPANET e pelas planilhas estão indicados nas Tabelas 5 e Tabela 6.
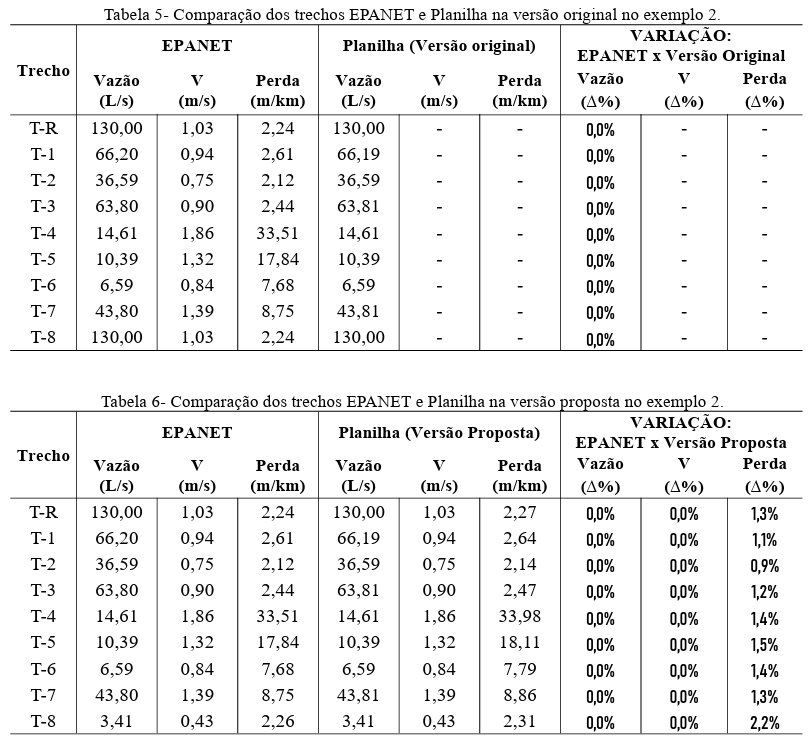
Nota-se que os valores obtidos para as vazões de cada trecho em ambas as versões da planilha foram praticamente os mesmos obtidos pelo EPANET, ficando a maior diferença registrada na ordem de 0,01 L/s, portanto uma variação inferior a 0,1%.
Para os campos velocidade e perdas de carga, foram variações um pouco maiores que na primeira simulação. A maior variação absoluta observada neste exemplo foi referente a perda de carga do Trecho 4 com o valor de 0,47 m/km o que representa uma variação de 1,5%.
O terceiro e último exemplo simulado por este estudo é uma adaptação do caso apresentado por Dacach (1975), onde foi tratado do dimensionamento da rede de abastecimento de água da cidade de Itororó no Estado da Bahia.
Trata-se de uma rede de maior complexidade quando comparada às redes dos exemplos anteriores. Basicamente composta por 17 nós, ao longo de 20 trechos e 1 reservatório de volume fixo. Os elementos da rede estão distribuídos de maneira a formar 3 anéis, conforme está representado na Figura 59.
Figura 59 – Rede malhada do exemplo 3.
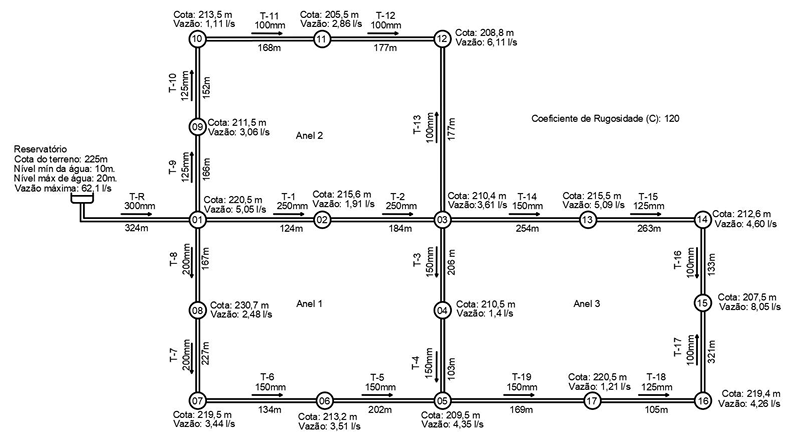
Fonte: Adaptado de Dacach (1975)
Os dados foram inseridos no EPANET e executada a simulação sem mensagens de erro. No momento seguinte foram inseridos os dados da mesma rede nas planilhas analisadas. E mais uma vez a execução do dimensionamento ocorreu sem indicativos de erros.
Os valores que cada ferramenta apresentou para as pressões estimadas nos nós da rede, estão elencados na Tabela 7. Desta forma, foi possível calcular a diferença ou variação numérica entre estes valores. Portanto, viabilizou-se uma comparação, onde variações menores implicam em maior grau de similaridade entre os resultados.
Tabela 7- Valores de pressão nos nós do exemplo 3.
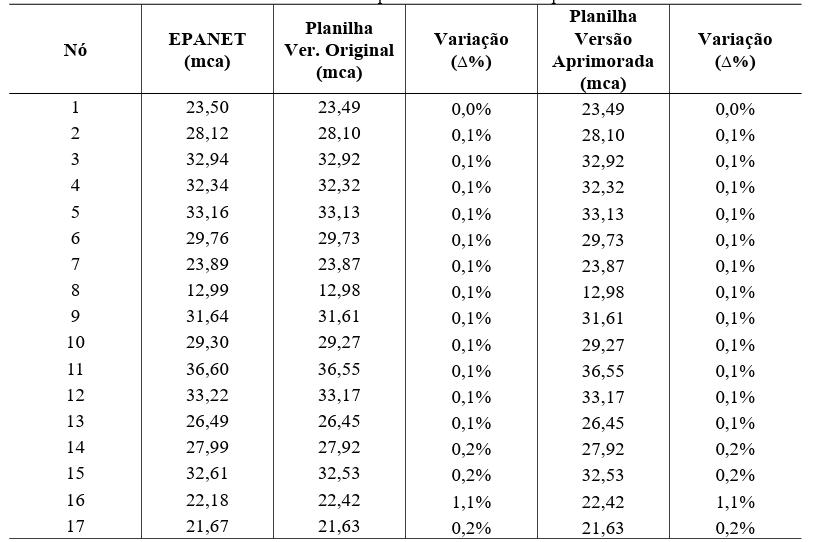
Fonte: (Elaboração própria)
Mais uma vez os valores apresentados pela planilha na versão original e versão proposta aprimorada são exatamente os mesmos, indicando que as alterações realizadas para atualização não causaram alteração nos valores dos resultados. E quando comparados os valores das planilhas com os obtidos pelo EPANET se percebe grande similaridade, sendo a maior diferença absoluta nesta comparação o valor de 0,24mca referente ao nó 16, portanto uma diferença relativa de 1,1%.
A comparação dos dados referentes às vazões, velocidades e perdas de cargas dos trechos deste terceiro exemplo obtidos pelo EPANET e pelas planilhas estão indicados nas Tabelas 8 e Tabela 6.
Tabela 8- Comparação dos trechos EPANET e Planilha na versão original no exemplo 3. (continua)
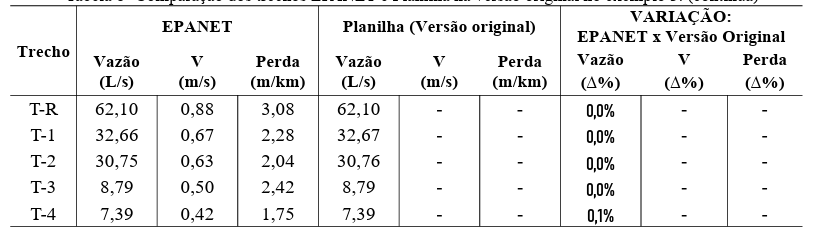
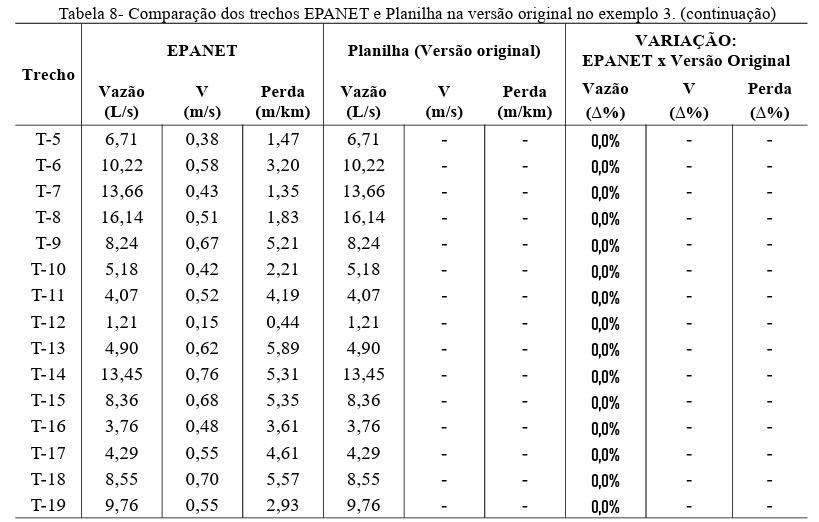
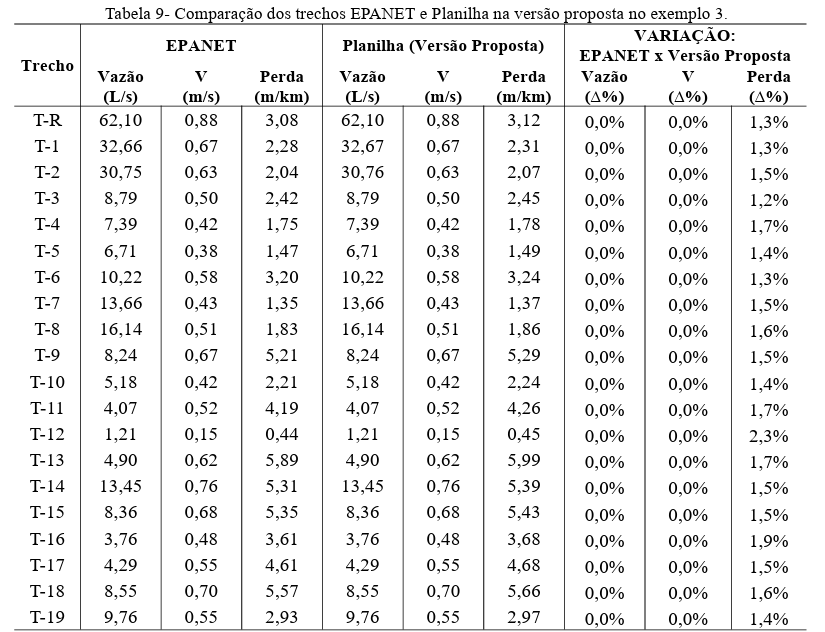
Nota-se que os valores obtidos para as vazões de cada trecho em ambas as versões da planilha foram praticamente os mesmos obtidos pelo EPANET, ficando a maior diferença registrada na ordem de 0,01 L/s e que representa uma variação relativa inferior a 0,1%
Para os campos velocidade e perdas de carga, foram variações um pouco maiores que na primeira simulação. A maior variação absoluta observada no exemplo 1 foi referente a perda de carga do Trecho 13 com o valor de 0,10 m/km, portanto uma variação relativa de 1,7%.
As capturas de tela contendo os resultados do EPANET para o exemplo 1, para o exemplo 2 e para o exemplo 3, estão apresentados respectivamente no APÊNDICE B, no APÊNDICE D e no APÊNDICE F deste trabalho. Quanto aos resultados da planilha, considerando que ambas as versões, original e aprimorada, apresentaram os mesmos resultados, foram gerados relatórios de cada um dos exemplos analisados se utilizando apenas da versão aprimorada. Sendo o relatório do exemplo 1, do exemplo 2 e do exemplo 3 apresentados respectivamente no APÊNDICE A, no APÊNDICE C e no APÊNDICE E.
Como observado nos 3 exemplos analisados, os resultados obtidos foram condizentes com os valores apresentados no EPANET. Muitos foram exatamente os mesmos, outros sofreram variações na ordem dos décimos ou centésimos de unidade. Vale salientar que o resultado é um valor numérico advindo de processo de cálculo é iterativo, logo eventuais arredondamentos considerados pelo algoritmo podem influenciar nos valores entregues pelas respectivas ferramentas.
A captura de tela contendo os resultados do EPANET é apresentada no APÊNDICE B deste trabalho. Quanto aos resultados da planilha, dado que a planilha em sua versão original e a versão aprimorada apresentaram os mesmos valores, foi gerado um relatório, que por sua vez se encontra representado no APÊNDICE A.
9. CONCLUSÃO
O desenvolvimento social passa pela relação da sociedade com o uso de recursos hídricos e ao longo da história confirmou-se essa condição. Porém, apesar da antiga relação o assunto recursos hídricos ainda é constantemente objeto de debates.
Em geral, as discussões ocorrem em função da necessidade de buscar meios mais efetivos de utilização destes recursos que sabidamente são limitados. Essa condição despertou na sociedade o sentimento de necessidade de cuidar deste bem tão precioso. Em função disso surgem normas e legislações diversas que versam sobre o tema, com objetivo de cumprir com essa função social.
Em meio a esse contexto, foi identificada a importância de proporcionar aos profissionais que atuam diretamente com projetos que envolvem a utilização de recursos hídricos ferramentas que os auxiliem em suas atividades, bem como auxiliem inclusive no processo de formação destes profissionais. Uma vez desenvolvida tal ferramenta se faz necessária a avaliação desta, a fim de verificar suas restrições e limitações. Desta forma poder contribuir para o processo de evolução.
É nesse contexto que se abrigou a justificativa deste trabalho, e partindo para análise da planilha eletrônica utilizada como ferramenta de dimensionamento de redes malhadas de abastecimento de água. Essa condição ficou demonstrada no objetivo geral desta pesquisa, onde se propôs a analisar a planilha desenvolvida pelo Prof. Me. Anísio de Sousa Meneses Filho. A planilha foi analisada sob diversos critérios relacionados a usabilidade da referida aplicação, bem como a validação dos resultados apresentados.
Dos testes realizados e resultados apresentados concluiu-se que a ferramenta consegue cumprir com o propósito primário para o qual foi desenvolvida. Sendo efetiva e de fácil compreensão no processo de execução dos cálculos. Porém, outras questões que foram identificados pontos que poderiam ser objeto de atualização. Dentre os pontos apresentados no capítulo 5 deste trabalho, é possível destacar alguns deles:
• A necessidade de reposicionar alguns elementos da interface, para se obter maior fluidez na utilização da planilha;
• Maior facilidade de acesso a elementos que auxiliem ao entendimento do funcionamento da planilha e da execução do cálculo em si;
• Uso mais estratégico das cores, inclusive se antecipando a problemas de acessibilidade;
• Melhor explorar o uso de ferramentas nativas do Excel®.
No capítulo 5 também foram apresentados pontos bem positivos identificados por esta pesquisa, principalmente quando se considera a utilização desta ferramenta em meio acadêmico no processo de formação de profissionais de engenharia. Dos pontos observados destacam-se:
• A não existência de custo direto de aquisição;
• Está baseada em uma plataforma já bastante consolidado e disseminada entre os usuários de computadores que é o Excel®;
• O acesso direto e rápido as funções utilizadas para cálculo;
• A disponibilidade de Manual de Instruções, bem como conteúdo em vídeo demonstrando sua utilização.
• Capacidade de ser ajustada e de se adaptar a diferentes situações;
• Os resultados apresentados levam em consideração critérios da Norma NBR 12218/2017.
Foram realizadas algumas alterações na versão original do arquivo disponibilizado. E, conforme demonstrado também no Capítulo 7 deste trabalho, grande parte das sugestões já foram implementadas, ao passo que os pontos identificados como positivos foram preservados, dando origem a uma versão aprimorada da planilha. No Capítulo 7 também foram apresentadas as alterações em maior grau de detalhes, bem como indicado no final do referido capítulo o endereço eletrônico para acesso a uma cópia digital do arquivo contendo a nova versão proposta.
Também foi realizada uma análise relacionada ao nível de precisão dos resultados obtidos. Para isso foram simulados três exemplos. Os resultados obtidos por meio do EPANET, que neste caso foi o programa de referência, foram comparados com os resultados obtidos pelas planilhas analisadas. Da análise dos resultados obtidos não foram identificadas diferenças entre os resultados entregues pela versão original da planilha e os resultados entregues pela versão aprimorada proposta por este estudo. Esta igualdade entre os resultados de ambas as versões da planilha decorre do fato de que as atualizações implementadas se concentraram nos aspectos visuais e de formatação.
Quanto à precisão dos resultados obtidos, foram observados grande nível de similaridade quando comparados os resultados apresentados pelo EPANET e pela planilha de Meneses Filho. Em muitos casos, foram observados valores exatamente iguais.
Como demonstrado, a planilha analisada é de fato uma ferramenta que com potencial de auxiliar profissionais e estudantes de engenharia, pois apresenta boa simplicidade no processo de utilização e entrega resultados satisfatórios.
Como recomendações para trabalhos futuros se indicam uma melhor exploração de situações diferentes das que foram abordadas neste trabalho, a verificação de viabilidade de implementação de outros elementos como bombas, válvulas na rede etc.
Também podem ser objetos de estudos futuros as funcionalidades relacionadas a questão de custos, bem com a implementação de uso de coordenadas geográficas como forma de trazer maior realismo para rede, ao passo que se provoque integração entre disciplinas, gerando assim uma ferramenta que crie um ambiente acadêmico mais integrado e fomentando nos discentes uma visão mais ampla de projeto.
10. REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12218:2017: Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público — Procedimento. Rio de Janeiro, p. 23. 2017.
AZEVEDO NETTO, J. M.; FERNANDEZ, M. F.; ARAUJO, R.; ITO, A. E. Manual de hidráulica. 8. ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 1998.
BAPTISTA, Márcio; CARDOSO, Adriana. Rios e Cidades: uma longa e sinuosa história. Revista UFMG, Belo Horizonte, v. 20, n. 2, p. 124-153, jul/dez 2013.
BOËCHAT, Iola Gonçalves; ROCHA, Leonardo Cristian; PINTO-COELHO, Ricardo Motta; GÜCKER, Björn. Crise da Água no Brasil. Caderno de Geografia, [S.L.], v. 31, n. 1, p. 1, 8 fev. 2021. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-2962.2021v31nesp1p1.
BRAGA, Caio. Acessibilidade: o impacto das cores. [S. l.], 16 jun. 2015. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/acessibilidade-o-impacto-das-cores-bfc0d60420db. Acesso em: 20 abr. 2024.
BRASIL. Decreto legislativo nº 6 de 20 de março de 2020. Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 mar 2020. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DLG&numero=6&ano=2020&ato=b1fAzZU5EMZpWT794. Acesso em: 06 de maio de 2024.
BRASIL. Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA e Política Nacional de Recursos Hídricos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 jul. 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9984.htm. Acesso em: 06 de julho de 2023.
CERUTTI, Kaio. A Importância da documentação no desenvolvimento de software: melhores práticas e dicas úteis. [S. l.], 23 out. 2023. Disponível em: https://www.dio.me/articles/a-importancia-da-documentacao-no-desenvolvimento-desoftware-melhores-praticas-e-dicas-uteis. Acesso em: 10 abr. 2024.
DACACH, Nelson Gandur. Sistemas urbanos de água. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1975. 396 p.
DIBERTO, Victor. O uso das cores em interfaces: como as cores podem influenciar a experiência do usuário. [S. l.], 19 fev. 2023. Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/ouso-das-cores-em-interfaces-como-podem-do-usu%C3%A1rio-victor-diberto. Acesso em: 23 abr. 2024.
DIUANA, F. A.; OGAWA, S. C. C. P. Análise Comparativa dos Modelos Hidráulicos EPANET, Watercad e Sistema UFC para Sistemas de Abastecimento de Água – Rede de Distribuição. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 134 p., 2015. Disponível em: http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10013745.pdf. Acesso em 2 nov. 2023.
FORMIGA, Klebber Teodomiro Martins; CHAUDHRY, Fazal Hussain. Modelos de análise hidráulica de redes de distribuição de água considerando demanda dirigida pela pressão e vazamentos. Engenharia Sanitaria e Ambiental, [S.L.], v. 13, n. 2, p. 153-162, jun. 2008. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1413-41522008000200005.
GARVÃO, R. F.; BAIA, S. A. L. N. Legislação ambiental: um histórico de desafios e conquistas para as políticas públicas brasileiras. Nova Revista Amazônica, v. 6, n. 2, jun. 2018.
GOMES, H. P. Sistemas de Abastecimento de Água: Dimensionamento Econômico e Operação de Redes Elevatórias. 2a Edição. Editora Universitária / UFPB, 2004.
GOVERNO FEDERAL (Brasil). Serviço de informações do Brasil. OMS classifica coronavírus como pandemia. Brasília, 10 jan. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/ptbr/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/03/oms-classifica-coronavirus-como-pandemia. Acesso em: 16 maio 2024.
GRAFF, Neimar Marciel. Análise e dimensionamento de uma rede de abastecimento de água existente em uma localidade rural do município de Arroio do Meio – RS visando sua otimização operacional. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). Universidade Vale do Taquari, Lajeado, 2019.
KELLNER, Erich. Introdução ao EPANET: Simulação e dimensionamento de sistemas de abastecimento de água – UFSCar/CPOI, São Carlos, 2022. 186 p.
LEITE, Carlos Henrique Pereira; MOITA NETO, José Machado; BEZERRA, Ana Keuly Luz. Novo marco legal do saneamento básico: alterações e perspectivas. Engenharia Sanitária e Ambiental, [S.L.], v. 27, n. 5, p. 1041-1047, out. 2022. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1413-415220210311.
MENESES FILHO, Anísio de Sousa. Manual de utilização da planilha de cálculo para o dimensionamento e verificação de rede de distribuição de água (configuração em anéis). Unifor. Fortaleza, 2023. 40p.
MINISTÉRIO DAS CIDADES (Brasil). Abastecimento de água. BRASIL, [2023]. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/ saneamento/snis/painel/ab. Acesso em: 15 maio 2024.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (Brasil). Secretaria Nacional de Saneamento. Do SNIS ao SINISA: Informações para o planejar o saneamento básico. Brasília-DF, dezembro 2022. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-ainformacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/cadernos-tematicos/ DO_SNIS_AO_SINISA_SANEAMENTO_BASICO_SNIS_2022.pdf. Acesso em: 15 maio 2024.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão Populacional. A velocidade da urbanização ao redor do mundo (tradução nossa), 2018a. Disponível em: https://population.un.org/wup/publications/Files/WUP2018PopFacts_2018-1.pdf. Acesso em: 12 nov. 2023.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão Populacional. Perspectiva de urbanização mundial: A revisão de 2018 (tradução nossa). [S. l.], 2018b. Disponível em: https://population.un.org/wup/Download/Files/WUP2018-F21-Proportion_Urban_Annual.xls. Acesso em: 23 out. 2023a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Organização Pan-americana de saúde. OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia. [S. l.], 11 mar. 2020. Disponível em: https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19pandemic. Acesso em: 16 maio 2024.
PADOVANI, Luiz Gustavo. Dimensionamento de redes de distribuição de água utilizando algoritmos genéticos multiobjetivo. Monografia (Bacharelado em Engenharia Ambiental). Universidade de Brasília – UnB, Brasília, 2019.
PADOVANI, Luiz Gustavo. Dimensionamento de redes de distribuição de água utilizando algoritmos genéticos multiobjetivo. Monografia (Bacharelado em Engenharia Ambiental). Universidade de Brasília – UnB, Brasília, 2019.
PIESSE, M. As tendências globais de oferta e demanda de água apontam para um aumento da insegurança hídrica. Austrália, Future Directions International, Austrália, 2020.
PINTO, Victor Hugo Miranda. O papel da documentação no desenvolvimento de softwares open source: uma análise e um estudo de caso. Orientador: Prof. Dr. Alfredo Goldman vel Lejbman. 2021. 59 p. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
PORTO, Rodrigo de Melo. Hidráulica Básica. 4. ed. São Carlos: EESC/ USP, 2006.
REYNOSO, A. E. G. et al. Resgate de rios urbanos: propostas conceituais e metodológicas para a restauração e reabilitação de rios. (tradução própria). Universidad Nacional Autónoma de México, 2010. 109p.
RICHTER, C. A.; AZEVEDO NETTO, J. M. d. A. Tratamento de água: tecnologia atualizada. 1 ed. São Paulo – SP: 1991.
ROSSMAN, Lewis E. EPANET 2.0 Manual do Usuário. Tradução Heber Pimentel Gomes; Moisés Menezes Salvino. [João Pessoa]: LENHS/UFPB, 2009.
SANTOS, F. F. S. et al. O desenvolvimento do saneamento básico no Brasil e as consequências para a saúde pública. Revista Brasileira de Meio Ambiente, v. 4, n. 1, p. 241251, 2018.
SANTOS, J. M. S.; FERREIRA, B. S; CARVLAHO NETO, O. F; SOUSA, E. S; SAMPAIO;
P. R. P. Comparativo entre o Excel e Calc e seus impactos na disciplina de Soluções de Problemas por Aproximação. In: INICIAÇÃO A DOCÊNCIA, XXIII, Anais eletrônicos. Fortaleza, 2023.
SOUSA, Ana Cristina A. de; COSTA, Nilson do Rosário. Política de saneamento básico no Brasil: discussão de uma trajetória. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.23, n.3, jul.-set. 2016, p.615-634.
TSUTIYA, Milton Tomoyuki. Abastecimento de água. 3.ed. São Paulo: Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006.
